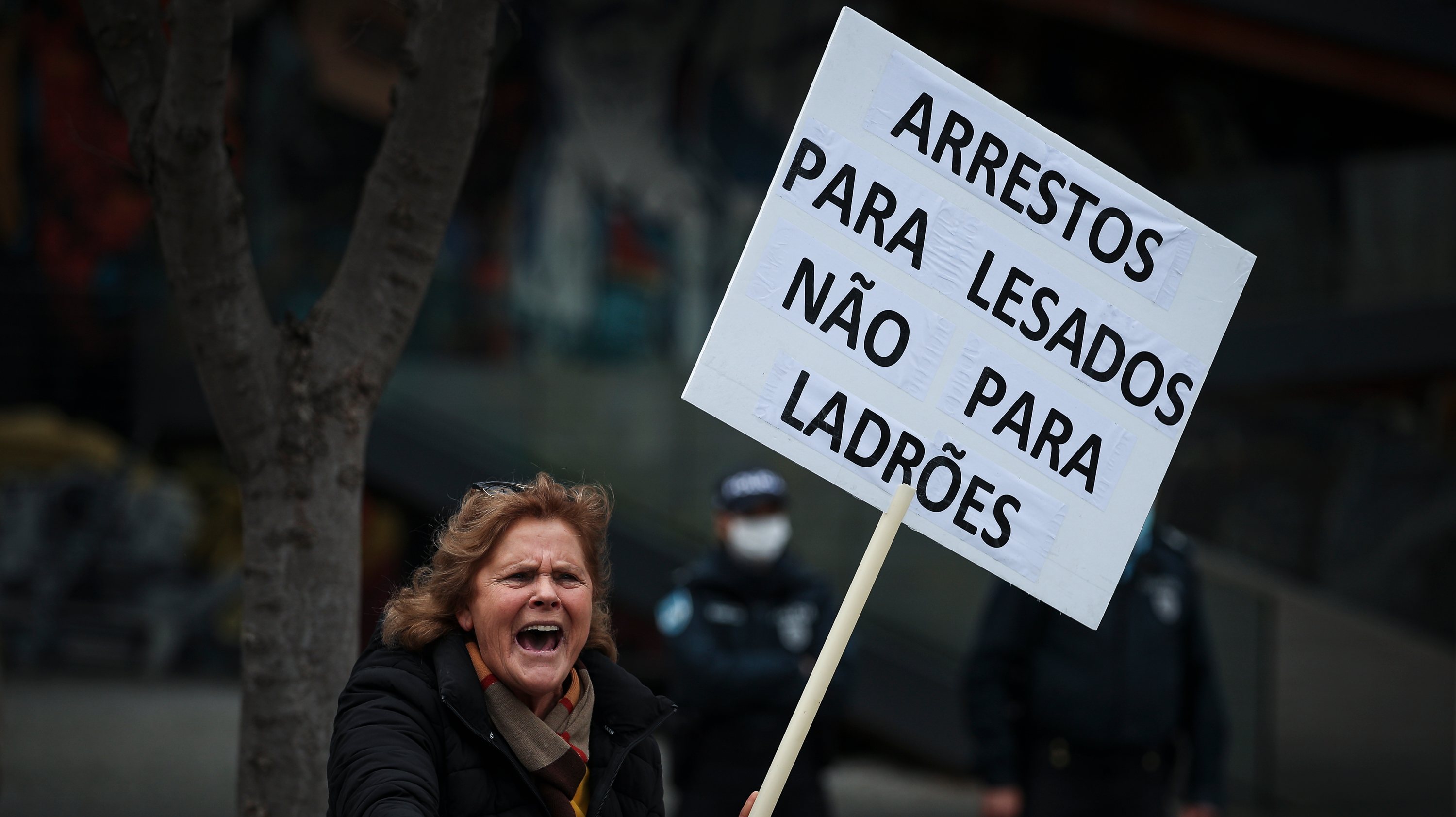No aclamado Homo Deus, o historiador israelita Yuval Noah Harari adverte, com a sua clareza muito própria, que «a mão do mercado não é apenas invisível, também é cega». A ideia por detrás desta afirmação é a mesma que serve, genericamente, vários discursos anticapitalistas e cujo argumento pode ser destilado numa formulação simples: as forças dos mercados — a tal mão invisível com que Adam Smith descreveu a forma como um mercado livre tende a regular-se a si mesmo — zelam pelos interesses dos próprios mercados, não pelos interesses do ser humano. O mercado autorregulado, sublinha Harari, «pode revelar-se incapaz de fazer o que quer que seja em relação à ameaça do aquecimento global ou ao potencial perigoso da inteligência artificial». Como sabemos, uma fábrica poluente rende mais aos seus accionistas se estiver a laborar. E ainda mais se puder operar autonomamente, sem necessidade de seres humanos de carne e osso na engrenagem.
Tal visão é, claro, preocupante. E embora seja difícil conceber uma democracia sem um qualquer tipo de sistema capitalista a suportá-la, é uma questão que não deve ser ignorada. Os exemplos de que Harari se serve — a ameaça ecológica e a ameaça tecnológica — são apenas duas preocupações de um rol que pode ser extenso, mas são, todavia, bastante esclarecedores quanto ao embate mercado-vs-humano. É verdade que só podemos ainda especular quanto às consequências mais extremas do desenvolvimento de inteligências sobre-humanas. Porém, a espiral descendente desenhada pelo contínuo desrespeito pelo planeta será, certamente, o caminho para a nossa própria extinção. E isso leva-nos, no mínimo, a um paradoxo evidente: sem humanos não há mercados. «A mão do mercado não é apenas invisível, também é cega». Ao que parece, talvez potencialmente nefasta até.
O papel das marcas entre a economia e a sociedade
Talvez por defeito de profissão, não consigo evitar olhar estas questões pela lente das marcas, que são, acredito, um dos elos de ligação mais tangíveis entre a economia teórica e a vida real.
Trabalhar com marcas pressupõe, tacitamente, o reconhecimento da economia de mercado e das forças que o movem. Marcas e capitalismo são faces de uma mesma moeda. E assim sendo, a gestão de marca é, também ela, tocada pela mão invisível de Adam Smith e pela cegueira de Harari. Mas trabalhar marcas é, sobretudo, trabalhar para pessoas, não nos devemos esquecer. É esse princípio simples — a capacidade de tocar o público — que as torna num dos activos com maior potencial económico no repertório das organizações. E, assim, é no humano-consumidor que acredito que a gestão de marca — e, já agora, toda a teoria económica — deve procurar os seus fundamentos.
Ora, como descobriram os filósofos há muito, a procura do bem-estar é a motivação mais elementar nos desígnios do ser Humano. Aristóteles chamava-lhe o bem supremo, os psicólogos preferem falar em bem-estar subjectivo; no léxico comum, resumimos o princípio na muito banalizada — mas não menos importante por isso — ideia de felicidade. E ainda que se trate de um argumento que se centra, tendencialmente, nas motivações individuais do ser humano, permite-nos ir um pouco mais longe nas preocupações levantadas por Harari.
Explica-nos Bruno S. Frey, economista suíço pioneiro do estudo da felicidade no contexto da economia, que além dos resultados instrumentais, vulgarmente equacionados na função da utilidade dos modelos económicos tradicionais, as pessoas têm também preferências sobre como tais resultados são obtidos. E, por isso, aquilo a que chama de utilidade processual assume um peso significativo nas tomadas de decisão dos consumidores. Quer isto dizer que além de bons produtos, gostamos, também, de ser bem atendidos. Mas, mais importante, que tendemos a valorizar os princípios morais das organizações. Não queremos comprar aparelhos que resultem da exploração de trabalho infantil no outro lado do planeta, nem tão pouco lavar o cabelo com champôs cruelmente testados em animais. Desejamos, sim, que as marcas em quem depositamos a nossa confiança sejam dignas dela. Por outras palavras, que operem segundo o mesmo conjunto de princípios que nos serve de guia.
De acordo com Frey, a necessidade de vermos os nossos valores alinhados com os das marcas que consumimos resulta daquilo que os psicólogos conhecem como consciência do Eu. Esta característica indelével do ser humano faz-nos preocupar simultaneamente com a forma como nos vemos e com a imagem que projetamos nos outros. A este nível, são as escolhas que fazemos e as opções que tomamos que fornecem as pistas mais concretas no desenho da nossa identidade. Se as condutas ilícitas violam os nossos princípios morais enquanto seres humanos, compactuar com as organizações que as veiculam torna-se inconciliável com a imagem que temos de nós próprios (e com a que queremos ver reconhecida pelos outros). A tensão resultante cria-nos um mal-estar que acaba por nos afastar das marcas envoltas num nevoeiro moral. Em sentido contrário, as organizações com preocupações sociais genuínas têm um apelo superior. A razão é evidente: contribuir para marcas que praticam o bem faz-nos sentir bem. Mesmo que indiretamente, sentimos que as nossas escolhas produzem resultados positivos maiores, o que contribui, por sua vez, para a nossa felicidade individual.
Para as marcas (e para as organizações que as gerem), isto significa que ir ao encontro das mais diversas preocupações do consumidor — sejam elas sociais, económicas, ambientais ou de outra natureza — não é necessariamente um desvio ao caminho do lucro que a economia de mercado tende a perseguir. Pelo contrário. Se essas são as preocupações do público, as organizações terão tão melhores resultados quanto mais lhes derem resposta. Por outras palavras, a cegueira pode ser evitada.
Consciência: um remédio para a cegueira
Em Mundo Sem Mente, Franklin Foer, antigo editor da revista The New Republic, relembra-nos que existe um precedente para rejeição da utilidade extrema prometida pelas forças dos mercados: o crescente cuidado com a alimentação, tanto na qualidade como, mais significativamente, na moralidade das escolhas. Não é propriamente novidade que uma fatia considerável da população tem abandonado a conveniência e os preços baixos, a favor de alternativas em linha com princípios que nada devem à maximização da utilidade tal como ela é postulada pela teoria económica tradicional. Valores subjectivos, como a responsabilidade e a consideração, parecem entrar numa nova função de utilidade para o consumidor, que é, assim, necessariamente mais moral.
Foer pretendia apenas questionar se a lógica observada no contexto alimentar não poderia ter paralelo no consumo do jornalismo, por oposição aos conteúdos instantâneos que proliferam em plataformas como o Google e o Facebook. Mas, na verdade, podemos extrapolar, genericamente, o princípio a vários outros quadrantes. Em alguns, existem, até, sinais bastante evidentes dos seus efeitos: pensemos, por exemplo, no crescimento da retórica ambientalista, tanto pela mão das organizações comerciais como pela dos partidos políticos. Mais do que uma renovada consciência erguida entre as fileiras dos agentes económicos e decisores políticos, este é um indício claro de que as preocupações do público têm — e podem ter — impacto efectivo no desenho da oferta que lhe é apresentada.
Adam Smith sugeriu que a busca do interesse próprio conduz ao bem comum. Embora tenha reservas quanto à concepção excessivamente egoísta do ser humano que parece suportar a proposta de Smith, é precisamente na ideia do interesse próprio que se sustenta o meu argumento. Afinal é do interesse das marcas ir ao encontro dos desejos do seu público. É talvez idealista — ou ingénuo — acreditar que a cegueira se evita apenas pelo desejo de ver das organizações. Mas se o público exige ser visto, o resto do mercado não o pode ignorar. Um público consciente gera um mercado consciente. Mão invisível, sim, mas não cega.