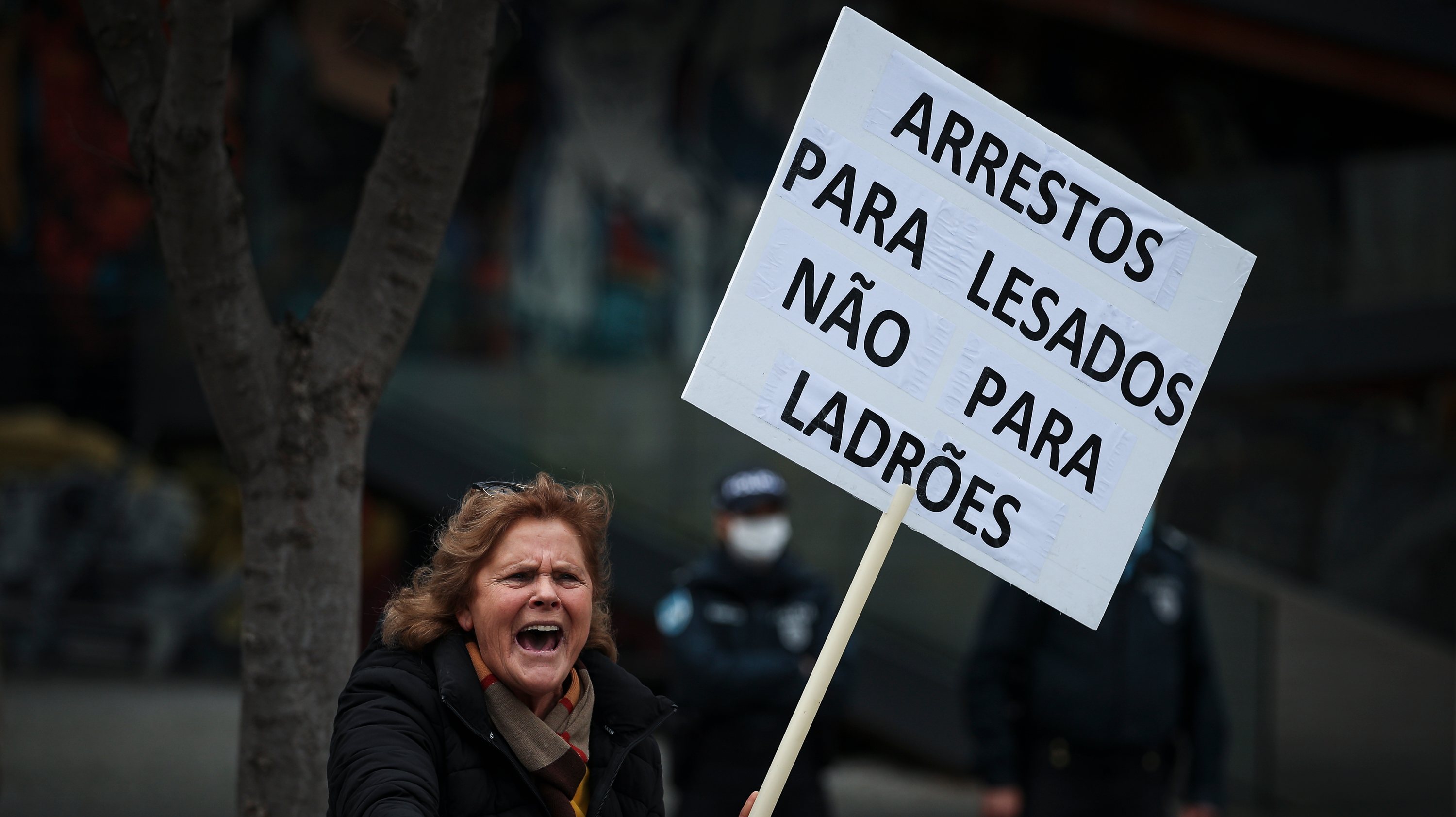“Que haja nesse espaço inúmeros corpos como a nossa Terra e outras terras, o nosso Sol e outros sóis, todos os quais executam revoluções nesse espaço infinito”.
Giordano Bruno, Acerca do Infinito, do Universo e dos Mundos
No longínquo ano de 1600, Giordano Bruno viu o fogo arder-lhe a vida, às mãos da Inquisição. Este foi um resultado à época previsível, já que este frade dominicano, durante as décadas anteriores, atraído pelo pensamento especulativo que começava a despontar entre os que entendiam que a ciência não deveria estar subordinada aos ditames da religião, se havia dedicado a questionar dogmas que eram vistos até então como certezas teológicas. Reza a lenda que, após ter lido obras proibidas de Erasmo de Roterdão, Bruno terá iniciado uma rota de dissidência face aos consensos teológicos e científicos dominantes. Deslumbrado, entre outras, com as teorias de Copérnico sobre o Sistema Solar, Bruno terá ido mais longe do que afirmar o heliocentrismo (ou seja, que a Terra gravitaria à volta do sol), colocando a hipótese de o Universo ser, afinal, infinito, e eventualmente povoado por outros seres, em galáxias longínquas. É bem verdade que, não obstante algumas das suas teses terem vindo a ser confirmadas pelo tempo, Giordano Bruno não as fundamentava propriamente em evidências científicas, mas em construções teológicas. Numa época, porém, onde não haveria uma clara separação entre ciência e teologia, não é possível negar que, à sua maneira, Bruno foi o primeiro mártir da rutura com o monismo, abrindo espaço a que outros, como Galileu Galilei ou Newton, fizessem as suas revoluções rumo a uma ciência mais baseada na cogitação de hipóteses, na experimentação e na demonstração de evidências tão falíveis quanto robustas.
De tempos a tempos a Humanidade assiste ao ressurgimento de várias formas de obscurantismo. A mais criticada nos tempos recentes é a que resulta da negação de conceitos básicos, validados e apoiados pelo consenso científico possível, sobre a origem, a natureza e o impacto da pandemia do Covid-19. Os negacionismos da Covid-19 têm seguramente raízes distintas: motivações políticas, rejeição face ao mainstream, resistência às vacinas e ao modo como se tem vindo a organizar a indústria farmacêutica, ou até mecanismos de defesa face à adversidade. O obscurantismo está aí, na negação do que é óbvio, mas tão pouco é possível ignorar que ele não se limita a marcar presença nas franjas mais radicais da nossa sociedade, estando bem enraizado na forma como alguns estados procuram impor uma narrativa monista explicativa do fenómeno pandémico. Aliás, nos seus pressupostos e doutrina de ação (já não, ao menos isso, nas consequências), o obscurantismo presente em algumas ações estatais não está muito afastado daquele que levou Giordano Bruno até à fogueira. O equilíbrio entre o respeito pela ciência (por uma verdade que é evolutiva e processual, porque resulta da experimentação e da busca de evidências) e o pluralismo, ou seja, a aceitação de que as sociedades livres, e a própria ciência, dependem da coexistência pacífica e da admissão sem escândalo, e serena, de uma pluralidade de opiniões ou de comportamentos, tem-se demonstrado demasiado frágil, dando excessivo espaço à afirmação de dogmas autoevidentes que, não tendo nestes tempos pós-modernos natureza teológica, traduzem, na sua simplicidade e vazio, efetivos monismos com consequências sociais graves.
Por estes dias, discute-se o Orçamento do Estado para 2022, e não faltam, na discussão pública, a persistência em negacionismos que impedem que o país se organize, de forma equilibrada, à volta dos recursos disponíveis. Num momento em que o mundo vive profundas disrupções, a política portuguesa continua a viver das certezas antigas, de verdades que, hoje, fazem cada vez menos sentido e se tornaram, por essa razão, apenas dogmas sem sentido. De comunistas e socialistas a liberais, passando pelos heróis do teclado que militam em ideologias só suas, o debate não se faz na procura de soluções que permitam resolver os problemas que, hoje, a sociedade portuguesa enfrenta, mas na repetição até à náusea dos clichés ideológicos construídos para responder a um tempo em que o mundo não era digital, em que as cadeias de produção não eram globais e interdependentes e em que os recursos mais valiosos, incluindo as pessoas, não circulavam com uma enorme facilidade, para se concentrarem nas sociedades mais atrativas e desenvolvidas.
A política portuguesa nega hoje a realidade que a rodeia, fingindo não perceber que está à mercê de várias ameaças. A verdade é que Portugal é, hoje, uma das economias mais endividadas do mundo. O país está envelhecido, com baixas taxas de natalidade, precisando de se abrir à imigração para poder suportar funções essenciais ao normal funcionamento do tecido económico, na agricultura, nos serviços, e até na indústria. Não obstante a falta de mão de obra, o país não é capaz de se apresentar atrativo para os mais válidos e bem preparados, os quais, com alguma facilidade, acabam por encontrar oportunidades de vida em economias mais competitivas e em sociedades onde encontram outra estabilidade e perspetivas para organizarem as suas vidas.
Desde 2015 que Portugal escolheu o caminho do empobrecimento alegre, elegendo governações sem qualquer preocupação com o futuro. Ao abrir a porta a soluções “geringôncicas”, o nosso sistema político passou a entregar a decisão dos orçamentos do Estado a partidos de franja, de base corporativa e clientelar, costurando soluções que mais não são do que mantas de retalhos sem qualquer racionalidade e transversalidade em termos de políticas públicas. Seis orçamentos de Estado geringôncicos depois, Portugal apresenta uma elevadíssima taxa fiscal, um aumento do número de funcionários públicos e um nível mínimo de investimento público que, pela sua recorrência, põe em causa a coesão nacional e o futuro. Hoje, olhando para os números do Orçamento que assinala a saída da crise pandémica, é triste constatar que as prioridades do país passam por salvar uma companhia aérea estruturalmente falida, por resgatar o operador ferroviário, à beira da rutura, por tentar estagnar com dinheiro, mas sem reformas, um SNS em profunda desintegração. Rezando para que as ajudas bíblicas caídas do céu europeu agitem algo, à bazucada.
Passados seis anos, e não obstante os sinais de rutura, continuamos a negar as fragilidades do nosso sistema de saúde, perorando na certeza teológica da infabilidade do SNS. Temos um sistema de ensino público onde o corpo docente está significativamente envelhecido, desmotivado, à beira da reforma, e que não atrai os jovens. Os nossos serviços públicos, consumidores de recursos, são incapazes de citar um devedor numa injunção, impedir que um arguido famoso saia do país, pelo seu pé e pela porta da frente, emitir um cartão do cidadão, um passaporte, ou uma licença em tempo útil. Não havendo, cronicamente, investimento público, todos os dias perdemos produtividade. Mas o Estado não só não investe como cria as maiores dificuldades a quem quer investir, ao ponto de Portugal ser, em plena Revolução Digital, um dos poucos países que se quer desenvolvido que ainda não atribuiu as licenças do 5G.
Portugal precisa, cada vez mais, de uma rutura profunda no seu sistema político e partidário, que seja geracional mas também ideológica. Não se vê, porém, que haja na sociedade portuguesa essa vontade de abertura ao mundo e energia para romper com a letargia vigente. Nos próximos anos vamos precisar de fazer mais com menos. Teremos de aumentar a produtividade no setor privado mas sobretudo no setor público. Para ser mais produtivo, o Estado terá de ser capaz de captar pessoas com valor, menos pessoas, com melhores ordenados, capazes de utilizar as melhores tecnologias, na saúde, na educação, no assistencialismo, na administração da justiça, na segurança, na prestação de serviços públicos. Mas não só: para se poder ter um país que produza o suficiente para que os orçamentos sejam suficientemente robustos e aptos a acompanhar as nossas aspirações será necessário fazer mais com menos mas, sobretudo, será necessário fazer diferente. Ora não seremos capazes de inverter o empobrecimento se, politicamente, à esquerda e à direita, continuarmos a viver recheados de certezas, preguiçosamente adormecidos em dogmas de um mundo que há muito acabou.
Uma coisa é certa: um país que tem um PIB per capita de 18 mil euros, tendo com esse valor que alimentar as famílias, as empresas e toda a Administração Pública, incluindo o cumprimento das obrigações do Estado em matéria assistencial e o serviço de uma dívida gigantesca, não tem espaço para sonhar um futuro melhor, está politicamente condenado a assistir, ano após ano, a discussões orçamentais onde todos os partidos, à sua maneira, reclamam por falta de pão, onde todos berram, e nenhum tem razão.
Não estão fartos de se alimentar de migalhas?