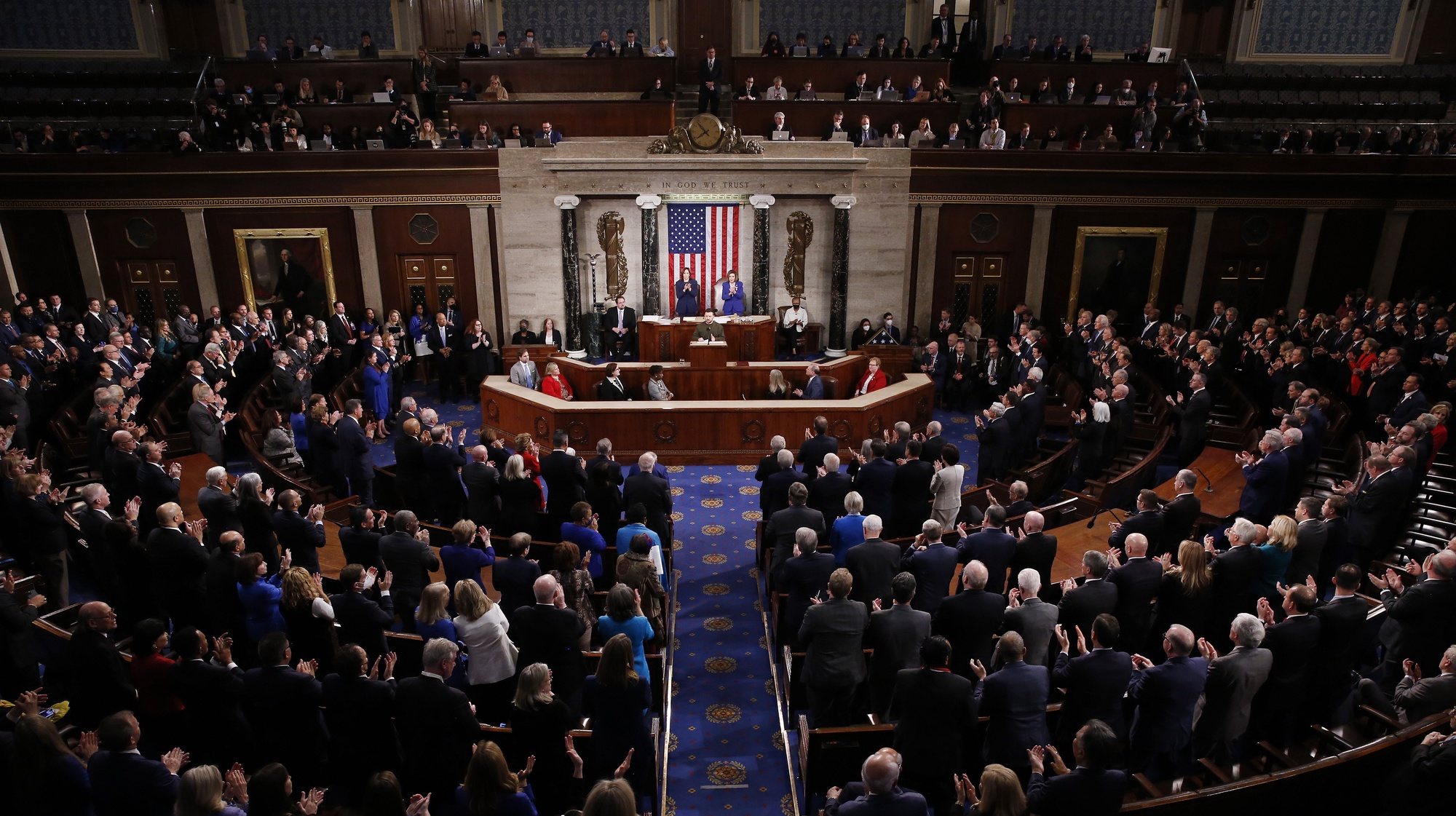Não é possível escrever um artigo no dia 11 de setembro de 2021 sem que o tema seja o 11 de Setembro de 2001. Passaram exatamente 20 anos desde o dia mais longo – até agora – do século XXI ou, sem excesso de imprecisão, do primeiro dia do século XXI. Na minha geração todos sabemos onde é que estávamos quando ouvimos a notícia e/ou quando olhámos para aquelas imagens a primeira vez. Todos sentimos que o mundo estava a mudar à frente dos nossos olhos, mas ninguém sabia verdadeiramente de que forma.
Vinte anos depois do 11 de Setembro, o terrorismo já deixou de ser o centro das nossas preocupações. Por três razões essenciais: porque as nossas autoridades – políticas, forças especiais, militares, policiais, serviços secretos – têm conseguido evitar múltiplas vezes que as ameaças se tornem ataques efetivos e porque as próprias sociedades criaram resiliência. Sabem que pode haver um atentado a qualquer momento, mas aprenderam a viver com isso.
A segunda razão é que, do ponto de vista do número de vítimas, o flagelo do terrorismo é muito mais expressivo em países não ocidentais e entre comunidades muçulmanas. O “medo” ocidental deveria estar muito mais associado à legislação menos rigorosa no que respeita aos direitos, liberdades e garantias aliada ao desenvolvimento tecnológico, do que aos ataques propriamente ditos.
A terceira razão é que o mundo mudou verdadeiramente a seguir ao 11 de Setembro. Aliás, Biden quis, desajeitadamente, “fechar” o Afeganistão simbolicamente 20 anos depois do dia em que tudo se transformou. Mas chegou muito tarde, porque as próprias ações norte-americanas ditaram que mudanças conjunturais se tornassem mudanças mais duradouras.
Há quatro grandes diferenças que se impuseram nos últimos 20 anos. Por um lado, o ataque às Torres Gémeas e ao Pentágono foi o princípio do fim do “Fim da História”, o princípio orientador da política externa dos Estados Unidos e da Europa. A Al-Qaeda pôs fim à ideia subscrita pela maioria das elites dos dois lados do Atlântico de que não havia rivalidade ideológica para a democracia liberal. Não só a brutalidade dos ataques comprovava que as sociedades ocidentais tinhas inimigos mortais, como a ideia que se caminhava para uma harmonia de regimes políticos e económicos começou a ser posta em causa. E até hoje não voltou a haver uma ideia aglutinadora que unisse o Ocidente.
Em segundo lugar, os Estados Unidos escolheram lidar com a ameaça terrorista de uma das piores maneiras possíveis: inspirados na agenda expansionista neoconservadora – que o poder inigualável de Washington o cobria da obrigação de transformar o mundo à sua imagem e semelhança – decidiram invadir um Estado, o Iraque, que nada tinha a ver com os atentados ou os seus perpetradores, com o grande plano (e poucos meios) de tornar o “Grande Médio Oriente” num espaço de democracia e liberdade. Ora, Bagdade não reunia as condições prévias para isso, como, aliás, a maioria dos Estados onde se tentou fazer o mesmo não reúnem. Muito rapidamente se começou a perceber o monumental erro estratégico e os custos associados. Os Estados Unidos tinham perdido credibilidade internacional, entraram em declínio moral e estavam empenhados em duas guerras (o Afeganistão não foi uma guerra de escolha), muito dispendiosas em vidas e recursos, das quais seria muito difícil sair airosamente. Em meia dúzia de anos, os EUA entraram em sobre-extensão. O Iraque é o ponto de viragem da política externa americana do qual os Estados Unidos nunca conseguiram regressar e onde puseram em risco a unipolaridade, a maior garantia de segurança que um Estado pode ter.
Como se não bastasse – e este é o terceiro aspeto – os Estados Unidos desbarataram um dos seus capitais mais importantes: as alianças permanentes. Os membros da NATO ativaram o artigo V logo a seguir aos ataques terroristas e receberam um redondo “não, obrigado”, a partir de agora vamos sozinhos e quem nos quiser acompanhar, acompanha. A fissura abriu consideravelmente dois anos depois, também por causa de Bagdade, porque a maioria dos aliados não aceitou a escolha americana, e os que aceitaram fizeram-no à revelia das suas opiniões públicas, com o intuito de salvar a Aliança Atlântica que lhes (nos) garante a segurança ainda hoje. O afastamento transatlântico foi aumentando pelos mais diversos motivos – o mais importante foi, evidentemente, Donald Trump – mas a rutura inicial, nem sarada por Obama, deu-se precisamente nesse momento.
Finalmente, a sobre-extensão norte-americana abriu um corredor à ascensão chinesa. Pequim sempre primou pela ocupação de espaços deixados vazios pelos Estados Unidos e, desde a crise de 2008, além dos parceiros que foi comprando a Sul, conseguiu chegar perto da Europa. Ainda está por decidir se o velho continente prefere o velho aliado à potência revisionista (o dia de fazer essa escolha vai chegar. Mais tarde ou mais cedo). A fraqueza relativa dos Estados Unidos devido aos seus erros estratégicos acelerou a transição de poder agora em curso, cujo desfecho é ainda imprevisível.
O mundo mudou no dia 11 de Setembro de 2001. A nossa perceção do mundo também se transformou. Era inevitável. Mas o rumo das mudanças deveu-se, em grande medida, à forma como os Estados Unidos geriram a sua política externa. O mundo poderia ter mudado das mais diversas maneiras, nas mais diversas direções. Mas mudou assim.