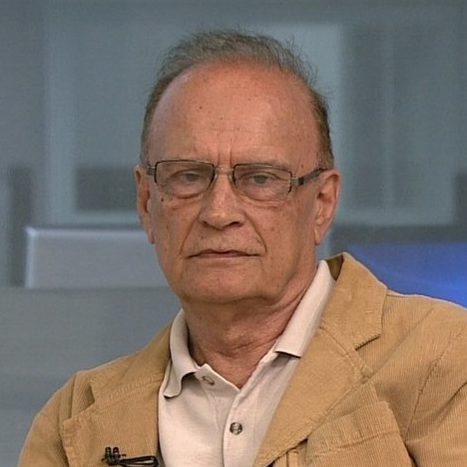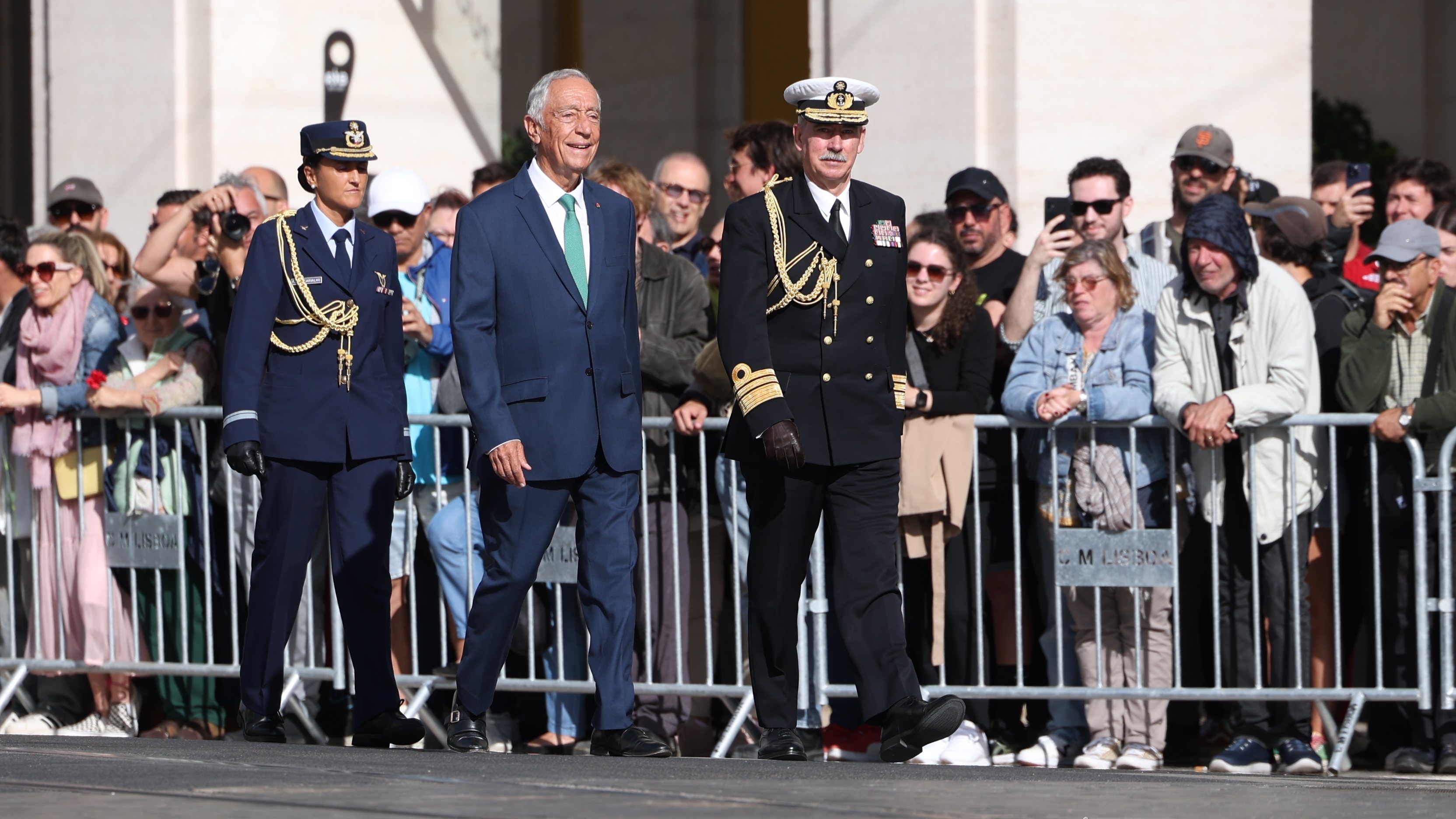A propósito do excelente artigo, publicado no “Observador” de 16 de setembro de 2018, da autoria de Gabriel Mithá Ribeiro, “Peste branca, epidemia negra”, texto corajoso no enfrentamento dos tabus e oportunismos (ou mesmo imposturas) tanto em áreas brancas antirracistas, como áreas negras que reclamam o fim das discriminações por motivo racial, mas usam a sua cor sempre que isso lhes convenha, gostava de colocar alguns pontos.
E o primeiro é ele não ter ido às ultimas consequências contra esse tabus, ou seja, as imposturas identitárias. Pena também ter generalizado num ponto, sob risco de suscitar novos estereótipos. Nem todos os antirracistas brancos são motivados por paternalismo ou por cálculos político-partidários, agravantes do problema, nem devem todos ser inseridos num “antirracismo branco”, pois muitos agem em campanhas por cima das linhas raciais. Campanhas por melhores relações humanas, sem entronizar o diferencialismo a ponto de o fazer mais importante que a igualdade de direitos e oportunidades.
Este dado tem um link central. As origens das pessoas não determinam as suas trajetórias de vida. Como diz o ex internacional francês de futebol, Thuram, “ falar das origens não tem mal desde que não se amarrem as pessoas a essas origens”. Reduzir-nos a meros herdeiros e reprodutores das realizações dos nossos antepassados, nega a realidade: nós somos produtores de cultura, mais que os nossos antepassados e os nossos descendentes serão mais que nós.
A exacerbada referência às origens e às diferenças é arma de “pureza racial”, marca registada da extrema direita, seja branca, negra, etc.. Foi assim que se construíram nazismo, Ku Klux Klan e genocídio do Ruanda. As pestes e as epidemias muito bem citadas pela reflexão de Gabriel Mithá Ribeiro têm alimento atual nas teorias da identidade. Elas representam a renovação, com pretensões eruditas, dos velhos e gastos discursos racistas. Por isso, penso que a análise dessa temática deve ser levada às últimas consequências – i.e., situar tais teorias no seu real significado – tanto mais que o autor assinala, com razão, que as pessoas devem ser consideradas como indivíduos e não como grupos marcados por estereótipos.
A liberdade mede-se pela liberdade individual. Ao contrário das imposturas dos regimes de partido único, não há liberdade coletiva acima da individual, pois nenhum país será livre se os seus cidadãos não o forem. A cor da pele, a língua, a religião, a nacionalidade e outros atributos do tipo, não implicam atitudes, opiniões, capacidades, funções ou emoções idênticas. Criar identidades para além dos dados pessoais é transformar esses fatores em antagonismo, camuflando o principal. Não é fortuito o grande entusiasmo nas extremas direitas por este “conceito”.
Achei interessante Gabriel Mithá Ribeiro ter mencionado vários pontos da sua experiência académica e docente. São testemunhos que nos trazem ao concreto. Eu, após ter passado treze anos apenas com documentos precários durante o periodo de luta anticolonial e antiditatorial (a antiga ditadura não nos dava passaporte) hoje tenho, de facto, três nacionalidades. Já me disseram que estou a compensar algum trauma dos anos apátridas. A recém-nomeada ministra dos Negócios Estrangeiros do Mali também tem três nacionalidades. Ou seja, esta tripla nacionalidade em nada altera os nossos princípios nem reduz a nossa capacidade de trabalhar para o desenvolvimento e a cidadania plena de todos os seres humanos. Pelo contrário.
Por isso, os defensores de muros fronteiriços nos detestam e ainda bem. Sem dúvida, a tripla nacionalidade tornou-se o nosso triângulo das Bermudas, extensivo a três continentes e muitas turbulências. Faz parte do novo mundo que agora está em todo o mundo.
Na verdade, o tema “origens” é visto sob o prisma da emoção. Não seria problema se alguns não lhe criassem oposições com a razão. Foi o erro na formulação inicial da negritude, quando Senghor definiu a razão como helénica e a emoção negro-africana. Os seres humanos são compostos pelas duas e a soma está na base das recentes formulações derivadas do cosmopolitismo, por exemplo, em África, condutoras das novas lutas antirracistas.
Outra expressão excessiva – pelo menos até aqui – foi a classificação de genocídio dos brancos sul-africanos. Há ambiente hostil, há ameaças, discriminações em muitos casos, mas não genocídio. Se isso vier a precisar-se, a África do Sul cairá na guerra civil que Mandela evitou. Mas há, sim, racismo e etnicismo em muitos países africanos, onde ser minoria na cor da pele, na religião ou na língua, é uma enorme desvantagem ou alto risco. No meu livro “Franco-Atiradores” chamo-lhe neoracismo, com base em observações e experiências concretas desde a década de 1960.
No Brasil, já pararam de repetir aquela hipermentira da “democracia racial” –expressão, além do mais, estúpida, pois uma democracia nunca pode ser racial. Tem de ser não racial ou pós racial. “Democracia racial” havia na África do Sul do apartheid, era para os brancos. No resto do problema, o Brasil vive o mesmo racismo de sempre e o pior é não haver movimento antirracista. Há apenas movimentos identitários desligados uns dos outros, cada um reivindicando para o seu “grupo”, sem estratégia nacional. Nem preocupação. O poder é exercido por homens brancos, nascidos ou criados no Sul e Sudeste; a pior situação social é de quem for mulher, negra e nordestina. Milhões.
No mundo árabe, as hipermentiras na matéria também são correntes e a realidade aparece no brutal tratamento dado aos sub-saarianos em certas regiões norte-africanas ou na violenta e súbita expulsão de milhares de etíopes da Arábia Saudita, perante a indiferença mundial. Concordemos que se fosse, por exemplo, na Europa, na Nova Zelândia ou nos Estados Unidos, os protestos seriam inevitáveis (e ainda bem).
A Europa é o continente mais violento dos últimos séculos. Só no século XX, os europeus destruíram o seu continente duas vezes; da primeira, empurrados por projetos imperiais antagónicos; da segunda, por uma ideologia totalitária baseada na pureza racial. O totalitarismo, aliás, manifestou-se na Europa também com outras bases, ideológicas, como analisou uma europeia ilustre, Hanna Arendt. É, portanto, um continente perigoso, onde atualmente decorre um confronto contra novas ameaças desses calibres, importante para nós todos, até porque as duas maiores economias do mundo são conduzidas por lideranças políticas autoritárias e o jihadismo acrescenta-se ao clima mundial de perseguições.
É este o nosso mundo onde, desde as migrações do vale do Rift nos primórdios do homo sapiens, decorre um constante movimento de pessoas, por fome, risco de vida ou apenas busca de locais aprazíveis. Claro, isto levanta o tema da integração de “minorias” e dos grupos historicamente ou recentemente desavantajados, seja onde for. Como se diz em Luanda, esse é o problema que estamos com ele. O professor Gabriel Mithá Ribeiro menciona como via saudável – ou mais fácil – “em Roma ser romano”. Ainda assim, fica uma afirmação sobre nós próprios como autores de cultura: vale a pena propor novos aportes à configuração das Romas – sem deixarem de ser Romas — e novas ações para ninguém sentir fome ou insegurança letal. Mesmo sendo “guerra” muito prolongada.
Se o identitário prevalecer, essa “guerra” será perdida.