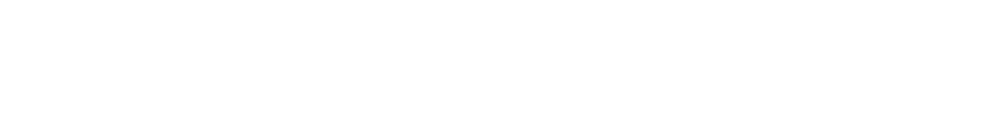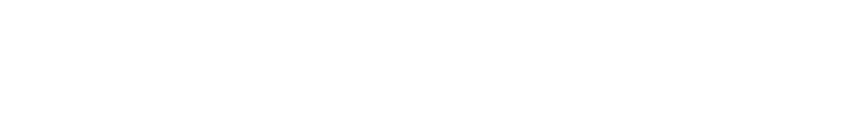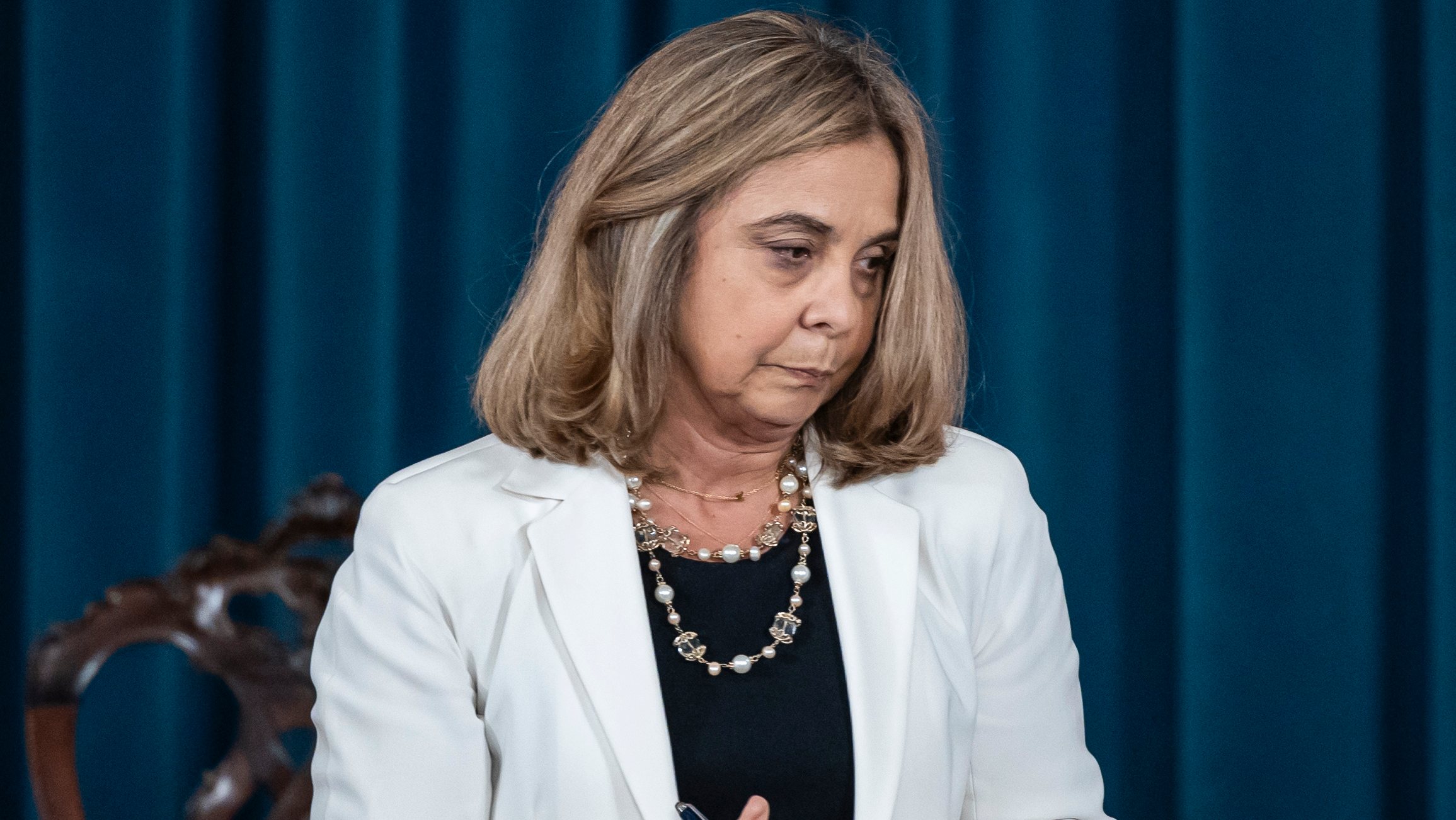Desde que começou a presente pandemia, escrevi aqui pouquíssimo sobre a coisa e fiquei sempre num grande nível de generalidade. Que me lembre, limitei-me a algumas considerações sobre a fragilidade dos indivíduos e das sociedades. O tema da fragilidade humana é um tema importante do cristianismo, desde os seus princípios (o filósofo Jean-Louis Chrétien dedicou-lhe, não há muitos anos, um interessante livro, intitulado, justamente, Fragilité), embora sob muitos aspectos, e sob outra forma, a filosofia grega o antecipe. E a questão da perecibilidade das instituições, bem como das sociedades como um todo, é, quase se poderia dizer, o problema central da filosofia política. É verdade que também disse uma coisa ou outra sobre o modo como o governo e a DGS – partindo do princípio que se pode verdadeiramente aqui estabelecer uma distinção entre as duas entidades – lidaram e lidam com a pandemia, mas não de uma forma minimamente desenvolvida.
Sobre a controvérsia central que agita as cabeças pensantes, ou, pelo menos, falantes, não escrevi nada, embora julgue perceber os motivos fundamentais das duas escolas de pensamento que disputam a atenção pública.
Por um lado, temos as várias pessoas – muito diferentes entre si, diga-se de passagem – que encaram várias das medidas “securitárias” dos governos não apenas como inúteis, ou até contraproducentes (creio que é o ponto de vista de alguém que vale sempre a pena ler, Henrique Pereira dos Santos), mas também como orientadas por um motivo próprio e em parte inconfessável: a apetecível extensão do domínio do Estado sobre os indivíduos e o concomitante desprezo pela tradição da liberdade individual. Entre nós, é sobretudo Alberto Gonçalves que tem insistido neste ponto de vista (José Manuel Fernandes em parte também), mas não faltam outros autores que igualmente o sublinham, como, por exemplo, Johan Norberg ou, num livro que a Guerra & Paz fez o favor de publicar em português, Bernard-Henri Lévy (Este vírus que nos enlouquece). Como disse, sou sensível a este tipo de argumentos, embora, no caso de Lévy, eles apareçam, como é habitual com o autor, envoltos numa retórica que é a do “detestável Eu”, para falar como Pascal, que ele cita, um “detestável Eu” vestido de fúria e indignação. É como se ele não conseguisse dar um passo na direcção certa sem, por um vôo retórico, dar um passo seguinte que vai longe demais. A partir de uma certa altura é o tom que conta, não o conteúdo. E poderia, é claro, fazer entrar nesta lista as posições delirantes de alguém como Giorgio Agamben, entre muitos outros, mas não quero confundir tudo e misturar aqueles que prestam atenção ao real com aqueles que encontram no real uma mera oportunidade para, forçando as coisas, o apresentar como a prova concludente das suas posições filosóficas.
Do outro lado, temos aqueles que defendem as ditas posições “securitaristas”. Além dos governos, uma boa parte da população partilha esta atitude. Sem que me escapem excessos, disparates ou tendências autoritárias que nos levam direitinhos a prepotências sortidas, confesso que também sou sensível a alguns dos argumentos desta escola de pensamento. Como em tudo, o nosso ponto de vista é em parte moldado não apenas pela razão pura e simples – se pode haver uma razão pura que, ainda por cima, seja simples -, mas também pela nossa experiência pessoal. O interesse próprio fala sempre um bocadinho, mais alto ou mais baixo. E o facto de ter chegado aos sessenta anos (e por quase exclusivo mérito próprio, com pouca contribuição do acidental) com um admirável cocktail de doenças crónicas, por causa das quais passei, de resto, o mês de Janeiro quase inteiro no hospital, contribui, sem dúvida, para um certo acordo meu com a escola securitária.
Esta situação de balanço entre duas atitudes opostas não me aconselharia, de modo algum, a escrever sobre o assunto. E não o faria se não tivesse lido, sexta-feira passada, um artigo de Charles Moore no Daily Telegraph (“The public can deal with the truth regarding our flawed Covid strategy”) com o qual concordo em inteiro e cujas ideias centrais me parecem dever ser partilhadas com os leitores do Observador que o não leram.
O que diz Charles Moore? Primeiro, que, em matérias onde é difícil ter uma opinião segura, onde a certeza é raramente possível, há uma tendência, face à obrigação de apresentar um ponto de vista firme, para acentuar excessivamente a nossa razão, por mais fraca que seja: o tom conta mais do que o conteúdo. A natureza tentativa das nossas opiniões tende a ser disfarçada. É mais sábio, embora menos pagante, sentarmo-nos na cerca, olhando para os dois campos da questão.
Depois, Charles Moore confessa que, instintivamente, sente mais simpatia por uma atitude liberal – como a sueca — que confia na capacidade de os indivíduos tomarem por si mesmos decisões adultas do que pela posição estatista – como a chinesa — que promove um poder arbitrário de os punir. Ao mesmo tempo, Moore não alinha com a posição libertária segundo a qual as nossas escolhas livres não podem afectar os outros, como se o egoísmo adquirisse subitamente o estatuto de uma virtude. Do mesmo modo, nenhum governo democrático se pode permitir, em nome da desejabilidade de uma qualquer imunidade de grupo, que a doença siga o seu curso, como se milhares de mortos não contassem grande coisa. Mais: é mais sábio gastar o dinheiro público em medidas hospitalares que podem até revelar-se desnecessárias, já que a sua existência tranquiliza as pessoas, confortando-as no sentimento de que, caso doentes, poderão ser tratadas, do que poupar esse dinheiro, julgando-o inutilmente gasto.
A própria doença é ambígua: não é uma praga tão mortal que obrigue a que toda a vida normal seja interrompida, nem uma simples gripe. É por isso natural que os governos oscilem, em função das situações, entre a abertura e o fechamento. É um dever político “reconciliar as exigências conflituosas da complexa sociedade moderna”. Esta oscilação, acrescenta Charles Moore, é, de resto, melhor compreendida pelas pessoas do que por aqueles que, nos media, optam encarniçadamente por uma atitude ou outra. A maior parte das pessoas confia na relativa segurança de comer em restaurantes mas não se atira de cabeça para uma rave party ou para um bar apinhado de gente. O governo deve saber lidar com várias disposições psicológicas na população. Uns poucos são decididamente imprudentes, outros poucos são hipocondríacos. A maior parte encontra-se no largo espectro entre as duas atitudes. A regra de ouro, no entanto, é falar a verdade e não pretender que tudo vai pelo melhor dos caminhos e que em breve tudo estará bem.
Finalmente, devemos desconfiar do mantra de “seguir a ciência”. É assim que Charles Moore conclui o seu artigo. A ciência funciona olhando para trás. “Seguir a ciência”, sem mais, é estar atrasado. “A liderança política é uma arte, não uma ciência, e requer que olhemos para a frente.” Sabendo, desde o princípio, que ainda estamos a caminhar no meio de uma espessa névoa.
Estas palavras de Charles Moore parecem-me grandemente acertadas. Não indicam, é claro, uma via mágica para a acção correcta. Mas fornecem um quadro razoável para pensar a trapalhada em que andamos metidos.