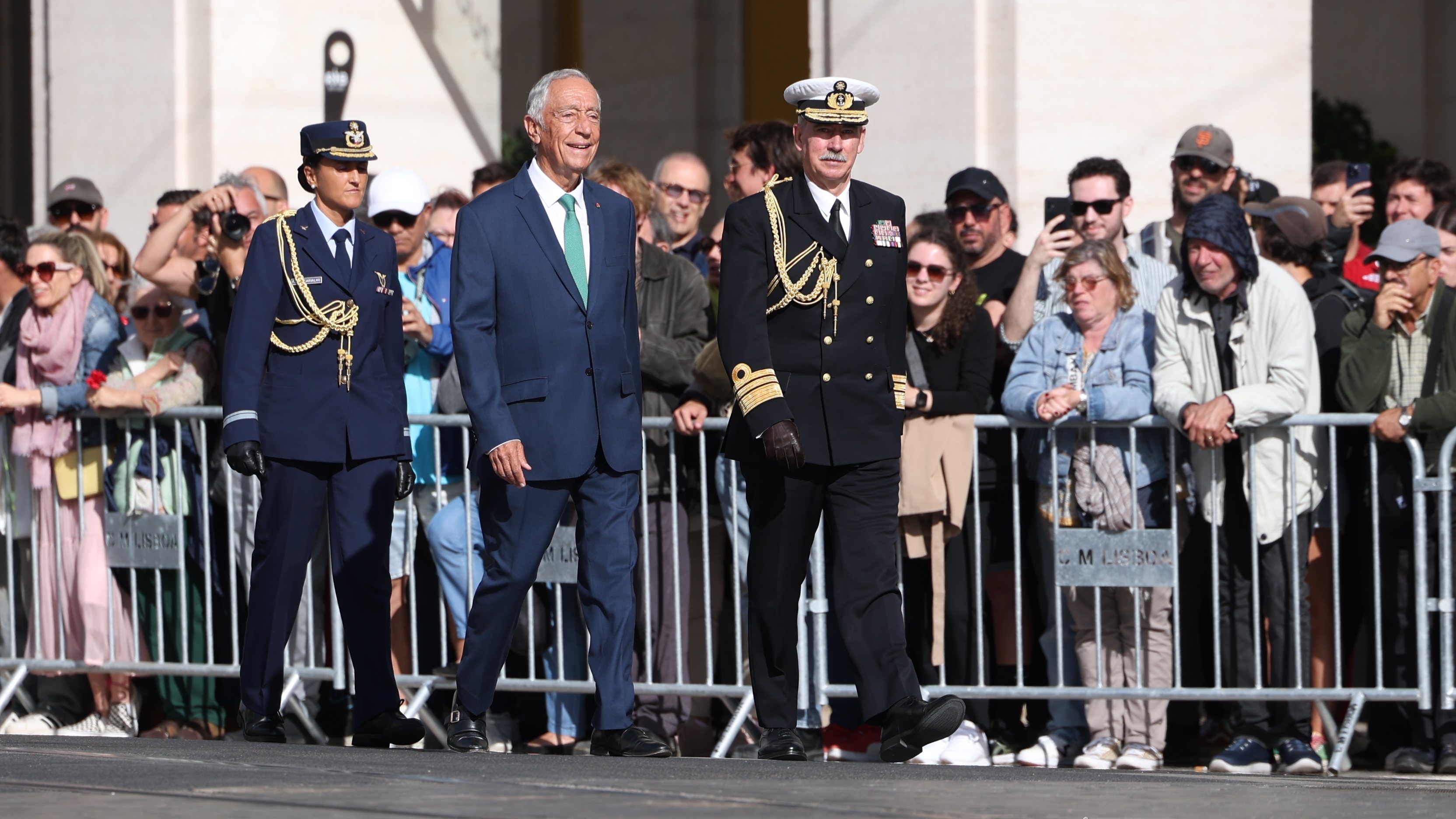O mundo é um cosmos pleno de ornamentos, dizia, numa fórmula muito bonita, um filósofo. É bem verdade, e é uma grande asneira andar distraído de os observar, até porque, para quem não tiver vocação exploratória e militar a favor do sofá, eles podem chegar a casa sem dificuldade excessiva, bem empacotados e prontos para a contemplação.
Estou a falar das várias séries sobre animais, uns dos tais ornamentos, concebidas e narradas por David Attenborough. Há de certeza outras muito boas, e se calhar melhores, mas sou ignorante na matéria e não as conheço. Além disso, estou tão habituado a ouvir o amigo David a falar muito baixinho para a câmara para não despertar a atenção de uma família de leões aparentemente próxima (uma técnica repetida, com reverência duplicada, pelos jornalistas desportivos nas conferências de imprensa dos treinadores de futebol) que a lei da inércia me conduz naturalmente às séries dele.
Porque é que ver animais selvagens dentro do seu mundo nos dá prazer? Não é certamente por nos conduzir a um universo de inocência que nos liberte do maléfico convívio com o universo das intenções humanas. Também não é por nos fazer aprender alguma coisa. É verdade que se aprende imensa coisa (sobre a procura de alimentação, as relações entre predador e presa, a reprodução, a luta pelas fêmeas, o cuidados com as crias, e por aí adiante) e que a eternamente enigmática questão do chamado instinto animal sobrevoa tudo. Mas não creio que seja verdadeiramente isso o mais importante. Até porque se pode perfeitamente esquecê-lo e o essencial do prazer ainda fica.
É, creio, por várias coisas. Em primeiro lugar, uma espécie de retorno à infância. Há algo do maravilhamento que tivemos na primeira descoberta das formas dos animais e na aprendizagem dos seus nomes (girafas, elefantes, baleias, leões e crocodilos) que volta à superfície, por assim dizer. Revivemos o prazer de imagens esquecidas. E também não é de descontar algo como uma nostalgia – não sei se é a boa palavra – do imaginário jardim do Éden. Isso, no entanto, é segundo e muito derivado. Mas da repetição do maravilhamento original da descoberta das formas tenho praticamente a certeza.
Mais importante do que isto é talvez outra coisa. A surpresa, também ela repetida, face à adequação dos corpos dos animais às várias espécies de actividades necessárias à sua sobrevivência. Essa adequação, da corrida da chita ao pescoço da girafa, passando pela língua do camaleão, dá-nos o sentimento que cada espécie possui um ideal de perfeição próprio que procura atingir. Da mais gigante à mais minúscula. Gostamos naturalmente daquilo que se revela adequado a uma função e gostamos ainda mais, porque a coisa envolve uma surpresa, quando descobrimos que um detalhe extravagante num animal cumpre uma função muito específica e vital. É como descobrir, por detrás da confusão, uma ordem no universo.
Finalmente – e isso é o fundamental – há a beleza propriamente dita. E o sentimento dessa beleza tem a ver com aquilo de que o filósofo que citei no início (Leibniz) dizia: a beleza reside na percepção da unidade na diversidade. Em primeiro lugar, no conjunto da natureza. É quase uma tarefa infinita capturar a unidade na diversidade infinita da natureza, mas a nossa cabeça tende confusamente para aí, e isso dá prazer. Tanto mais prazer quanto maior for a diversidade. Quer queiramos, quer não, tendemos, na vida corrente, ao tédio de tudo pensarmos igual ou indiferente, a não ser em momentos de paixão, onde se descobre a diferença absoluta entre uma pessoa e o resto do mundo (que, de resto, deixa de nos interessar). Vermos os animais devolve-nos à consciência da diversidade.
Em segundo lugar, em cada indivíduo. A identificação de um indivíduo animal – exactamente como na arte, embora de um modo mais arcaico e espontâneo – é o modo como relacionamos entre si as formas, as cores e os movimentos e nessa relação descobrimos uma secreta harmonia. E não há como essa identificação para nos dar o sentimento da existência. Não há nenhum animal que, cuidadosamente observado, não nos dê esse sentimento. Não por intimidade, mas pelo seu exacto contrário: a distância. A distância para com um mundo que não é o nosso e nunca poderá ser. É isso que fascina. É a distância, não a proximidade, inclusive a proximidade dos animais domésticos (e nestes conviria distinguir: os cães são mais próximos do que os gatos), que nos revela a existência.
Estava eu com estes especulativos e elevados pensamentos quando decidi ver um clássico sobre a vida animal que nunca tinha visto: O Mundo do Silêncio, realizado pelo célebre Comandante Cousteau e Louis Malle em 1956, um filme que ganhou um Óscar para melhor documentário e a Palma de Ouro de Cannes. Nem digo a surpresa que tive. O filme retrata uma expedição do navio Calypso no Mediterrâneo. Há certamente estupendas imagens de golfinhos e uma bela valsa com um cherne (que inspirou um poema de Alexandre O’Neill, “Sigamos o cherne!”, óptimo, como todos os poemas de No Reino da Dinamarca, um dos maiores livros de poesia portuguesa da segunda metade do século XX).
Mas, de caminho, Cousteau e os seus matam acidentalmente uma baleia ou duas, provocam alegremente uma explosão num recife que causa (supostamente com propósitos científicos) a morte de um sem número de peixes de vária pinta, e, sobretudo, investem com ferocidade inaudita sobre os tubarões que se aproximam do bebé baleia por eles morto, arrastando-os para bordo e batendo-lhes até à morte, com feroz prazer selvagem e repetindo que “ninguém gosta de tubarões”. Apesar disto (ou talvez por causa disto), o filme vale verdadeiramente, vale mesmo, como um filme de aventuras e de bravata guerreira. Mas, se feito hoje, ninguém se permitiria dizer bem dele, quanto mais dar-lhe prémios em Hollywood e Cannes. Os tempos mudam.
Mudam mesmo. E, no fundo, algo se perdeu. Não é que não se tenha também ganho, mas também se perdeu. Paradoxalmente, O Mundo do Silêncio testemunha de uma maior continuidade entre nós e os animais do que os maravilhosos documentários do bom David, que no entanto são feitos no espírito de um sentimento de pertença a um universo comum. Não creio que, ao dizer isto, esteja a querer alçar-me ao estatuto do mais esperto da minha rua. É que a maneira como os exploradores do Calypso se comportam é, num sentido não pejorativo, ela própria animal. O prazer deles em tocar o cherne ou em bater no tubarão é um prazer animal. A contemplação só faz sentido para eles, visivelmente, a partir de um contacto táctil. É uma forma de apropriação sem disfarces, uma caça.
Há séculos que não releio Hemingway, e confesso que não sei o que me aconteceria hoje se o relesse, mas lembro-me que n’As Verdes Colinas de África ele diz que se caça animais é porque não os pode tocar vivos. Apesar de em Hemingway haver sempre uma excessiva projecção de si que, com a idade, incomoda um pouco, é um pouco isso. Em todo o caso, é como se a existência que não podemos possuir, ou sequer compreender, nos fosse, pela atracção que suscita em nós, de algum modo insuportável.
E é verdade que contemplar também cansa. A certa altura, alguma acção é necessária. Até um membro fundador da LPC (Liga dos Portugueses Contemplativos) o reconhece sem dificuldades. Mas para isso temos a nossa querida humanidade. É o que diz o poema de O’Neill:
Sigamos o cherne, minha Amiga!
Desçamos ao fundo do desejo
Atrás muito mais do que a fantasia
E aceitemos, até, do cherne um beijo,
Senão já com amor, com alegria…
Em cada um de nós circula o cherne,
Quase sempre mentido e olvidado.
Em água silenciosa de passado
Circula o cherne: traído
Peixe recalcado…
Sigamos pois o cherne, antes que venha,
Já morto, boiar ao lume de água,
Nos olhos rasos de água,
Quando, mentido o cherne a vida inteira,
Não somos mais que solidão e mágoa…