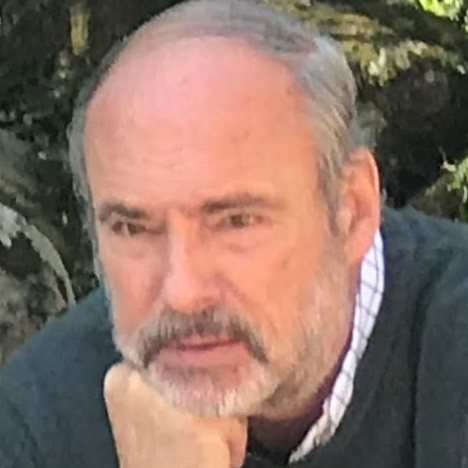Falar verdade talvez nunca tenha sido uma urgência para cada um de nós. Até porque nos foram dando a entender que ganharíamos se pensássemos três vezes antes de falar. Que falar de “cabeça quente” é quase um despropósito. E que a boa educação é um exercício de condicionamento que nos torna tanto mais “socialmente corretos” quanto mais falsos aprendermos a ser. Logo, no meio de tantos conselhos que nos ensinaram a não sermos verdadeiros, até não deixa de ser verdade aquele slogan com que se repete que vivemos numa “sociedade sem valores”. (Não há como cultivar os valores não falando verdade; não é?) Acresce que quem mais nos educou para a falsidade é, regra geral, quem mais se insurge contra a falta de valores. Mas isso é só um pormenor.
Seja como for, se acabamos por reconhecer que só a verdade nos liberta, talvez todos tenhamos crescido num contexto em que a verdade dos pais nem sempre traz a claridade que os filhos encontram quando procuram legendas para aquilo que intuem. E, mesmo numa família, “a verdade” daquilo que “eu sinto” é tomada como se um sentimento, mesmo enviesado pela forma como se olha, fosse uma verdade (“a minha verdade”); quando é só um ponto de vista.
Como se duas verdades sentidas fossem, entre si, um obstáculo ou um conflito. E nunca ninguém nos dissesse que a verdade é uma síntese daquilo que se perspetiva e daquilo que se sente. E que sem esse exercício (de humildade, de lealdade e de coragem) entre duas pessoas todas as “verdades” com que crescemos são meias-verdades e mal- entendidos. Que nos fazem alimentar as relações como exercícios de “solidão assistida”. E que, por causa delas, todos acabemos por ser “crianças amuadas”. Azedando para a vida; devagarinho. Suspirando por pequenas mudanças. Como se as transformações fossem inalcançáveis. Fossem difíceis, em demasia. Ou “caras”, claro. Quando, afinal, para nos transformarmos “basta” que sejamos – só! – amigos da verdade. E o façamos em função de uma pessoa. E nada mais.
Quando crescemos em areias tão movediças da nossa relação com a verdade, não admira que o amor – que é uma nudez recíproca, por dentro – seja tão escorregadio. Tirando aqueles que usam a lábia para nos seduzir, são raras as vezes em que confiamos aquilo que sentimos a quem se confie a nós, esperando que desse encontro de verdades a verdade seja um “eu e tu, ao mesmo tempo”. Em que o eu não deixa de ser uma bênção da singularidade de sermos capazes de pensar, com transparência, diante de alguém, e o nós acrescente luz às pequenas obscuridades que nos trazem opacidade. Por outras palavras: como é que pessoas que foram ensinadas a chegar à verdade por meias- verdades podem ser felizes, eis o dilema em que todos crescemos. E eis a razão pela qual quando se fala do prazer ele parece ser equiparado, de forma absurda, à categoria de perigo.
São imensas as vezes em que escuto algumas pessoas falar, num tom (muito sisudo) de censura, contra o prazer. Como se vivêssemos num mundo hedonista. Que precisa de ser comedido. E, considerando as palavras de muitas delas, quase censurado. Ou, até, reprimido. Como se todo o prazer merecesse ser castigado. Começando por aquilo que eles entendem que será uma deriva que os mais jovens fazem em direção a ele. Como se, com isso, se atropelassem os “valores”. Como se o prazer não fosse, ele próprio, um valor.
Ora, a mim parece-me que há um vício de forma nisto tudo que resulta de uma ideia demasiado orgástica do prazer. Como se o prazer fosse um clímax que se procura de forma ávida, impulsiva ou, mesmo, febril. E esmorecesse (ou a sua procura se apagasse) mal essa “experiência orgástica” existisse. O que é mais engraçado nisto tudo é que sempre que se abrem as páginas de algumas revistas, ou se passa por alguns programas de televisão, se fica com a ideia que não, os reality shows não são bem aqueles programas em que um conjunto de pessoas, a troco de notoriedade e de alguns euros, exibem espaços da sua intimidade em “programas de pornografia” sem bolinha.
Não! A vida de muitas pessoas arrisca-se a ser um reality show pegado. Em que as coisas que se vivem são réplicas daquilo que outros fizeram. Como se o prazer de uns se clonasse no prazer de outros. E se chegasse a ele pelo mimetismo, e nunca pela forma como se pensa e nos damos, ao prazer. As pessoas fazem lembrar aquilo que se passa com as crianças que parecem ser cada vez mais “hiperactivas”, porque vivem cada vez mais confinadas: em casa, nas novas tecnologias ou na sala de aulas. E que quando, de espaços a espaços, são soltas, parecem animais que vivem em cativeiro e correm e gritam – muitas vezes, sem nexo, de forma estéril e angustiada – como se amar a vida fosse, também, uma experiência que só pode ter um contorno orgástico de liberdade. Mas nunca resultasse de uma relação com ela ancorada no prazer.
O prazer, ao contrário daquilo que se diz, não é uma experiência orgástica. O prazer é uma experiência de comunhão entre duas pessoas. Que se confiam uma à outra. E que, sem prescindirem (uma e outra) daquilo que são – dos seus ritmos, dos seus sonhos e das suas dificuldades – encontram forma de tenderem para o infinito. O prazer são duas experiências de paixão a viver numa mesma reciprocidade. Prazer é, por isso mesmo, com-paixão. Compaixão! E liberdade. E é por isso que prazer e compaixão acabam por ser sinónimos. Porque é desse movimento de reciprocidade que nasce o amor. E (se o en-theos da sua etimologia fizer sentido) é dessa comunhão, que cria o prazer, que nasce a palavra portuguesa entusiasmo. Entusiasmo é “para dentro de Deus”; estar “em Deus”. Descobrir “o absoluto” nos braços de uma relação. É “ser Deus” por um bocadinho.
Porque é que, olhando para as pessoas, elas parecem cansadas, “a prender o burro” e cinzentonas? Porque por mais que dêem ares de arejamento e de serem “cabeças abertas” e tudo o mais com que entendam compor a sua imagem, vivem “presas”. E quanto mais presas mais fogem em direção a uma ideia orgástica de prazer que só as faz sentir mais sozinhas. Como se, sem nunca o dizerem, acabassem por sentir, um ror de vezes, que, mesmo quando fazem amor (que é uma expressão bonita e humilde que nos dá a entender que o amor precisa de muito “trabalho de equipa” da nossa parte) quase parecem passar pelas relações amorosas como se elas fossem um exercício de masturbação entre duas pessoas. Mas, muito raramente, a entrega (e o encontro) de duas pessoas que se dão ao prazer.
Chegados aqui, partir do pressuposto que todo o prazer é sinónimo de uma experiência orgástica, que ele viva duma relação comensal com a sexualidade e que, por causa disso, se conclua que o hedonismo é perigoso, é capaz de não ser nem prudente nem esclarecido. Mas falar do amor – como por vezes se fala – como se ele se acantonasse na sexualidade (por mais que isso seja o mais próximo do amor que muitas pessoas vivam) não será melhor. Até porque emancipar a sexualidade e tomá-la como sinónimo do amor é embrulhá-la em meias-verdades e mal entendidos. E onde, em vez da nudez recíproca do amor, com ela só a solidão se tornasse possível.
Houvesse um livro de reclamações no Céu e as pessoas deviam reclamar com quem interpreta “A palavra de Deus” como se o prazer devesse ser castigado. Quando, em bom rigor, é pelo prazer que se chega ao céu. É com prazer que se “está em Deus”. E é com o prazer que a vida deixa de ser um reality show e se transforma na liberdade de dois “colos” que se dão e se recebem: sem tempo; e sem parar.
Se o prazer nos traz de volta à verdade, ganharíamos se, em vez de falarmos dos perigos do hedonismo e da falta de valores, assumíssemos que, a bem da verdade, todo o prazer será premiado. O que faz com que, de forma única, descubramos que uma meia-verdade será uma forma de mentir, sem se faltar à verdade. Pode-se amar assim?