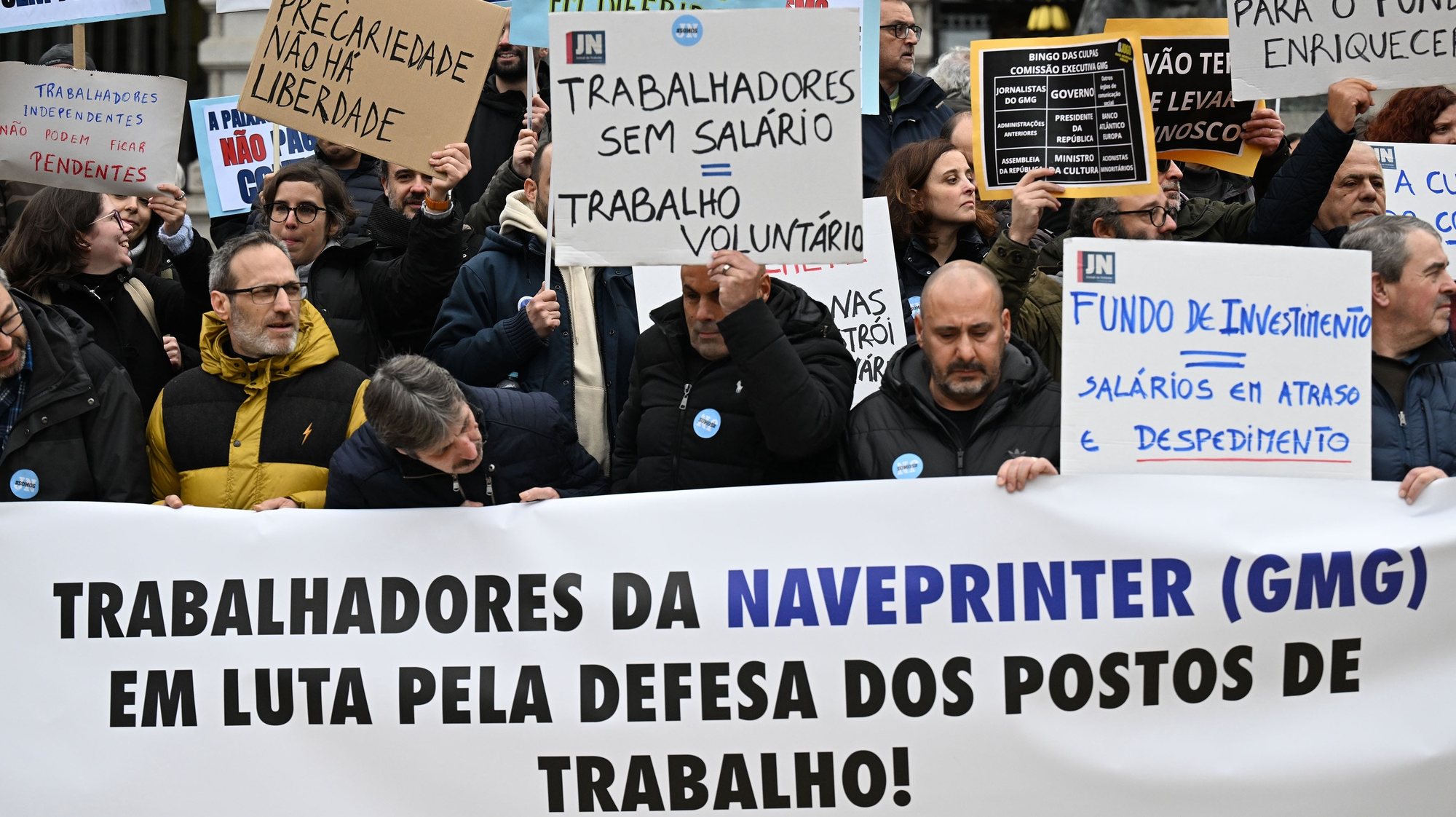Houve um momento em que senti que todos os meus filhos estavam a crescer: quando deixavam de aceitar o meu dedo indicador, para me “darem a mão”. Por mais que, a seguir, eles me deixassem agarrar a mão deles, pequena e frágil. Para, mais tarde, me rejeitarem (com o brio de quem me dava a entender “eu sou capaz!”). E passarem a tentar ser autónomos e a aventurar-se sozinhos. Sem ser preciso irem de mão dada. Por mais que me tivessem por perto.
Dar a mão e apertar a mão não andam tão longe um do outro como pode parecer. Se bem que um aperto de mão seja um degrau diferente. E represente duas pessoas — que, muitas vezes, se desconhecem — que, duma forma mais paritária que aquela que se passa entre os pais e os filhos, dão a mão uma à outra. Um aperto de mão não é bem um abraço. Mas — para mais, se for vigoroso — representa a forma de duas pessoas, sem hesitarem (e dum jeito claro e determinado), se olharem de frente, antes de confiarem a sua mão a um estranho; ao mesmo tempo que acolhem a dele. E representa, num plano simbólico, aquilo que de melhor define um património de humanidade. Um gesto em nome da confiança, da igualdade e da paz. Contra a solidão. E à margem da xenofobia.
Um aperto de mão pode ser “só” um aperto de mão. Mas haver quem profetize, em nome da assepsia, que, no futuro, deixaremos de apertar a mão uns aos outros, merecendo isso um assentimento tácito da nossa parte, faz com que, em muitos momentos, e a pretexto disso, me pergunte que mundo iremos dar aos nossos filhos, depois da pandemia. Porque, antes dela, me parecia que passávamos a vida a falar das crianças como se elas fossem de um supremo interesse para nós. Enquanto lhes atribuíamos, todos os dias, mais responsabilidades e lhes retirávamos mais direitos. Enquanto lhes exigíamos mais coisas e lhes dávamos menos tempo para as realizar. E esperávamos que elas tivessem mais sucesso enquanto íamos aguardando que errassem cada vez menos.
Mas, com a pandemia, o mundo ficou talvez mais claro naquilo que temos para lhes dar. E, ao contrário do que, de início, poderia ir acontecendo, o mundo não se está a tornar mais humano para as crianças. Porque, de um momento para o outro, elas passaram a “fugir das pessoas”, em vez de as encararem de frente, de se aproximarem delas e de lhes tocarem. E passaram a estar muitíssimo mais tempo fechadas em casa, em vez de se misturarem com outras crianças, de brincarem e de ousarem converter estranhos em amigos. E “deixaram” a escola e passaram a frequentar o ensino doméstico, sem direito a um professor de carne e osso, sem recreio e sem direito a todos os sentidos que só a relação de face a face lhes pode dar. E passaram a viver “fechadas” nas novas tecnologias. E, como se isso lhes fosse indiferente, passaram a escutar palavras proibidas que não podem tornar-se uma banalidade de todos os dias: como distanciamento e confinamento. E a ter em instrumentos que lhes facilitam a vida — como aqueles que a Google, Facebook, Amazon ou Apple lhes disponibilizam, por exemplo — recursos que lhes roubam o direito ao segredo e à privacidade e que, para mais, as instrumentalizam. E como se não fossem protegidas em excesso (e frágeis, por causa disso), isso tudo associado a esta atmosfera que faz com que os países se tornem vigilantes, em nome de uma certa esterilização colectiva — e passem por cima de direitos, de liberdades e de garantias — faz com que elas tivessem passado a viver num contexto um bocadinho esquizofrénico. Porque, ao mesmo tempo que lança medidas “higienistas” para o seu bem, não deixa de ir atentando contra ele, a pretexto delas, vezes sem conta. E isso tudo torna as crianças mais frágeis. Mais inseguras. Mais desconfiadas. Mais agitadas. Mais confinadas! E menos capazes de pensar pela sua cabeça.
Ao mesmo tempo, houve muitas palavras que, por influência inquietante da psicologia, têm vindo a deixar de fazer parte do dia a dia de todos nós. Como pensamento ou amor. Como conflito. Como morte ou como medo. Como dúvida. Ou como paixão. Sendo, muitas vezes, substituídas por um ideal de controle da vida mental — do género: “funcione mas não pense” — que faz com que, hoje, sempre que uma criança tem medo, esteja triste ou fique ansiosa quase nada se pense e quase tudo se medique. Sendo que, mais do que nunca, é acenada uma raiz genética para quase tudo que intimida a transformação humana e que obstrói a capacidade de pensar.
O desafio que, hoje, se coloca aos pais será o maior que talvez a Humanidade já terá conhecido. Higienização. Distanciamento. Desconfiança. Solidão. Desigualdade. Controle. E devassa da privacidade. Com tantas realidades (estranhas…) a concorrer umas com as outras; e com uma onda “silenciosamente” tão totalitária e tão colectivizante a estender-se sobre eles; o que esperamos dos nossos filhos, quando eles puderem voltar a ser livres? Esperaremos nós que eles sejam só certinhos, consertadinhos e atilados? E que o seu crescimento seja comedido e frugal? Onde ficam a inquietação, a rebeldia e a paixão dos nossos filhos, quando pensam? Para onde caminha a sua liberdade?
Que os pais não se insurjam contra a forma como espatifamos o planeta já me surpreende. Que não se zanguem com aqueles que — por ganância ou por incapacidade — comprometem a economia dos países, “naveguem à vista” e, depois, se desculpem com a culpa dos “outros” ou com a responsabilidade dos “mercados”, já não se entende. Mas que não assumam que a família tem de ser a “bolsa de resistência” para tantas atrocidades que comprometem o futuro de todas as crianças, não pode ser! O futuro será sempre um lugar melhor. Mas, neste momento, parece ser um sítio à procura de lugar nas nossas prioridades de pais. O que, apesar de tudo o que concorre para comprometer o que desejamos para eles, não pode fazer com que desistamos de considerar o que entendemos ser indispensável para que os nossos filhos cresçam bem. Até porque o confinamento do seu crescimento começou muito antes da pandemia! E a nossa obrigação de os desconfinar não pode, nunca, parar ou sossegar.
Ontem, como hoje, precisamos que os nossos filhos não percam de vista que todas as transformações humanas se fizeram em favor da proximidade. Contra as desigualdades, contra a solidão e em nome da felicidade. Ontem, como hoje, precisamos que eles tenham “bicho carpinteiro, “a vista na ponta dos dedos”, “língua de perguntador” e que perguntem “porquê?” E precisamos que tenham tempo para ser crianças. Tempo para brincar. E tempo para crescer. Ontem, como hoje, precisamos que os nossos filhos corram, se sujem, tenham “a cabeça no ar” e andem à bulha. Ontem, como hoje, precisamos que tenham voz e tenham regras! E que não tenham mais escola mas melhor escola. Ontem, como hoje, ganhamos que os nossos filhos tenham muitas pessoas ao seu lado, enquanto crescem, dando-lhes a mão. Porque – ontem, como hoje – uma criança não é educada por uma aldeia; mas por muitas mais pessoas: por um “mundo”! Ontem, como hoje, precisamos que os nossos filhos tenham quem lhes estenda a mão. Quem lhes dê a mão. E quem lha aperte. Porque só assim serão capazes de crescer com os outros. E só assim serão livres. De cada vez que ousem pensar.
Mas, para isso, precisam que – nós, os pais, de forma cúmplice – “decretemos” o estado de calamidade para as crianças. E passemos a fazer uma espécie de “cerca sanitária” a esta quantidade de coisas que ameaçam com mais confinamentos, mas silenciosamente, o futuro dos nossos filhos. Trabalhando, de forma “militante”, para que possam aventurar-se para longe de nós. Sempre que não percam de vista que o perto se faz com as mãos que damos uns aos outros. E que – só assim! – nos trazem de volta à liberdade.