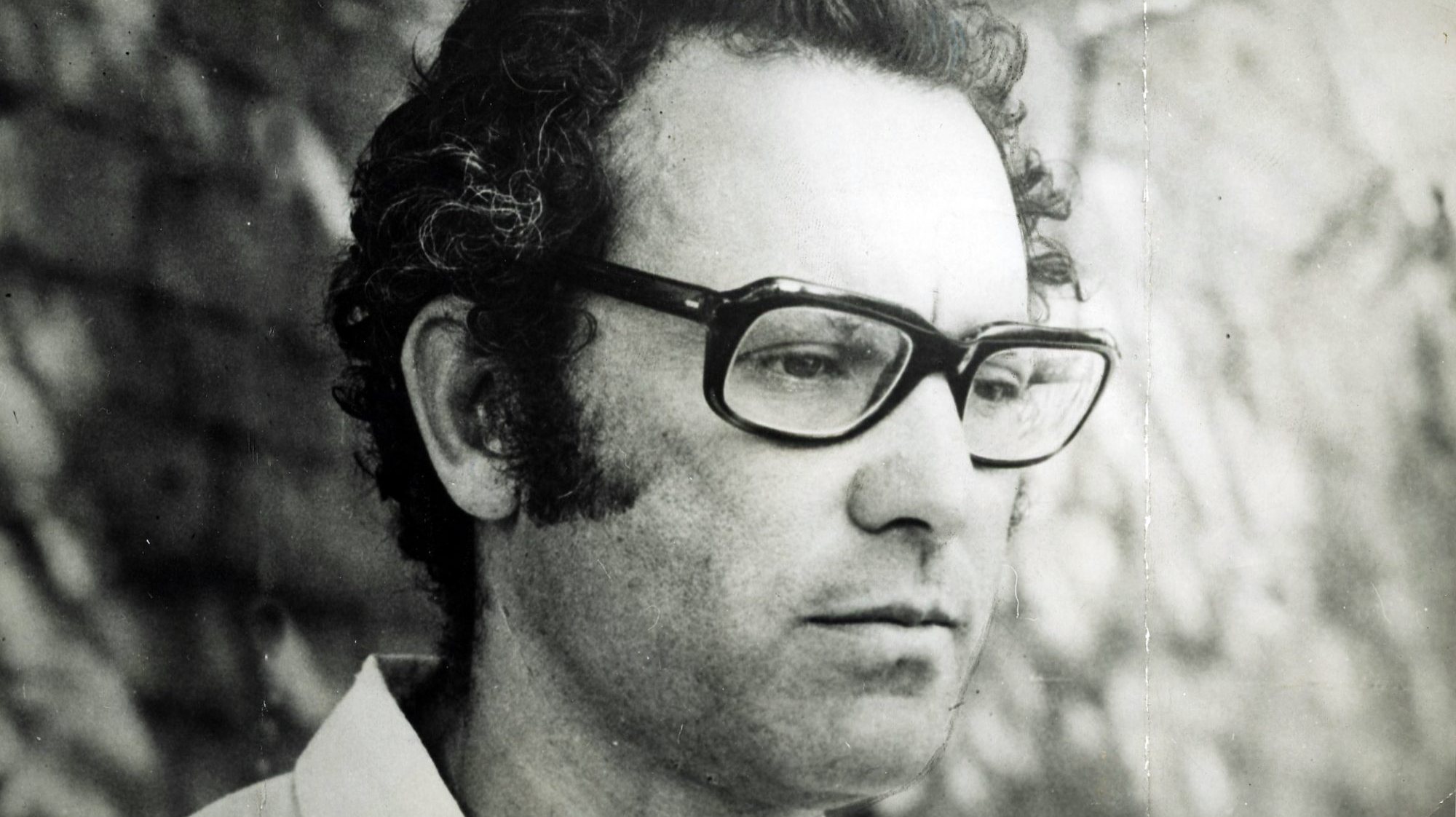Quando os três primeiros episódios de “The Handmaid’s Tale” se estrearam em abril de 2017 ficou no ar a sensação de que estávamos perante uma série revolucionária. Revolucionária não no sentido da forma, do contar uma história, mas em como fazer soar ficção científica a realidade. Em parte, isso foi conquistado por uma associação às mensagens de Donald Trump, à real misoginia da sociedade e, sobretudo, a outra coisa que surgia nas entrelinhas e que foi sempre paralela à trama principal: a reversão da História. A presença desse elemento em “The Handmaid’s Tale” é forte e agora, na quarta temporada, é o principal motor da série. Os novos episódios chegam ao NOS Play esta quinta-feira, dia 29, um dia depois da estreia nos Estados Unidos.
Já houve razões para desconfiar da capacidade desta série em captar a nossa atenção, contudo. A primeira temporada de “The Handmaid’s Tale” é um arranjo perfeito de como contar uma distopia no pequeno ecrã. Direta, rápida e extremamente eficaz a apresentar Gilead ao espectador — a versão daquela realidade dos Estados Unidos — e de explicar o motor da narrativa: as Handmaid’s, encabeçadas por June (Elizabeth Moss), são criadas que servem apenas para gerar e trazer crianças a um mundo desumano, decadente e humilhante. A adaptação do romance homónimo de Margaret Atwood, publicado originalmente em 1985, é exemplar a contar como se constrói a perda da humanidade.
Gilead é uma sociedade patriarcal que tirou o poder e a vontade às mulheres e criou uma falsa versão do passado no futuro. Em 2017, este futuro não parecia ficção científica. Também não era a realidade, mas assemelhava-se à vontade de muitos. Desde então as coisas não melhoraram, mas talvez o choque de “The Handmaid’s Tale” seja agora menor porque a ideia de reversão está tão presente em algum discurso político e público. A pandemia, claro, ajudou.
[o trailer da quarta temporada de “The Handmaid’s Tale”:]
Nas primeiras duas temporadas a série foi alimentada pelo desejo de fuga de June. Sair de Gilead, ir para o Canadá, reencontrar-se com o seu marido, levar a sua filha e o seu recém-nascido. Nesse aspeto, o final da segunda época foi um duro murro no estômago. O que movia “The Handmaid’s Tale” até então era a fuga de June, encontrar um outro caminho, procurar o fim da sua odisseia. Num gesto de total falta de empatia com o espectador, a série retira-lhe esse prazer e faz com que June recue na sua decisão de fugir, volte atrás. Para o seu pesadelo. Se inicialmente essa é uma decisão de continuar a fazer render a marca “The Handmaid’s Tale” (uma quinta temporada já está planeada), a meio da terceira percebe-se que há ali outra coisa qualquer. E os primeiros episódios desta quarta confirmam.
Se inicialmente o centro de “The Handmaid’s Tale” era a jornada de June, o seu percurso, a sua salvação, a personagem de Elizabeth Moss aprende depois que tem de mudar. Que pode começar a revolução e alterar tudo. Se durante a terceira temporada é algo penoso assistir ao processo de mudança – porque, enfim, é preciso aceitar que tudo mudou depois da falsa catarse dos episódios finais da segunda temporada, até porque o argumento deixa de ser baseado no original de Atwood e passar a ser escrito de propósito para a televisão –, quando a mudança se dá, a série volta a tornar-se vigorosa, relevante, com uma poderosa mensagem antissistema e a assumir o que quer dizer: que se pode mudar o mundo, mesmo quando ele parece inalterável. Como em Gilead.
Gilead é uma excelente construção. Convence-nos que aquele pequeno microcosmos é um planeta inteiro dentro de “The Handmaid’s Tale”. É uma maravilha da ficção científica, que aprisiona o próprio espectador na impossível resolução daquele universo. Ou seja, que o mundo não mudará e que o melhor que se pode esperar é que June escape. E o melhor que pode acontecer é June salvar as suas amigas, as crianças e a ela própria, abalando todo aquele mundo? Essa é a verdade da segunda metade da terceira temporada e aquela com que arranca a quarta.
“The Handmaid’s Tale” tinha tudo para não sobreviver ao duro golpe que aplicou ao espectador no final da segunda temporada. A típica sensação de fazer render a série tornou a ideia da produção irrelevante. Contudo, algures nesse desejo de continuar a manter a história a circular e de manter June como figura principal da narrativa, foi encontrada uma forma de convidar o espectador a deixar de a ver como uma vítima e a pensar nela como uma heroína, uma revolucionária. Que o mundo/Gilead pode cair com a vontade e força de uma pessoa. Em 2021, e nesta quarta temporada, June convence-nos que pode reverter a própria reversão da história. E, como quem não quer a coisa, também convence de que a realidade não precisa de caminhar para “The Handmaid’s Tale”. Pode ser uma outra coisa que não uma distopia.