Um soldado atirador conta que foi ferido três vezes num só combate. A terceira foi pior porque levou com estilhaços de uma granada, ficou muito ferido e chegou a ser dado como morto. Mas não morreu e a pólvora que tinha entrado no seu corpo demorou vinte e sete anos a sair. Durante quase trinta anos, este homem literalmente exsudava pólvora, tal como exsudava ideias de assassínio e suicídio numa girândola louca entre euforia e depressão. No fim pergunta-se, pergunta-nos, num misto de desespero e resignação: “Eu quero levar a vida para a frente, mas como é que eu chego lá?”.
Este soldado é um dos muitos que o escritor e psicólogo Vasco Luís Curado ouve há 10 anos, cujas “experiências interiores”, usando a expressão de Ernst Jünger, ele coligiu no livro Declarações de Guerra – histórias em carne viva da Guerra Colonial, que acaba de sair na editora Guerra&Paz. São 48 monólogos de ex-combatentes das várias frentes da Guerra Colonial, 48 feridas reabertas pela via da palavra, que saltaram do contexto clínico para um livro que se recusa a ser encerrado num género; não é certamente um manual de psicologia e não há um só momento em que a experiência destes homens seja “psicologizada”, isto é, interpretada pelos muitos lugares comuns e perversões que a entrada do discurso da psicologia no quotidiano tem promovido. Também não é uma reportagem, apesar de lidar com factos reais. A forma deste livro é, se quisermos, o estilhaçamento.
Cada uma destas histórias é um fragmento de pólvora projetado sobre nós, sobre a nossa História. Este é um livro composto de estilhaços de homens que foram mandados para a guerra quando eram pouco mais do que adolescentes, na sua maioria camponeses, quase analfabetos, pobres. Aqueles que não puderam fugir para um exílio em Paris ou na Argélia, aqueles que foram cantados por Fernando Assis Pacheco e pouco mais. Aqueles que regressaram a um país que lhes apagou a voz e os mandou chorar para um gabinete de psicologia ou psiquiatria. “Em Portugal as pessoas conhecem e comovem-se com as histórias da guerra do Vietname que a América conta, mas não se conhecem as histórias de bravura, morte, trauma do vizinho, do tio, do avô que esteve no Ultramar. Estes homens são o espelho de um país que recalcou a violência da sua história e que depois de 560 anos de conquistas ultramarinas quis arrumar a guerra que lhe pôs fim numa nota de rodapé. Esta guerra não caiu do céu, ela foi o culminar de uma aventura violenta”, diz Vasco Curado em entrevista ao Observador.
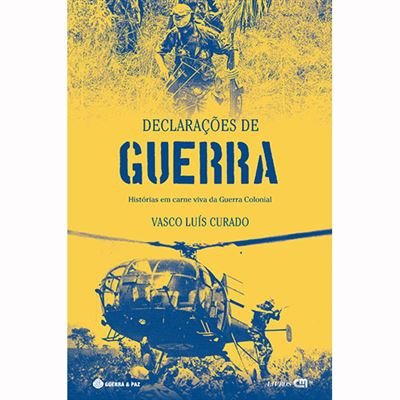
“Declarações de Guerra”, de Vasco Luís Curado (Guerra & Paz)
As vozes que ouvimos ao longo deste livro assemelham-se mais ao Coro numa tragédia antiga, a personagem coletiva que diz aquilo que ninguém quer ouvir, que lembra o que há de tenebroso na vida humana e que, em geral, é a parte mais significativa da narrativa. Sobre este livro, Margarida Calafate Ribeiro, titular da cátedra Eduardo Lourenço na Universidade de Bolonha e coordenadora do projeto europeu “Memoirs-Filhos do Império e Pós-memórias Europeias”, escreveu:
(…) creio que nunca a Guerra Colonial nos foi transmitida de forma tão pessoal, tão íntima e tão brutal como nestes curtos mas incisivos retratos elaborados por Vasco Luís Curado. Em cada agonia destes depoimentos espelha-se o drama coletivo dos que viveram a guerra no terreno e que no pós-guerra foram deixados ao abandono. E é através deste excesso de memória individual contra a falha da memória coletiva que emerge nestes sujeitos a consciência do grande logro em que estiveram envolvidos, a “old lie” de todas as guerras de que falava o poeta inglês da Primeira Guerra, Wilfred Owen: “The old Lie: Dulce et decorum est / Pro patria mori” ”
[Retratos de Guerra, newsletter do projeto Memoirs de 29 de Março de 2019]
Declarações de Guerra lembra-nos, de certa forma, o filme “Vidros Partidos” (2012), que o cineasta espanhol Víctor Erice fez reunindo depoimentos de ex-trabalhadores da fábrica de fiação Rio Vizela. Sob a simplicidade aparente destes testemunhos agora transformados em literatura, pergunta-se a estes homens quem são eles na sua memória, que país é este que apagou as suas vozes, a sua dor, a sua revolta. E tal como o filme de Víctor Erice foi a única justiça que aqueles trabalhadores conheceram em vida, também estes combatentes esperam que os leitores se disponham a ouvi-los neste livro e assim deem algum sentido à vida que lhes foi retirada em nome da pátria.

Vasco Luís Curado, 47 anos, é autor de quatro romances e um ensaio. É psicólogo clínico e trabalha com combatentes há 10 anos
Como escreveu Maria Filomena Molder sobre o filme de Erice, no ensaio “Verdes Folhas, Verdes Mágoas”*, “trata-se de conseguir erguer-se da própria dor pelo contar dela”. Vasco Luís Curado deu a estes combatentes a possibilidade de se erguerem ao colocarem a sua dor em palavras. As palavras que lhes permitem rememorar, repor, reparar. Como diz Molder citando Hermann Broch: “sem a palavra não há testemunho, nem responsabilidade”. Ora, as narrativas, tantas vezes asfixiantes dos combatentes não nos concedem entrada apenas na sua experiência interior, individual, mas também nos concedem acesso aos rostos e às histórias dos mortos, à nossa experiência coletiva. E este será, provavelmente, um dos aspetos mais importante neste livro de Vasco Luís Curado: ele visa fazer falar os vivos e os mortos, não apenas os da Guerra Colonial mas todos aqueles que tombaram na nossa aventura imperial, todos os que enlouqueceram, que mataram, que chacinaram ao longo de cinco séculos de um império que nunca foi posto em causa até aos anos 40 do século XX.
Estes homens recrutados para a guerra a partir de 1961 eram quase crianças, na sua maioria saídos dos miseráveis meios rurais portugueses, pobres, quase analfabetos. Eram os últimos dos últimos, porque os mais escolarizados ou de classes sociais mais elevadas conseguiam fugir e exilar-se. No entanto, depois do 25 de Abril, os exilados políticos conquistaram em Portugal um estatuto de heroicidade do qual se fazem valer até hoje. Uma heroicidade que sempre foi negada a estes combatentes que depois da Revolução foram rotulados de fascistas, de imperialistas, etc. Eram os últimos dos últimos e continuaram a sê-lo porque nem o estatuto de vítimas lhes concederam. Hoje reclama-se justiça para os escravos, mas quem reclama justiça para estes homens ainda vivos, ou parcialmente vivos, porque muitos deles voltaram emocionalmente mortos?

Um grupo de homens considerados rebeldes a ser capturado por militares portugueses em Angola (Foto Weber/Getty Images)
No poema You Are Welcome to Elsinore, Mario Cesariny escreveu: “Entre nós e as palavras o nosso dever de falar”, mas aqui, perante estas declarações de guerra, sob as quais pressentimos homens destroçados, reféns de uma revolta impotente, outros psicopatados descarregando a violência sobre as mulheres e os filhos, outros procurando na religião ou na política um sentido para o que não tem sentido nem nunca terá, aqui o nosso dever é ouvir. Por isso falámos com o escritor sobre este livro.
O que o levou a escrever este livro para lá do contacto profissional com os ex-combatentes?
Sempre me interessou a história colonial e, naturalmente, a forma como acabou o Império Colonial português. E sempre me interessou a circunstância da guerra, a situação concreta do combate e como esta altera os comportamentos das pessoas. Quis, também dar um contributo para demolir a ideia salazarista do povo de brandos costumes, vincando, na introdução do livro, a ideia de que o país no seu todo, assumindo-se como nação organicamente imperialista, foi combatente durante muitos séculos.
Declarações de Guerra surge depois de O País Fantasma (D. Quixote, 2015), em que já abordava a guerra colonial e o colonialismo. Os colonos e os militares são, no fundo, as duas faces da nossa história imperial?
Os colonos edificaram uma sociedade europeia nos trópicos. Os militares tinham por missão defender esse estilo de vida colonial e os proventos auferidos pela Metrópole. Com o 25 de Abril, ocorre uma tentativa de colocar sobre estes protagonistas mais expostos, os colonos e os combatentes, todas as culpas, como se o país, no seu todo, não tivesse sido colonialista e imperialista.
Em ambos os livros a violência é a grande questão. A violência como a principal mola da vida material e psíquica do humano, não obstante todo o refinamento social que a visa controlar. A guerra é um contexto em que essa violência animal emerge. O que é a guerra como experiência interior?
Tirando o caso excecional dos combatentes que se pervertem, isto é, para quem quanto pior melhor, o sentimento predominante é o de realizar a missão e voltar dela com o sentimento de dever cumprido. Mas as coisas complicam-se. A situação concreta de combate, de ocupar um território estranho e enfrentar um inimigo também armado, mobiliza pulsões habitualmente adormecidas na vida social comum, como o gosto pela aventura e o risco, o instinto de sobrevivência, o impulso predatório de triunfo e domínio, o contágio do desejo de vingança, numa espiral da qual não se pode sair igual ao que se era. Representa um contraste profundo com a família de origem e a sociedade civil a que se regressa, uma experiência que só pode ser partilhada por quem também passou por ela.
Na introdução defende a necessidade de “interpretar” a guerra colonial portuguesa. Pode explicar melhor de que “interpretação” fala?
Portugal definiu-se como nação organicamente imperialista há vários séculos, esta guerra colonial foi apenas o último episódio, a juntar a centenas de outros. As epígrafes que escolhi para o livro refletem isso mesmo: perdido o Brasil, em 1822, logo nos voltámos com forças renovadas para África, e em 1961-1974 vivíamos ainda um impulso que começara em 1415 com a conquista de Ceuta, uma conquista que teve características de expansão económica e de guerra santa anti-islâmica.
Depois de dez anos a trabalhar com ex-combatentes, o que pensa sobre a forma como esta experiência coletiva e individual tem sido encarada pela história, pela política, pela arte?
O 25 de Abril, apesar de ter sido um golpe militar operado por veteranos da guerra colonial, conduziu a uma sociedade que tem sido injusta para com os combatentes, lidando com estes de duas formas: culpabilizando-os, como se a culpa fosse individual e não nacional, ou ignorando-os, porque eles são inconvenientes para um país que se quer mascarar como de brandos costumes, tolerante, não racista. O Portugal democrático, e ainda bem que é democrático, quer recalcar o seu passado colonialista e tudo aquilo que os combatentes lhe relembram. Mas os combatentes e os desalojados do Ultramar, os famosos retornados, aí estão, as suas histórias são como o retorno do recalcado, aquilo que quisemos retirar da consciência mas que regressa, insiste em reaparecer.

Soldados portugueses a velar um morto numa capela de zinco. Foto foi oferecida a Vasco Luís Curado pelo combatente Manuel Amaro Cristo Conceição
Como é que se pode dar sentido a uma experiência destas numa sociedade que muitas vezes não a reconhece ou que prefere ignorá-la?
Os combatentes, depois de obrigados a ingressar nas forças armadas e a combater, foram forçados a sentirem-se culpados ou envergonhados por terem combatido. Uma dupla contrariedade. Isolados do resto da sociedade, que não quer integrar a sua experiência, porque esta passou de honrosa a vergonhosa, os combatentes não têm a tarefa facilitada. Cada movimento que a sociedade fizer para reconhecer estes homens ajudá-los-á a dar sentido à experiência de combate.
O diagnóstico de “stress pós-traumático” é um grande chapéu que serviu para aliviar algumas consciências, mas a problemática destes homens é muito mais complexa…
Depois de muitos anos, os decisores políticos promoveram avaliações médico-legais para determinar doenças psicológicas decorrentes do serviço militar no Ultramar. Depois de obrigarem os combatentes a sentirem vergonha de o serem, eis que os governantes condescendem, envergonhadamente, em dar-lhes algum reconhecimento. Isto conduziu milhares de combatentes a um novo combate: comparecer a exames psicológicos e psiquiátricos, apresentar testemunhas, esperar vários anos por respostas de gabinetes ministeriais e secretarias militares. Acresce que o stresse pós-traumático é um constructo complexo, com critérios de diagnóstico que nem todos os examinandos cumprem. Mas é um diagnóstico psiquiátrico que goza de prestígio mediático, obscurecendo outros diagnósticos possíveis e, até, obscurecendo o facto de que a maioria dos combatentes não tem qualquer doença psicológica decorrente do serviço militar.
O que pensa de Portugal ter apagado aos capitães de Abril a sua intervenção como combatentes na Guerra Colonial e ter criado em torno deles uma aura romântica de heróis rebeldes de cravo na mão quando, na verdade, a experiência de Guerra no Ultramar é que foi decisiva para o golpe de estado do 25 de Abril?
Esse apagamento dos capitães de Abril como veteranos da guerra colonial resulta do recalcamento que o Portugal democrático faz do seu passado colonial. Além disso, os políticos do pós-25 de Abril quiseram apropriar-se do feito notável que foi pôr fim à ditadura, menorizando os seus principais autores: veteranos da guerra colonial, cansados desta e conscientes de que a guerrilha não tem solução militar, mas política. Os capitães de Abril sabiam que o regime ditatorial ia continuar a prolongar ao máximo a guerra e repetir a canalhice com que se reagiu à perda da Índia portuguesa em 1961: sacrificar os militares e, quando tudo estivesse perdido, pôr a culpa nestes. Para que tal não sucedesse, só restava aos militares remover políticos tão incompetentes.
A guerra é uma experiência de proximidade com a morte, com a nossa fragilidade, com o sofrimento, mas também com tabus como o prazer de matar, a sede de vingança, a crueldade gratuita.
Sublinho isso na introdução do livro. A mobilização militar em massa faz de cada soldado uma célula de um organismo maior, cada soldado trabalha em prol de objetivos coletivos, da pátria. No entanto, depois de desmobilizado, o soldado tende a assumir como individual uma responsabilidade que tinha sido coletiva, o que pode ser um fardo difícil de suportar. Claro que aqui não cabem os psicopatas, que já o eram antes da guerra e que fizeram mais do que o que lhes fora ordenado. Fizeram, por assim, dizer, uma guerra de um homem só.
Estes discursos na primeira pessoa marginam tantas vezes a loucura. Dir-se-ia que muitos destes homens enlouqueceram nesse fim abrupto da sua infância no mato africano. E que só loucos ou parcialmente loucos puderam regressar e integrar a vida “normal”.
A situação concreta de combate altera violentamente tudo aquilo a que o combatente se habituara na sua vida pré-mobilização: não vive na ilusão da segurança, que é tão importante na vida normal, vê-se na contingência de ter de matar para não morrer, e quando não está no calor do combate está a sofrer uma guerra de nervos, uma espera, uma expectativa ansiosa. A ingestão de álcool e de speeds, o contágio de emoções violentas, ajudam a suportar um tal ambiente. Enlouquece-se, ou está-se aparentemente louco, porque se faz o que, estatisticamente, na vida civil, é raro, incomum, pouco frequente. Ser-se louco, em ambiente de guerra, é uma adaptação a uma situação louca, que é a própria guerra. Isto levanta dificuldades na transição para a vida civil.
Neste coro de vozes de homens esmagados pela guerra e depois pela vida, o que fica é a nossa perceção da fragilidade, da impotência, que se eleva acima da violência dos seus discursos.
Recordo uma frase compassiva de Jaroslav Hašek, em O Soldado Švejk: “Um soldado é apenas um homem arrancado ao seu lar”. Ele estava a referir-se aos milhões de mobilizados obrigatórios da Primeira Guerra Mundial. O quase um milhão dos nossos mobilizados da Guerra Colonial evoca a mesma situação.
Ao ouvirmos estes homens, as suas histórias que se repetem, a asfixia da violência a que foram sujeitos e da violência que passaram a carregar dentro de si, é impossível não pensar em como durante estas décadas essa violência se disseminou nas suas famílias.
Vários fatores concorrem para isso. Tirando o mais óbvio, que é a irritabilidade e as explosões de cólera como sintomas pós-traumáticos, há o não-dito, aquilo que o combatente cala, por sentir que só outros combatentes podem compreender, o que exclui a família direta. O não-dito, como novo recalcamento, tem o potencial de gerar distorções, equívocos, formas grotescas de retorno do recalcado, assombrando a vida familiar.
Considera que é por isso que só agora a arte, a literatura, o cinema começaram a olhar de frente a guerra colonial? Ou ainda não o fazem?
Penso que o aumento da distância temporal favorece o aparecimento de obras criativas, e também de reportagens, estudos históricos, investigações académicas. O momento político é outro, é possível ir levantando o recalcamento e caminhar em direção a algum equilíbrio na forma de julgar o passado nacional. A maioria das pessoas que cria estas obras não participou na guerra, nem no golpe militar que lhe pôs fim, tem menos envolvimento pessoal e pode, por isso, fazer abordagens mais descontaminadas de ideologias ou de interesses sub-reptícios.
Que opinião tem sobre a literatura pós-colonial feita em Portugal nas últimas décadas?
Embora eu esteja longe de conhecer tudo o que se tem produzido, arriscaria distinguir duas grandes categorias: a que nos dá um Império Colonial de bilhete postal, que muito agradaria à propaganda do regime colonialista, e a que formula um juízo crítico sobre a realidade colonial ou, pelo menos, não doura ostensivamente a pílula. É curioso que, ainda em plena época imperial, no século XVI, escreveram-se dois livros geniais que já representam aquelas duas tendências: Os Lusíadas, de Camões, que glorifica os feitos épicos portugueses, embora lá caiba a denúncia de uma cobiça pouco gloriosa, e a Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, que mostra o que era realmente a vida do marinheiro, do aventureiro, do viajante, do pirata. Oscilaremos sempre entre essas duas tendências, embora os tempos políticos atuais favoreçam mais a segunda.
Neste livro podemos ver estes homens em dois tempos distintos: a sua juventude na guerra e a sua idade avançada nos dias de hoje. O uso destes dois tempos torna as histórias ainda mais dolorosas, porque vemo-los jovens e voluntariosos, ingénuos mesmo e hoje já envelhecidos a olharem simultaneamente para o que foram e o que são.
Agrada-me aquela ideia de que, ao longo da vida, conservamos todas as idades que já tivemos, todos aqueles que fomos sendo em diferentes etapas e contextos. Eu tive acesso, não à experiência concreta de guerra, mas a relatos narrativos retrospetivos, feitos mais de quarenta anos depois. Falei com homens maduros ou idosos que contemplam o jovem combatente que foram e que, em parte, ainda são, até porque não há ex-combatentes, há combatentes. Alguns de modo mais evidente, outros de modo mais subtil, foram modificados pela experiência. Muitos transpuseram para a vida civil o que aprenderam na guerra. Muitos já morreram. No fundo, a vida é a mãe de todas as guerras.
*Molder, Maria Filomena: “Green Leaves, Green Sorrows, Thinking Reality and Film Through Time”, Cambridge Scholars Publishing, 2017


















