Em julho de 1959, Agustina Bessa-Luis e outros autores portugueses participaram num congresso de escritores, no sinistro e altaneiro castelo de Lourmarain, em Aix-en-Provence, no sul de França. Um encontro patrocinado pelos EUA que, em plena Guerra Fria, procuravam apoio junto dos intelectuais europeus. Agustina fez o discurso representando Portugal. Causou polémica e foi chamada de fascista, coisa que a terá feito rir, como confessará numa das cartas ao poeta argentino, de origem inglesa e italiana, Juan Rodolfo Wilcock, outro dos presentes no encontro, outro tão exasperado e entediado como ela.
“Você ria-se sempre e ia dormir, mas eu […] tinha sempre um punhal na minha nuca de tanto que eu julgava possível toda a estupidez, e o que eu devia era empenhar-me a dar socos a tudo isso […]”, lembra-lhe Agustina na primeira carta. Ao que o poeta responde: “…tampouco eu me ria do congresso, o qual me produzia uma extraordinária tristeza e desesperação; ria-me somente do prazer de estar ao seu lado.”

Josep Maria Castellet; Agustina Bessa-Luís e Camilo José Cela em visita a Les Baux-de-Provence, 1959. © Arquivo de família
Nesse tipo de evento, Agustina nunca se coibia de ir comentando em voz baixa, ou alta, aquilo que era dito nos púlpitos, que passava nos ecrãs, que observava em redor. Dona de um à-vontade sem igual, de uma segurança quase “sobre-humana”, como escreveu Hélia Correia, ela permitia-se sempre “brincar, ludibriar, sorrir, mostrar caprichos, simular confidências, numa leviandade perigosa, principesca (…) todo sabem que anda ali um perigo e ninguém sabe exatamente que perigo é.”
Porém, o excêntrico poeta e escritor argentino, homossexual, libertino, provocador, tão apto a fazer inimigos quanto Agustina, será aquele que nunca se deixará intimidar por ela. Resiste à sua corte, não aceita que ela o transforme numa personagem de romance e, de certa forma, mostra-lhe que é tão perverso, caprichoso e principesco quanto ela. O que sobrou dessa amizade, que mais do que uma afinidade eletiva, foi um profundo fascínio mútuo e cinquenta em sete breves cartas, todas escritas em castelhano, encontradas nos espólios de ambos.
Lourença Baldaque, neta de Agustina,traduziu e coligiu essa correspondência entre duas criaturas singulares. O livro, agora publicado pela Relógio d’Água, tem um prefácio bastante profícuo do tradutor Ernesto Montequin, onde é desvendada a vida e a personalidade do poeta argentino, nunca traduzido em Portugal. Mas sobretudo esta obra vem dar-nos a conhecer uma outra Agustina; aquela que só se desvelava aos muito próximos: carente, insegura e, sobretudo, profundamente solitária, resistindo aos dias, aos desencontros, às desilusões, com a persistência mineral das dunas da praia de Esposende, que ela via de sua casa, onde durante anos esperou inutilmente a visita de Juan Rodolfo Wilcock.
“De todo o tempo do nosso encontro, o melhor de Lourmarin, porque eu não desejava conhecê-lo e estava quieta, não de todo sozinha, não de todo acompanhada. Depois tomou-me o de sempre, o receio e a dúvida pelo seu encanto. Isto acontece-me sempre com as pessoas agradáveis, procuro nelas a burla, a malícia e a razão de as converter em monstros. Quando isto acontecer outra vez, recordar-me-ei de Lourmarain, das nossas refeições quase sem dizer palavra, do belo que era ver que se ria no meio da majestosa mediocridade de todos, creio que todos. A mediocridade que sempre é tão séria!(…)” [excerto de carta de Agustina a Wilcock, 28 de agosto de 1959]
O Observador conversou com Lourença Baldaque, também ela escritora e editora, que nos desvenda um pouco este livro.
O que é que podemos descobrir sobre Agustina, nesta correspondência com o poeta argentino Juan Rodolfo Wilcock?
Por um lado, reencontramos uma Agustina aberta ao conhecimento e alegre, seja com as suas descobertas literárias, seja por escrever e viajar. Por outro lado, descobrimos uma Agustina melancólica, diria até desiludida, não só em relação ao seu país como ao meio literário num sentido mais lato. Este foi um período na sua vida certamente com muitos desafios, pelo facto de sofrer pressões em relacionar-se com certas ações políticas espelhadas na cultura, quando Agustina procurava essencialmente uma independência. Vê-se que se envolveu em congressos internacionais culturais e com uma vertente política, mas quando sentia a pressão de ser uma coisa com que não se identificava reagia, saía de cena.
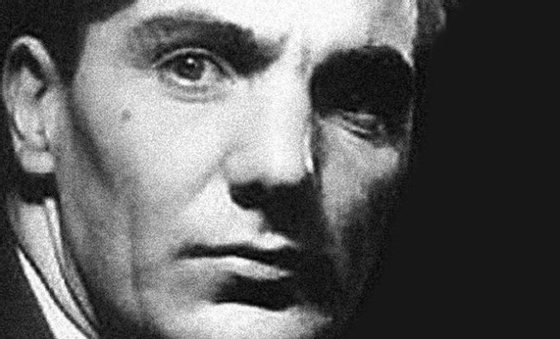
Juan Rodolfo Wilcock (1919-1978) foi ao congresso de Loumarin na qualidade de correspondente das revistas “Il Mondo” e “Tempo Presente”
Agustina escreve numa das cartas: “Os meus inimigos relambem o focinho por me morderem a todas as horas, porque eu escrevo, porque não escrevo, onde, e sob que bandeira.” As pressões, a que Agustina não quis ceder, criaram-lhe alguns dissabores e inimizades, e isso está patente nesta correspondência creio que de uma forma algo inédita.
Suponho que a minha avó não se reconhecesse em muito daquilo que se passava no país. Embora tenha escrito sobre o país, creio que havia também alguma distância, talvez por isso tenha conseguido analisar tão bem este povo. Mas depois, também é justo dizer, encontramos na sua biblioteca uma oferta com dedicatória de um livro de Ary dos Santos, A liturgia do sangue, que efusivamente a saúda em dezembro de 1963. Ou seja, a sua forma de estar era respeitada por muitos outros.
Penso naquela fala em Ulisses de James Joyce: “We can’t change the country. Let us change the subject”. A minha leitura é esta, de que havia alguma descrença em relação ao sentido de liberdade que tantos reclamavam. Penso que Agustina, nesta correspondência, reclama essencialmente por uma liberdade interior.
“Exigente amiga, não fazia falta dizer-me que a minha companhia lhe foi por vezes desagradável. O que me obriga a responder-lhe que a sua me foi sempre mais do que agradável: verdadeira, útil, satisfatória e inspiradora […] portanto peço-lhe que não me invente à sua maneira. O hábito de inventar pessoas para os seus romances pode ser útil e aplicável no trato corrente, mas é inseguro quando esse trato se encontra com outro inventor de pessoas. Ou seja, nem eu posso falar com certeza de si nem você de mim. Não me rebaixe: asseguro-lhe que não me pode conhecer. Mudo quando quero (…)” [excerto da resposta de Wilcock, em 21 de agosto de 1959, à primeira carta de Agustina datada de 1 de agosto de 1959]
O que destacaria neste livro onde conseguiu reunir e traduzir 57 cartas da sua avó e Wilcock?
Estas cartas parecem-me oferecer um excelente complemento para o conhecimento de uma época, de um temperamento e do reconhecimento de uma amizade entre dois autores. Demorámos muito tempo a encontrar as cartas escritas por Agustina. Nem sabíamos se ainda existiam. Felizmente, Wilcock tinha-as guardado e reunido num envelope. Ele morreu em 1978, portanto elas existiam, guardadas há muitos anos, só tivemos conhecimento da sua existência em 2017. Usando a mesma ideia de Alain Robbe-Grillet de que “o livro existe e pode esperar”, as cartas, o livro, também puderam esperar.
Além de nos oferecerem um bonito e sincero diálogo, elas são o reflexo de como o verdadeiro trabalho literário precisa, tantas vezes, do seu tempo, seja para ser criado seja para esperar, mesmo já existindo. Esta correspondência deixa a descoberto uma noção de ética de trabalho, uma herança que, no caso de Agustina, a autora também nos lega e da qual pouco se fala — sem esquecer que em 2014 foi realizado um congresso na Fundação Calouste Gulbenkian intitulado Ética e Política na obra de Agustina Bessa-Luís.
No caso de Agustina, a ética de trabalho reflete-se numa autora consciente, uma realidade que coexistiu com um temperamento forte e autónomo. Consciente de que a ficção é um campo vasto e de que a realidade toca a vida de outros; consciente da destrinça entre factos e imaginação; consciente de si mesma. A par disto, como Agustina conseguiu não se coibir de escrever sobre nenhum tema, revela uma inteligência em toda a sua plenitude. Possuir uma ética que não se auto-oprime, eis uma das mestrias de um autor. Uma ética que não se confunde com a moral religiosa nem com a natureza pedagógica, mas que assenta no respeito pela literatura, pelo trabalho do criador, do intelectual, do pensador.
Na primeira leitura que fiz desta correspondência fiquei com a impressão da grande pressão que existia no ar do tempo, que embatia com o modo de estar de Agustina e com o modo como a sua vida literária devia ser, por ela, conduzida. Havia, portanto, como que uma questão ética em causa e as inquietações relatadas parecem relacionar-se com a fidelidade destas duas personalidades artísticas a uma ideia de literatura, de cultura, de filosofia de vida. Os dois autores têm um posicionamento ético nas suas escolhas. Renegá-lo em nome de uma pressão social, política, entre outras, seria como renegar-se a si mesmo. A força da escrita de Agustina encontra-se também neste questionamento permanente, neste recusar e acolher, profundamente intrínseco do papel que exerceu ao longo da sua vida. Voltando à primeira pergunta, tudo isto me parece bem patente nesta correspondência.

Castelo de Loumarin, em Aix-en-Provence, França, onde decorreu o congresso, em 1959. © Arquivo de família
O que é que havia em Juan Rodolfo Wilcock que tanto a fascinava e, ao mesmo tempo, exasperava?
A sua inteligência, a sua cultura, o seu desembaraço, a sua ironia. Agustina respeitava-o na sua excentricidade. Depois é preciso ver que Itália nestes anos vivia o chamado “milagre económico” que, apesar dos excessos, teve a sua repercussão na cultura, e que em Portugal ainda se vivia num ambiente demasiado acanhado. Para uma pessoa culta e informada viver num meio assim, e poder relacionar-se com pessoas que habitavam na antítese deste clima, seria um autêntico sopro.
E era certamente um amigo no meio, alguém que não se melindrava com aquilo que Agustina tivesse para lhe dizer, nem Agustina com ele. Num desabafo que Agustina lhe faz, escreve: “Mas porque lhe digo tudo isto? Porque você é possivelmente a única pessoa a quem o posso dizer sem que se dê por entendido”. Em suma, o pensamento e as referências de ambos tinham, sem dúvida, muitas afinidades.
O que fez com que a correspondência cessasse em 1965?
Na realidade, não sabemos. Pelas últimas cartas parece haver a sugestão de qualquer equívoco ou zanga entre os dois. Agustina termina a sua última carta publicada neste livro escrevendo “tudo está perdoado”, e a seguir escreve uma outra carta à qual Wilcock tardou um ano a responder. Esta carta de Agustina não estava junto das outras. Wilcock tê-la-á destruído? O que terá acontecido para que Wilcock, na carta seguinte e última que terão trocado, se despedisse de Agustina de um modo tão desafiador? : “envio‑lhe uma afectuosa saudação que cheira a podridão, cadáver, sangue pisado, caveira bolorenta”.
Pelo prefácio de Ernesto Montequin também podemos perceber que Wilcock se tornou numa pessoa misantropa… Mas não sabemos. Talvez tenham querido conservar essa memória simpática que tinham de ambos, e as coisas na ocasião ficaram assim, desvanecidas. Contudo, em 1986, Agustina dedica-lhe um artigo n’O Primeiro de Janeiro algo “espinhoso”, “como um cacto do deserto ou uma rosa-de-jericó, com puas na sua senhora haste”.
Uma das coisas que sente ao ler estas cartas é a carência de Agustina de ter entre os seus pares pessoas com quem dialogar. Porque é que ela sempre se posicionou à margem do meio literário português?
Diria antes que Agustina se isolava, mas foi também pontualmente marginalizada, e o motivo seria essencialmente o mesmo: pela fidelidade às suas convicções. É-lhe reconhecido esse temperamento. Agustina disse publicamente com graça “fui sempre a última a receber os prémios”. E hoje, quando penso em todas as suas escolhas e no seu percurso, creio que as suas decisões foram sempre neste sentido, de uma grande autonomia. E a sua originalidade passa, sem dúvida, por esta autonomia. De resto, que largo contributo oferece um meio literário que, em si, supõe-se explorar os caminhos do pensamento e da criação, prefere subsistir como uma corporação de pensamento único?
Agustina percebeu desde muito cedo que tipo de escritora queria ser; as suas leituras, a vida de casa, uma educação desafogada, a herança cultural familiar, tudo isto eram motivos de diferenciação e de singularidades relativamente ao meio em si. Porém, a partir de certa altura Agustina soube conciliar perfeitamente a sua autonomia com os inúmeros e variados encontros e solicitações que tinha. E foi admirada e acolhida pela sua diferença, que se impôs.

O excêntrico Wilcock na capa do seu único livro traduzido para português do Brasil: “A Sinagoga dos Iconoclastas”, pela editora Rocco. Wilcock é também autor de peças de teatro e participa como actor no filme de Pasolini, “O Evangelho segundo São Mateus”
É sabido que Agustina não gostava muito de poesia. Mas lia a de Wilcock, e gostava? Isso não fica claro nas cartas. Enquanto ele idolatrava os livros dela.
Para a minha avó, o elogio era qualquer coisa que devia ser feito com alguma solenidade. Não era uma pessoa efusiva neste aspeto, elogiava, sem dúvida, mas com alguma contenção. Talvez porque receasse que o elogio exacerbado pudesse ter um efeito nefasto, quem sabe, de deslumbramento, e o elogiado se perdesse no elogio e não se voltasse a encontrar. Agustina escreve a Wilcock: “Não me fala do seu trabalho e vejo‑o preguiçoso e aborrecido”, e a verdade é que a minha avó dizia este tipo de coisas frequentemente. Por vezes perguntava-me “quando é que acabas o teu curso para te dedicares à escrita?” ou “tens escrito?”. Tinha esta preocupação de que as pessoas que escrevem deviam realmente concentrar-se nisso, e de que os elogios eram para ser recebidos com elegância mas sobretudo distância. Pude testemunhá-lo, por diversas vezes, em ocasiões públicas, esta sua receção graciosa dos elogios.
Porém, no artigo que referi d’O Primeiro de Janeiro, termina deste modo: “vou traduzir um dia os versos de Wilcock, versos tão belos quanto envergonhados de o serem. Começo agora: ‘Tão verde, neste manso canal espelhado o álamo que um homem já morto terá plantado.'”
Sobre a poesia, é curioso que Wilcock lhe escreve “você é sobretudo um poeta, que além do mais é romancista mas submerge o romance com a sua poesia”. Senti isto mesmo em particular com o romance O Manto, que coincidentemente foi prefaciado, na reedição da editora Relógio D’Água, pelo poeta João Miguel Fernandes Jorge.

Lourença Baldaque, neta de Agustina, traduziu estas cartas e organizou este volume para a Relógio d’Água
O facto de ambos terem o castelhano como língua materna, pode ter contribuído para essa amizade?
Sim, tenho essa impressão de que o castelhano foi um fator de identificação, ou seja, tudo o que um idioma, no geral, acarreta: uma cultura histórica, uma forma de estar, uma certa literatura, um pensamento distinto, etc. Um idioma representa toda uma experiência de vida que se herda ou na qual um autor se reconhece. No caso de ambos, Wilcock era um exilado, ele optou por se instalar em Itália. Naqueles anos, o seu país natal, a Argentina, não oferecia condições para que pudesse trabalhar em liberdade. De resto, Wilcock disse numa entrevista algures que o italiano, o idioma em que ele escolheu trabalhar mais tarde, era o mais próximo do Latim — língua que qualquer linguista respeita e valoriza.
O castelhano representava um idioma de países de onde eram descendentes — Argentina e Espanha, no caso de Agustina, sendo que a sua mãe nascera em Espanha, de mãe espanhola. Representava portanto uma forte relação com as origens.


















