

"Não ligo a saber nada das pessoas. Só procuro saber se é um corpo infetado ou não e pronto, chega para tomar as medidas de proteção. Neste momento ninguém toca nos cadáveres, são enterrados nus, vão como nasceram. Há colegas que tomam um banho de cada vez que vão buscar um corpo Covid, mas a maioria não"
"Este corredor é que dá acesso ao hospital todo. Tem um quilómetro. Os corpos vêm do serviço diretamente ao piso 02. Temos uma chave para o elevador só parar aqui no 02. Vem direto, não pára em mais lado nenhum para não apanhar outras pessoas"
Mãe, pai e filha internados no Santa Maria com Covid-19. O pai morre. A mãe e a filha continuam internadas. Pedem a um familiar para filmar o funeral e a ver o percurso do carro fúnebre no telefone a partir do hospital. Emocionalmente devastadas, têm de ser acompanhadas pelo grupo de psicólogos que dá apoio às famílias enlutadas.
Outro casal internado. Marido e mulher, ambos com cerca de 60 anos, em situação de perigo iminente. Profissionais de saúde preparam-se para o pior cenário e ponderam organizar um encontro entre os dois, para se verem, antes de irem para os Cuidados Intensivos. O estado de saúde de ambos agrava-se em simultâneo na mesma manhã. Um morre, o outro sobrevive. Não chegam a encontrar-se para se despedirem.
Doente infetado internado num quarto com quatro camas. Num curtíssimo espaço de tempo vê demasiado. Morrem dois homens ao seu lado. E testemunha um entubamento de emergência ao outro doente para ser ligado a um ventilador. Chama a médica e suplica-lhe: "Eu não aguento estar aqui".
Este terceiro caso foi muito marcante no hospital e obrigou a mudanças, logo na primeira fase da pandemia. Sandra Braz, a coordenadora da Unidade de Internamento de Contingência de Infeção Viral Emergente, dedicada aos doentes Covid, explica o impacto da morte nos outros doentes: "Nunca é desejável que o doente do lado se aperceba. Estamos a falar da mesma doença, que pode ter uma expressão clínica e uma gravidade completamente diferentes de doente para doente, mas não é fácil explicar isso ao senhor Manuel, que viu morrer o senhor António. Aquele senhor vai achar que dali a umas horas lhe vai acontecer o mesmo, porque ele se confrontou com aquela realidade".
Na primeira fase da pandemia, quando ainda se sabia muito pouco sobre o vírus, havia um grande receio em relação ao perigo de contágio através das superfícies. Este medo levou à eliminação das cortinas em redor de cada cama. "Mas tivemos de aprender que, mesmo que não haja as cortinas no dia-a-dia, tem de haver forma de criar um espaço de algum recolhimento", recorda a médica. Pediu-se até um parecer à comissão de infeção hospitalar sobre o risco do uso das cortinas. "Podemos não pôr cortinas, mas põem-se lençóis ou um biombo ou uma cortina improvisada", diz.
O primeiro doente de Sandra Braz a morrer nesta pandemia tinha uma ligação bastante especial com a médica, depois de há seis anos lhe ter sido diagnosticado um cancro. Recuperou, mas mantinha vários problemas de saúde que o obrigavam a ir regularmente ao hospital a consultas — e aproveitava para visitar a médica. "A própria secretária do meu setor já sabia. Ele chegava, encostava-se ao balcão e ela dizia: 'O sr. vem dizer um olá à dra. Sandra'. Ia lá dentro, avisava ('o sr. está lá fora'), conversávamos um bocadinho e ele falava da vida dele e das consultas a que vinha. Quando ligam da urgência e dizem 'Temos aqui um doente com estas circunstâncias', eu pedi o nome e percebi. Ele veio para a enfermaria mas morreu 48 horas depois." Foi o segundo doente que morreu no Santa Maria, depois de Mário Veríssimo, o enfermeiro amigo de Jorge Jesus.
Sandra Braz fez questão de ligar à família a dar a notícia. Não conhecia os filhos do doente, mas sabia que já teriam ouvido falar dela: "Achei, de certa forma, que se fosse eu a dizer em que circunstâncias tinha acontecido e a garantir-lhes que estivemos com ele e não tinha havido sofrimento na parte final, talvez lhes desse alguma tranquilidade."
Entre os casos que mais incomodam a coordenadora da unidade para doentes Covid estão os dos doentes oncológicos. Como são testados com frequência por causa dos tratamentos regulares, quando recebem um teste positivo têm de ficar internados (mesmo estando assintomáticos). "Perceber que doentes já com pouco tempo de vida vão ter de ficar aqui fechados... A higiene é feita ali dentro, urinar, evacuar, é tudo ali... Só mesmo quem passa por isto. Não podem sair, o tempo demora a passar. Pode dar para tudo, mas não acredito que passem coisas boas pela cabeça de um doente oncológico."
O fisioterapeuta João Pereira, que tem ajudado na recuperação dos doentes nos Cuidados Intensivos e nas enfermarias Covid, também se revolta com esses casos: "Quando uma pessoa está em processo terminal está sozinha — mesmo que esteja numa enfermaria de quatro camas. Não pode ir à sala de refeições, não pode sair do quarto, tem de fazer as necessidades ali. Muitas vezes está consciente de tudo o que se está a passar. Lembro-me de um senhor que morreu sozinho assim. Nestas circunstâncias é quase desumano."

Seis cadáveres de doentes infetados, na zona Covid da casa mortuária do Santa Maria, que ocupa o espaço da capela católica. Os funcionários da morgue só entram aqui com equipamento de proteção individual.
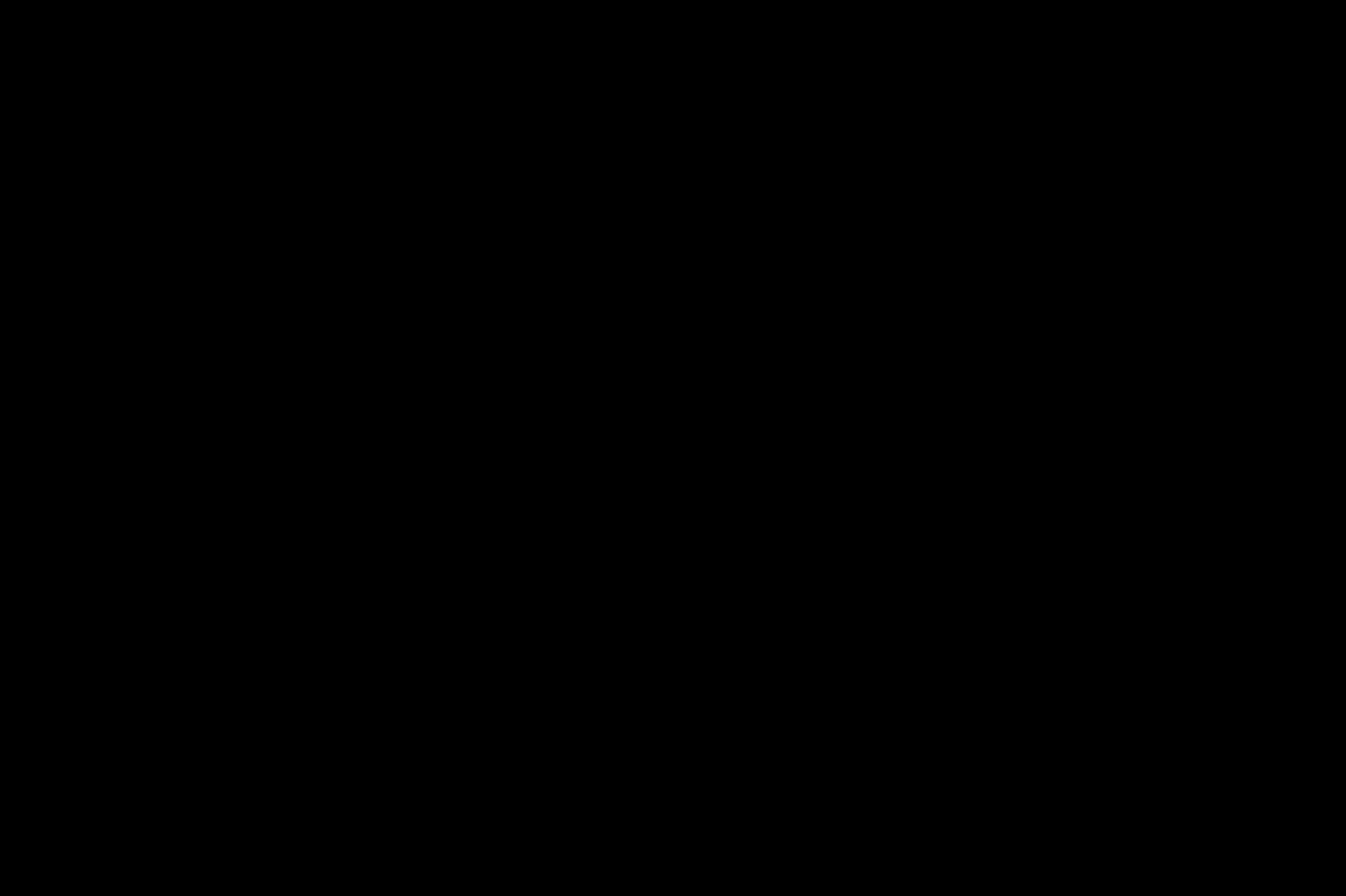
Por cima do lençol que cobre cada cadáver é colado este autocolante com a indicação "Covid-19" a vermelho, para reforçar a distinção em relação aos corpos de doentes não infetados.
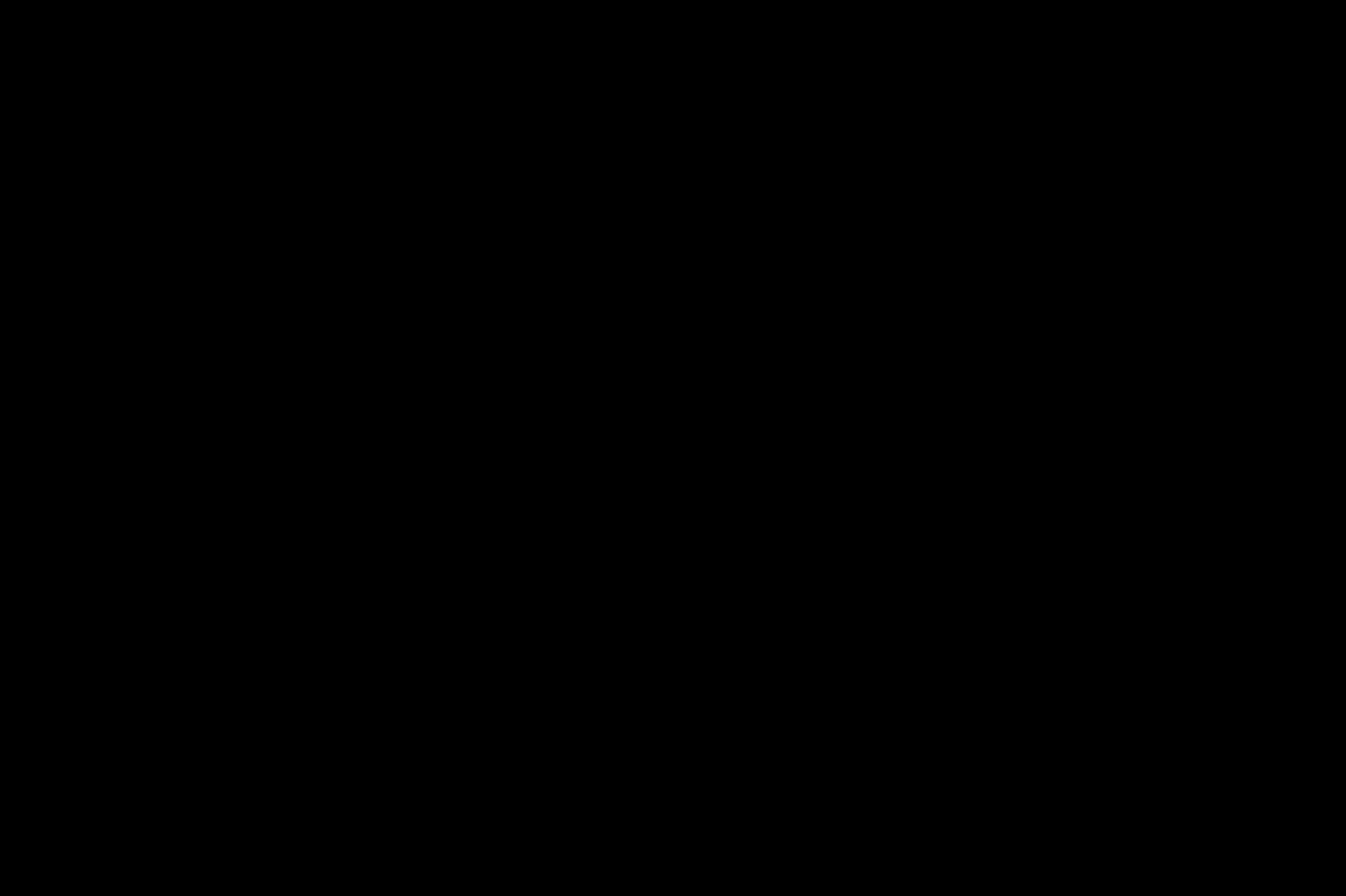
O corredor subterrâneo a partir da morgue, que percorre todo o hospital e se estende por quase um quilómetro. São 300 passos até à zona dos frigoríficos. Mais 67 até ao elevador número sete, que dá acesso direto a um dos serviços de Medicina onde os funcionários costumam recolher mais cadáveres.
Na morgue. A família que insistiu muito para ver o corpo: "Sei que é um risco, mas fui humano"
"Um, dois, três, quatro, cinco, seis... sete." O homem que há 24 anos manda na morgue do Santa Maria, António Nunes, faz as contas, somando um a um os cadáveres embrulhados em sacos brancos na capela católica. Esta é a zona Covid da casa mortuária, onde estacionam as macas com os infetados que morreram nas 12 horas anteriores. Depois da morte, continuam separados dos corpos que não têm o vírus.
Quando percorre o livro de registos com as mortes por Covid-19 nos dias anteriores, lê o total em cada dia: "Sete, oito, nove, sete, oito..." É quase como se as pessoas passassem a ser apenas números, que se somam a números de outros hospitais, para aparecerem diariamente no rectângulo verde do boletim diário da Direção Geral da Saúde, por cima da palavra "óbitos".
O livro regista o nome, indica se tem ou não Covid, refere o serviço hospitalar onde faleceu e a agência que vai tratar do funeral. "Não sabemos mais nada, nem idade nem nada", diz António Nunes. A idade aparece na "guia de transporte passada pelo médico", que indica também a morada, a hora do falecimento e se "existe doença infecto-contagiosa e/ou suscetível de transmissão de doenças infecto-contagiosas". Na gíria da morgue, chegam a chamar a esse documento a "alta celestial".
Pode parecer frieza ou indiferença, mas já não é expectável que os funcionários da Casa Mortuária se emocionem de cada vez que são chamados para ir buscar mais um cadáver a uma enfermaria ou a uma Unidade de Cuidados Intensivos. Ou que se preocupem em saber coisas sobre o morto: de que é que morreu? Sofreu no fim? Que vida teve? Que familiares deixa? Normalmente não há tempo para isso, nem contexto seguro para ter essas conversas com os profissionais de saúde, nem grande utilidade para o que têm de fazer.
Protegem-se com máscara (há quem use duas), touca, bata reforçada, cobre-pés e dois pares de luvas — um equipamento de proteção semelhante ao usado pelos profissionais de saúde que lidam com doentes infetados. Recolhem o cadáver no serviço onde morreu, já embrulhado em dois sacos desinfetados. Dirigem-se ao elevador, descem diretamente ao piso 02 (dois andares abaixo do principal) e vão dar a um gigantesco corredor subterrâneo pouco iluminado.
Este corredor — que António Nunes percorre no vídeo — tem uma carga cenográfica tão intensa que já se filmaram aqui cenas de telenovelas.
Além de ser coordenador da Casa Mortuária, António Nunes tem outra ocupação que lhe consome bastante tempo, como socorrista nos bombeiros da Pontinha. Se numa parte do dia trata de quem não sobreviveu, na outra ajuda a salvar doentes em ambulâncias, contribuindo para evitar que lhe apareçam na morgue.
Por questões de segurança, desde o início da pandemia, deixou de preparar os cadáveres (com e sem Covid) para o funeral: já não lhes tapa a boca, nem o nariz, não os barbeia, não os veste. "As famílias têm aceitado bem. Mas se fizerem muita pressão temos de os vestir, como é obvio", admite. Ao contrário do que acontecia até março, os familiares deixaram de se deslocar à morgue. "Já não os vemos a sofrer em relação ao falecido", diz o coordenador.
Os pedidos para ver o corpo são habitualmente rejeitados, mas António Nunes já abriu uma excepção, para uma família que insistiu muito: "Foram as próprias pessoas que abriram e fecharam os sacos. Eu afastei-me, pus-me de lado, o corpo saiu e mandei limpar a zona. Como os sacos foram abertos, mais ninguém ali entrou enquanto aquele espaço não foi desinfetado. Sei que é um risco, mas fui humano".
"Eu não pude despedir-me do meu familiar". A angústia do capelão
A obrigatoriedade de manter distância tem sido um obstáculo também para o capelão do Santa Maria, o padre Fernando Sampaio, se juntar aos doentes internados na hora da morte, com as orações de acompanhamento ao moribundo. "São muito bonitas, ajudam a pessoa a predispor-se para a partida deste mundo, mas como é que eu vou fazer essas orações especiais juntamente com a família?"
O capelão deixou de percorrer os vários serviços como fazia antes da pandemia. Apenas visita doentes infetados se receber algum pedido do próprio, da família ou da paróquia. Se o doente estiver inconsciente, a assistência espiritual pode ser feita por presunção no sentido de que o doente é crente, e de que gostaria de a receber se pudesse pedi-la. Mesmo sabendo que dificulta a relação com os doentes que não lhe veem o rosto, adota o equipamento de proteção previsto em cada serviço: "Onde de facto é necessário usar a vestimenta de astronauta, nós vestimos".
Mas recentemente, numa enfermaria, não conseguiu evitar que uma idosa lhe agarrasse e beijasse as mãos: "Eu até fiquei um bocado atrapalhado, porque estavam lá umas enfermeiras, mas elas repararam no porquê das coisas. Fiquei impressionado com esse gesto da senhora, porque lhe falta a proximidade, falta-lhe o toque. Não repeli: tinha desinfetado as mãos e ia desinfetá-las a seguir." Fernando Sampaio não apanhou o vírus, ao contrário do que aconteceu com vários capelães hospitalares.
Nada o tem afligido mais do que a revolta de quem foi impedido pelo vírus de um último adeus: "Aquilo que as pessoas mais me referem é: Eu não pude despedir-me do meu familiar'". Neste vídeo, além de explicar quando celebra a extrema-unção, o sacerdote suspira de forma angustiada quando fala das mudanças nos funerais.
Um dos doentes infetados que deixou o capelão emocionado foi um sacerdote: "Ele estava com problemas respiratórios e um pouco confuso, mas a seriedade com que fez a oração deixou-me impressionado". Morreu três dias depois.
Com outro doente internado numa enfermaria teve uma conversa marcante sobre o sentido da vida: "A consciência de que estava a escrever o último capítulo e de que as coisas estariam próximas, ao fazer a releitura da sua vida, foi de facto muito bonita. Estava a dar-lhe a santa unção e ele rezou com muita veemência". Também este doente morreu pouco depois.
A decisão entre viver e morrer, em conversas com Cristo ou com a família
Pelo menos cinco doentes que estiveram internados nos Cuidados Intensivos na primeira vaga, em março e abril, relataram mais tarde nas consultas de acompanhamento que foram confrontados com uma escolha entre a vida e a morte, enquanto estavam sedados e ligados a um ventilador.
As descrições variam. Um sonhou que estava numa reunião com a família e os amigos a discutir todas as boas razões para ficar ou para partir. Outro doente, católico, descreve uma montanha onde viu a imagem de Jesus Cristo, com quem esteve a dialogar antes de decidir continuar vivo. "Ele vê isso como algo que merecia e conta mesmo que, na primeira vez que conseguiu sair de casa depois de ter tido alta, foi a uma loja comprar uma imagem de Cristo o mais parecida possível com a imagem que ele tinha visto", conta Sandra Braz, a coordenadora das consultas pós-Covid no Hospital de Santa Maria. "Há algo comum a todos eles — estes doentes mais críticos estiveram sedados e ventilados."
A médica começou por achar "um pouco místico", mas já discutiu estes casos com psiquiatras e psicólogos: disseram-lhe que é um tema a explorar e acharam natural que esses momentos de decisão percecionados pelos doentes tenham sido conversas com as pessoas mais importantes das suas vidas. "É um sonho, sim, mas é um sonho muito vívido", descreve Sandra Braz. Um dos doentes pediu-lhe expressamente para não duvidar da palavra dele, até porque já estava em conflito com um membro da família que não acreditava no seu relato.

Desde o início da pandemia que as famílias já não se deslocam à casa mortuária do Hospital de Santa Maria para reconhecer o corpo dos seus familiares. Esse reconhecimento é agora feito pelos agentes funerários: abrem os sacos de cadáver, reconhecem o corpo através de uma foto previamente entregue pela família e depois disso voltam a fechar os sacos.
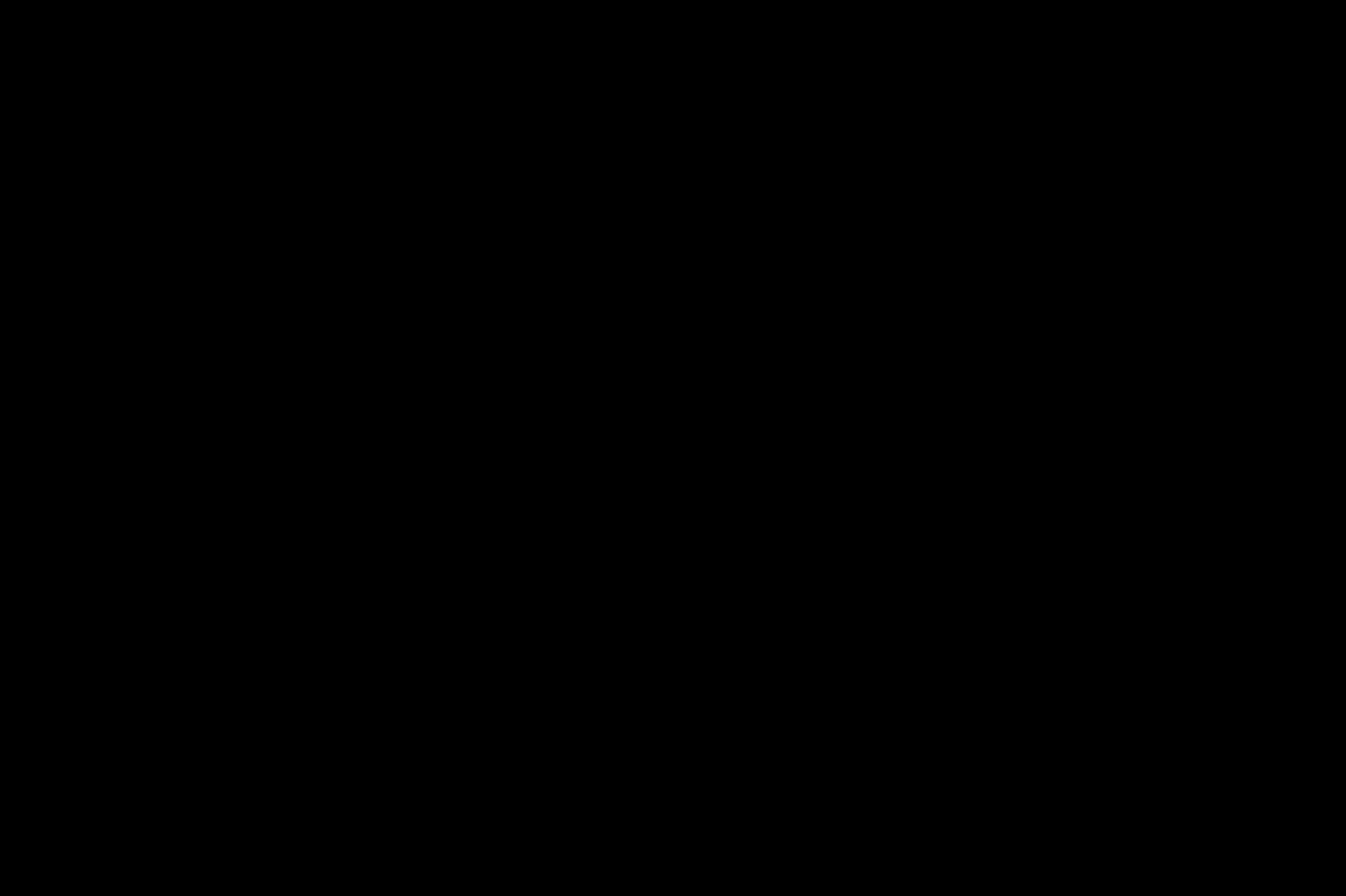
O caixão é previamente desinfetado antes de ser lá colocado o corpo. Depois o saco é novamente desinfetado, o caixão é completamente selado e mais uma vez desinfetado por fora. A seguir, o caixão ainda é forrado com película aderente e sujeito a uma nova, e última, desinfeção. Dali, segue diretamente para o crematório ou para a sepultura.
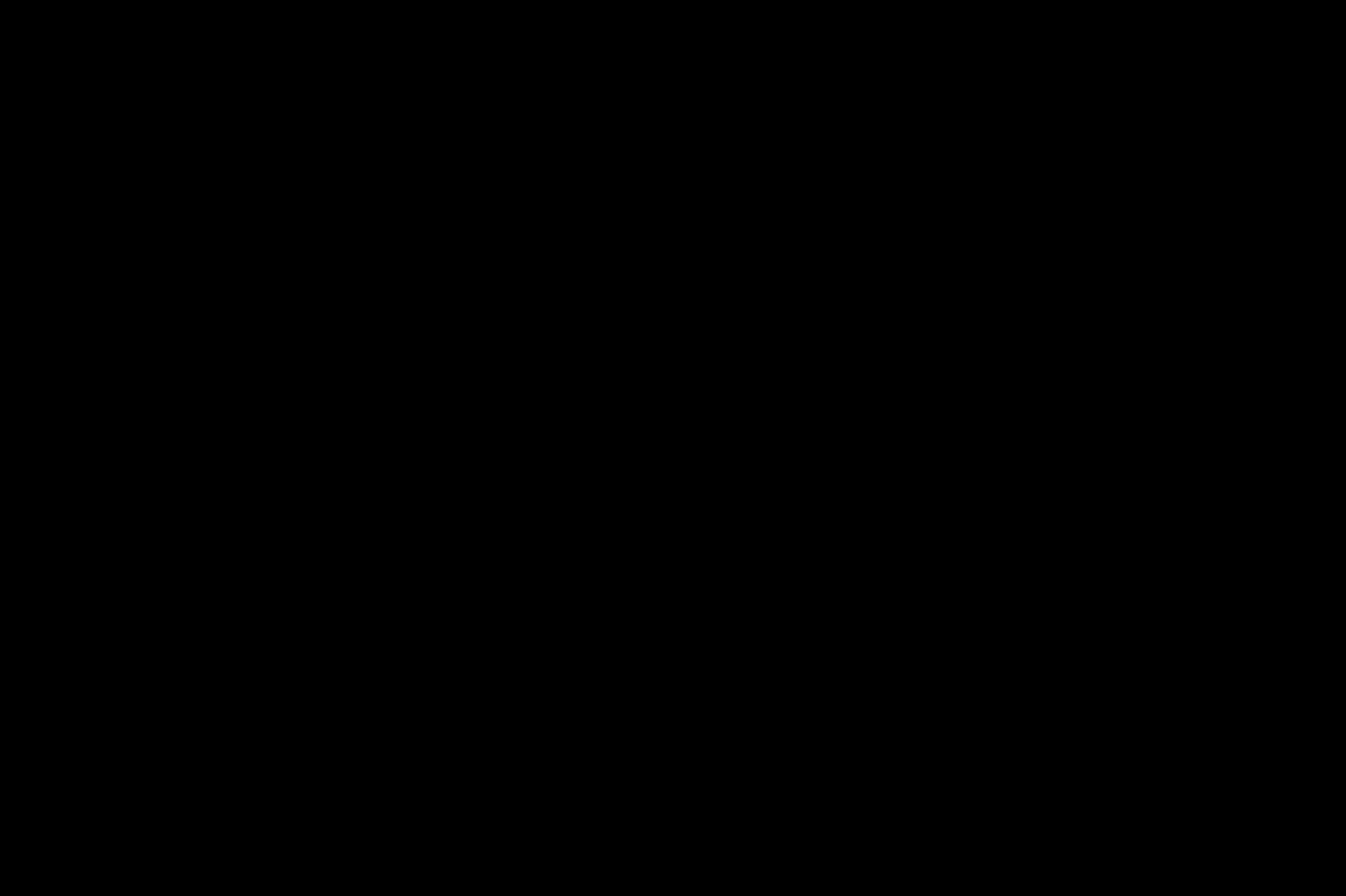
Os funcionários da morgue entregam o corpo aos agentes funerários dentro de dois sacos de cadáver e em cima de uma maca. A partir daí a responsabilidade passa a ser da agência funerária contratada para aquele funeral.
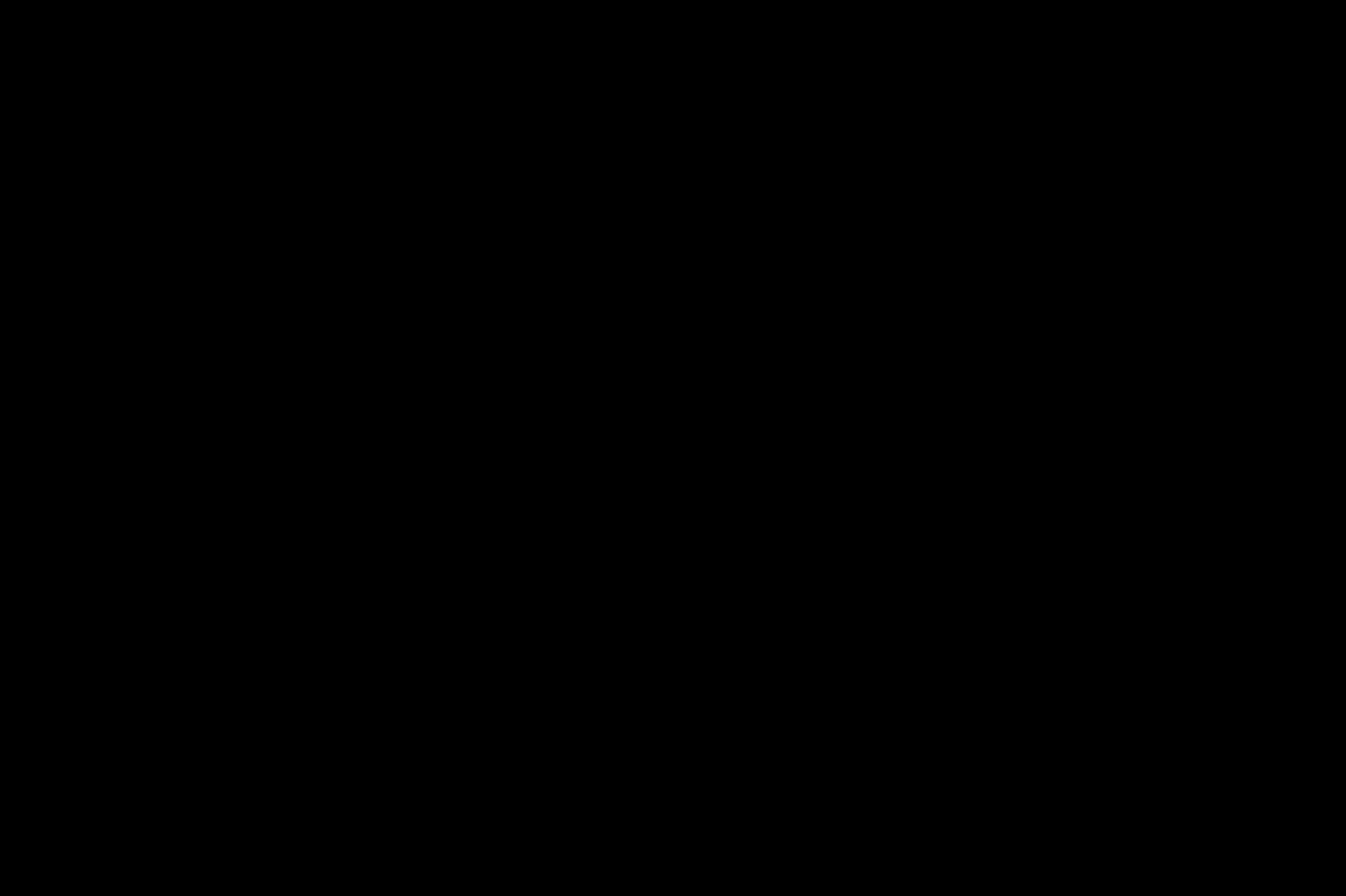
O capelão Fernando Sampaio durante a comunhão na capela do hospital. Apesar da redução de fiéis nas missas desde que começou a pandemia, continua a celebrar duas cerimónias todas as manhãs: "Mesmo que tenha só uma pessoa aqui".
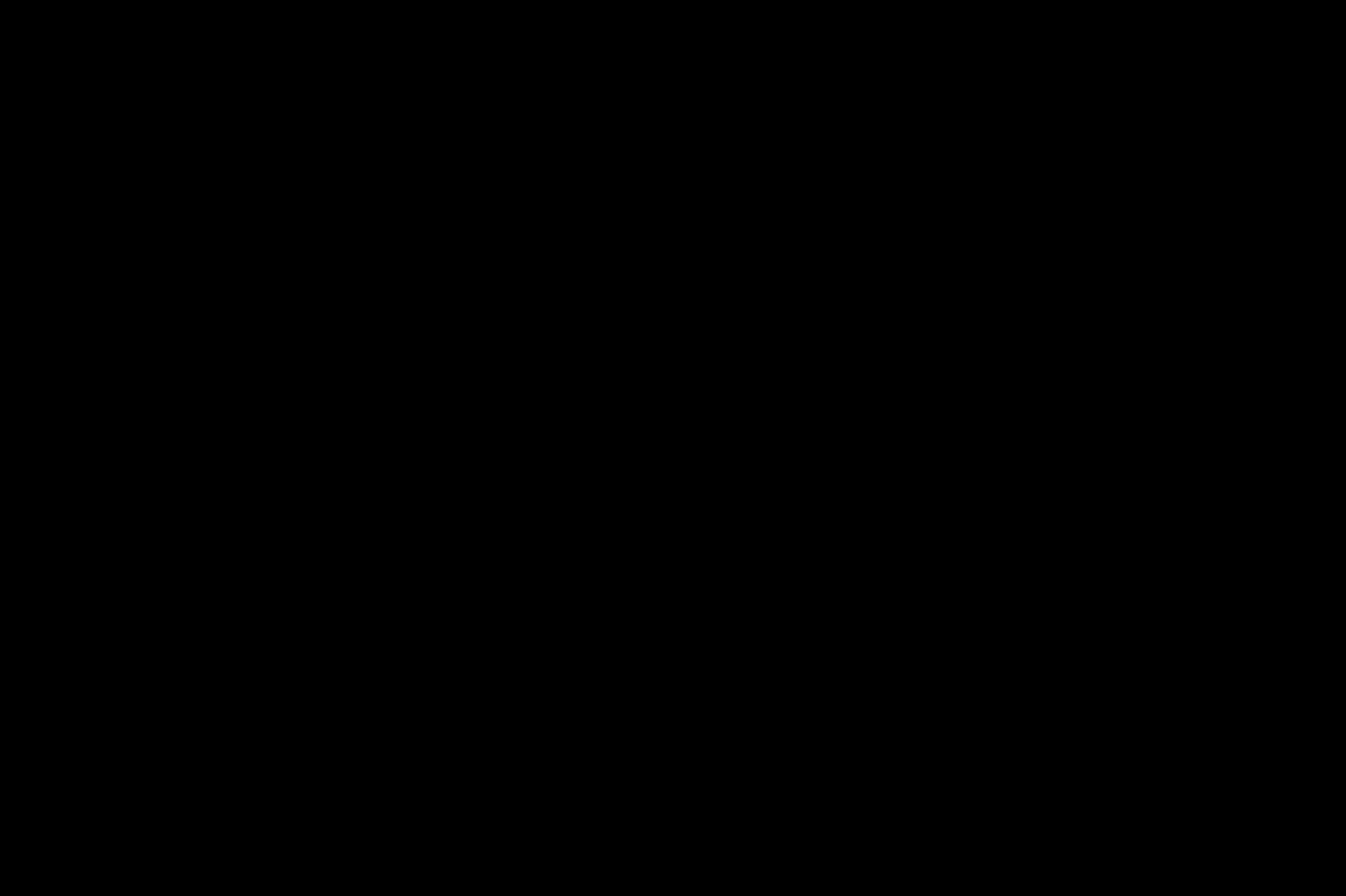
"Os profissionais de saúde têm sido fantásticos, mesmo as senhoras da limpeza, que correm um perigo tremendo e nós nem sempre reparamos nelas", elogia o capelão.
Desde 13 de março e até 31 de dezembro, morreram no Hospital de Santa Maria 2.281 pessoas. Destas, 237 estavam infetadas com Covid-19, ou seja, 10,3%. Mas o número mais preocupante talvez seja este: em dezembro, as mortes relacionadas com o coronavírus dispararam 40%: foram 68 óbitos no último mês do ano.
Na morgue do Santa Maria, há sempre um funcionário 24 horas por dia. "Há trabalho toda a noite, nunca se sabe a que horas é preciso ir buscar um corpo", justifica o coordenador. No dia em que o Observador esteve lá em reportagem, as duas arcas frigoríficas reservadas para cadáveres infetados com Covid estavam vazias.
Na primeira vaga, o hospital chegou a colocar um contentor frio com capacidade para 30 corpos em frente à casa mortuária, temendo não ter capacidade de resposta caso o número de mortos aumentasse muito. Em abril e maio, chegou a guardar ali "uns sete ou oito" corpos, segundo António Nunes: "Ficavam nas macas, encostávamo-los uns aos outros. Depois alguém de direito chegou à conclusão que não era preciso e retiraram. Se o contentor voltar a vir, é mau sinal."
Texto Pedro Jorge Castro
Vídeo Catarina Santos
Fotografia João Porfírio
Web design e desenvolvimento Alex Santos








