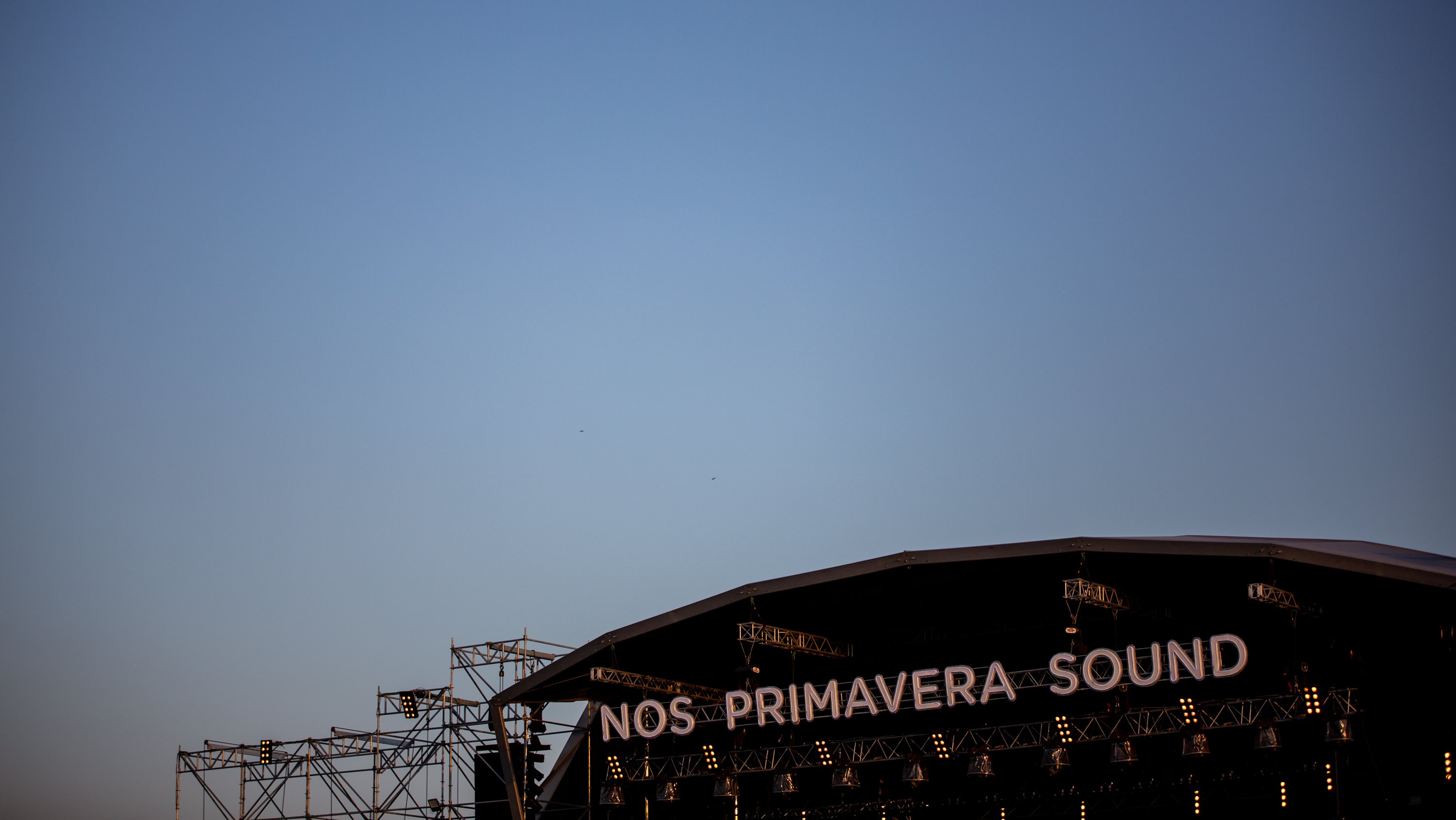Antes de se ir embora de vez, Justin Vernon regressou ao palco principal do NOS Primavera Sound para tocar “Skinny Love”. Foi com aquela música que tudo começou, que o projeto a que chamou Bon Iver (bom inverno, em francês) explodiu. Em 2007 era só ele e a guitarra, fechado numa cabana no meio dos Estados Unidos, doente e de coração partido. Foi a Emma que o partiu. A banda que ele tinha até aí também se partiu de vez. Às vezes corre mesmo tudo mal ao mesmo tempo. A reação foi pegar na dor e gravar sozinho um álbum, For Emma, Forever Ago.
O tempo de “Skinny Love” também parece que já foi há uma eternidade, embora só tenham passado 10 anos. Quando Bon Iver se estreou em Portugal, em 2012, encheu facilmente dois Coliseus e parte do público estava tão em êxtase que berrava a meio de canções que, por vezes, só pediam silêncio. Aí já havia mais um disco de estúdio, homónimo, lançado em 2011, e o EP Blood Bank, de 2009. Esta sexta-feira à noite, o único dia dos dias de festival que esgotou — eis o fenómeno Bon Iver –, os três foram recordados. Mas é como se aquele Bon Iver, solitário, sofrido, acústico, tivesse ficado bem lá atrás. Forever Ago. Como a Emma e a doença e o inverno.
Hoje, Bon Iver é muito mais 22, A Million, o disco que lançou no outono do ano passado. Mais experimental, mais eletrónico, menos direto. Foi para ele todo o início do concerto, sete canções só de um fôlego, das 17 que tocou ao todo, ele de auscultadores na cabeça, pose de DJ, botões para operar, efeitos a manipular, apoiado por uma banda à altura e um ecrã cheio de luzes atrás. Um espetáculo bonito, que ele não permitiu que fosse fotografado junto do palco. Antes de tocar a belíssima “29 #Strafford APTS”, agarra na guitarra, elogia Portugal, o Porto e o Primavera, todos do melhor que há.
Estaria o público a achar o concerto do melhor que há? Em 10 anos houve algumas mudanças e, quando assim é, há fãs que ficam pelo caminho, outros que se conquistam pela primeira vez, e há os que se mantêm no antes e no depois. Os que se incluem no segundo e terceiro grupo estariam a achar o concerto do melhor que há. Os outros, talvez nem por isso. Nem vale contar os que só queriam “Skinny Love”, mas até esses saíram do Parque da Cidade do Porto felizes.
Bon Iver hoje pode ser mais a primeira metade do alinhamento do que a segunda. Mas tem a generosidade de dar aos fãs das duas fases das suas duas vidas. Lá veio “Perth”, de 2011, saem os botões e os samples, entra a bateria para o centro das atenções. “Minnesota, WI” também é de 2011, mas levou um arranjo mais atual, mais eletrónico. “Beach Baby”, do velhinho Blood Bank, lembrou-nos uma fase mais minimalista, saxofone, piano, leve linha de guitarra. Parece que foi outra vida. Talvez tenha sido mesmo. E que dizer de “Towers”, que nos leva bem lá atrás, ao ano de 2011, sim, mas liricamente aos tempos de faculdade, aos amores da juventude, a quem os teve, à faculdade e aos amores. Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh.
“Tentem o mais que possam não ter medo de morrer”, disse Justin Vernon, antes de começar a tocar “Holocene” e cantar a frase And at once I knew I was not magnificent. Esta sexta-feira à noite, com Bon Iver correu tudo bem, embora, ao fazer o balanço, talvez não se possa usar a palavra magnificente. Foi a maior enchente do festival até agora, dificilmente haverá outra destas. Acabou depressa, como ele nos alertou no início, em “22 (OVER S∞∞N”. 1h25 de música de um inverno bom neste Primavera.
Do outro amor que andou por aqui
Nem só de Bon Iver foi feito o carinho festivaleiro. A outra grande campeã desta corrida foi Angel Olsen, nossa senhora Angel Olsen, padroeira dos desafetos e da vontade de reconquista. Trouxe ao Primavera um guia para corações desfeitos, como sobreviver, como resgatar o que se pensava perdido. Ou então, como lidar com um adeus que nunca ninguém quis. Baseou o concerto sobretudo no monumento de rock dorido que é o imaculado My Woman, álbum do ano passado. Irónica mas realista, distante mas intensa, conseguiu ser tudo isto ao mesmo tempo, num concerto que — quem nos dera que assim tivesse sido — só não foi ainda mais arrebatador porque entre paredes fechadas nada se tinha perdido, absolutamente nada.

Nicolas Jaar é sempre o mesmo apaixonado. Um bom gosto impossível de repetir quando chega a hora de escolher sons; uma técnica que não se explica na altura de os manipular; e uma gestão de dinâmicas que vai sempre surpreender mesmo quem já o viu ao vivo aqui ou ali. É nervoso e sentimental, puxa a dança e tranca-a naqueles sintetizadores que queríamos levar para casa. Está sozinho no palco mas se desse a deixa certa estávamos todos lá em cima com ele. É um intelectual sonoro e consegue ser o nosso melhor amigo quando menos se espera.
E, claro está, Hamilton Leithauser, o galã que já não é o chefe dos Walkmen mas que continua a carregar aquela voz forrada a gravilha. É uma lista de qualidades em forma de cantor e compositor e trouxe-as todas ao palco Pitchfork, espaço bem esgalhado para corpos mais dados ao conforto lá de casa. Leithauser é um afincado estudioso da história da música popular. Vê-lo entre valsas à maneira de Tom Waits, cowboyadas ao estilo de Dylan e confissões elétricas com histórias que recolhe do dia a dia é uma sorte. Há poucos crooners sem showbiz como este e tê-lo à nossa frente foi um privilégio.
Da violência saudável
Como é boa a Primavera quando levamos socos nas trombas sem nunca os ter pedido. Calma, há explicações para isto. Bon Iver, outra vez ele, foi um amor, é a função dele, é o que se espera dele e o artista correspondeu. Mas no Parque da Cidade ouvimos e vimos muito mais que paixões e recados com baton ou despedidas miseráveis que nunca deviam ter acontecido. Estivemos com os Swans, por exemplo. O batalhão comandado por Michael Gira, o homem que um dia vai tomar conta do mundo. Trouxeram aquela muralha de distorção e desespero que mais nenhuma banda consegue desenhar. Guitarras a matar tudo o que encontram pela frente; um baterista que faz tremer a terra, uma batida de cada vez; e um sistema de som que mal aguentou aquelas duas horas (terão sido mesmo? às tantas é difícil fixar tudo o que aconteceu numa base temporal) de puro castigo consentido. Gira pode voltar quando quiser, nunca será igual, nem que muito achemos que já lhe vimos e ouvimos tudo.
Por falar em tipos irrepetíveis. Há o epic sax guy, o famoso moldavo da Eurovisão , e depois há Andrew Fearn. Ele é a metade dos Sleaford Mods e o seu trabalho em palco descreve-se assim: a mão esquerda segura uma cerveja, a mão direita está no bolso das calças a descansar, interrompendo ocasionalmente para carregar no play do computador. Há um magnetismo qualquer que prende milhares de pessoas em frente a um tipo que está ali a fazer tanto quanto nós (a curtir a música), mas a ser pago por isso, e outro, Jason Williamson, que parece que está pronto para nos agredir a todos a murro e pontapé (especialmente se formos patrões exploradores, racistas, fascistas, xenófobos e opressores dos direitos dos trabalhadores). Ambos parecem ter um trabalho de sonho. Os mais tranquilos gostavam de ganhar a vida como Andrew, que aparentemente não faz nada. Claro que há um trabalho por trás, foi preciso compor as batidas que servem de compasso à raiva de Jason, mas nem sequer são propriamente brilhantes e só variam durante 5 segundos, estando depois em loop até ao fim. “Não há palavras. Não há palavras”, dizia uma pessoa à nossa frente, entre o incrédula e o divertida. Palavras não faltam aos Sleaford Mods. “Fucking”, “english cunt”, “fucking embarrassment”, “ass”, “fuck off” ou “my fingers drop shit”. Vontade para ver tudo isto também não.
Neste mesmo campeonato jogo Skepta, rufia com os rótulos hip hop e grime, vindo das ruas de Londres, um canalha com uma capacidade notável de congregar gente para a sua má vida. Chama “energy crew” aos que gritam por ele em frente ao palco. Nada do que trouxe é meigo, nada daquilo foi coisa mansa, mas tudo baralhado deu em festa. Deu até em amor. Skepta diz “amor”. Pede barulho para o DJ que lhe dá suporte e continua a pedir amor. Nao há bons conselhos, só há maus relatos. Mas isso dança-se, também se pode dançar como fazem os bons fora da lei de bons pés e ritmo certo. Mesmo que por vezes tudo funcione mais como um DJ set do que como um concerto. Mas hey: farra é farra, deixem-na há que deixá-la continuar.
Vontade para (re)ver King Gizzard & The Lizard Wizard também nunca falta. Desde aquela noite, em 2014, em que os vimos na pequena Garagem EPAL, inseridos no Vodafone Mexefest, o palco pequeno para tantos músicos e para tanta energia. No ano passado, os australianos deram um dos melhores concertos do Vodafone Paredes de Coura. Agora, no Palco ., constatámos mais uma vez que estes sete não sabem dar maus concertos — foi deles o único crowdsurfing que vimos até agora no festival. Os Pond, também do rock e também da Austrália, deram outros motivos para surf em cima de multidões, mas talvez ainda fosse muito cedo — 17h55, palco NOS.
Do “quase que chegaram lá”
É que foi mesmo quase quase. Os Whitney quase queriam ser os The Band. Começam com um vocalista/baterista, que é o critério fundamental. E dão à volta ao cancioneiro tradicional americano injetando-o com tiques de internet, coisas do novo século. Ficam mais próximos de ser filhos do indie do que filhos dos anos 60. Gostam de caminhar em direção ao sol enquanto desfiam boas malhas de uma guitarra que corre a cavalo. Mas esticam pouco a corda, arriscam a menos e ficam-se a mais pelo certinho direitinho. Têm bons momentos de “na na na na na”, dão beijos em palco, soltam avisos importantes como “cuidado com isso do romance” e põem arranjos açucarados em cima de palavras ácidas e agrestes. Mas e as canções, rapazes? As canções?
Já Julien Baker repetiu o que lhe costuma assistir: aquela mania de ser uma surpresa. Não há grande catálogo para isto. Chamem-lhe cantautora porque está sozinha em palco com uma guitarra. Chamem-lhe folkie porque conta histórias com cordas. Vista de onde a vimos parece alguém com coragem para dar e vender. Alguém que não guarda segredos, que gosta demasiado de toda a gente para esconder o que tem para contar. E tocava ao mesmo tempo que o cabeça de cartaz roubava quase todas as atenções. Enquanto Bon Iver fazia o que fazia com uma produção de encher estádios (nada contra, era o que faltava), Julien Baker metia o nome próprio num desfile de canções privadas. Grita-as, dá-lhes distorção, usa a voz e a guitarra como se delas dependesse a salvação do mundo. Se um dia as conseguir moldar de forma a que os outros as transformem em coisas própria, aí tudo pode ser ainda maior.
Quem se lembra dos Royal Trux, projeto que floresceu na cena underground nova-iorquina dos anos 80 e que terminou em 2001, vai reconhecer a confusão em palco e a dúvida sobre a sobriedade destes dois. Quem nesta quinta feira deu de caras com os Royal Trux neste fim de tarde, no Palco ., talvez não tenha ficado com grande vontade de se voltar a cruzar com eles.
Em primeiro lugar, antes de todos estes, estiveram os portugueses First Breath After Coma, que continuam a sonhar alto num mundo feito de pós rock e shoegaze, olhos postos no chão e aquelas descargas sobre as guitarras, a criar paisagens de quem estará sempre emocionalmente insatisfeito. Aguentaram bem o sol ainda alto e tiveram a boa visita de David “Noiserv” Santos.
Isto no início, porque no fim de tudo continuaram os Cymbals Eat Guitars, Richie Hawtin e Mano Le Tough. Dancem, sacanas, dancem. Deixem-se ficar. Se tudo correr mal, acordem onde adormeceram e continuem sábado fora. Isto só acaba quando tiver de acabar e diz que ainda há mais um dia. Vamos lá.