Título: “O Peso da Responsabilidade”
Autor: Tony Judt
Editora: Edições 70
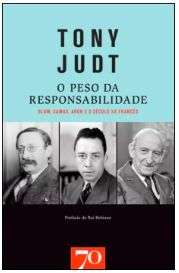
O Século dos Intelectuais, de Michel Winock, começa com uma visita do jovem Léon Blum a Maurice Barrès, em que o futuro chefe da Frente Popular pede ao famosíssimo escritor para assinar um manifesto de apoio a Dreyfus e a Zola, a propósito do famoso caso que viria a dividir a França. Barrès recusa e, com isso, estilhaça-se a paz intelectual francesa e começa o tempo dos grandes conflitos, dos compromissos e das cisões nas letras.
Acabam-se os salões literários em que Anatole France convive com Willy, a crítica puramente literária de Maurras, que fez do mestre da Action Française um dos primeiros admiradores de Colette, acaba-se o convívio prazenteiro entre Barrès e Zola, ou Rebatet, Drieu de La Rochelle e Brasillach com Blum, Gide, ou toda a legião de Dreyfusards. Os antagonismos políticos sobrepõem-se à coincidência de gostos pelas letras. Stéphane Giocanti, numa História Política da Literatura, marca o pelourinho uns anos antes. Vitor Hugo é o primeiro escritor cívico, o primeiro modelo social, de onde germinará a ideia de intelectual, que rebenta em força no caso Dreyfus.
O livro de Tony Judt é consequência desta ideia. Se Michel Winock dividiu o seu livro em três épocas – Os anos Barrès, Os anos Gide e Os anos Sartre -, Judt escreveu aquele que podia ser a resposta dos seus rivais: um ensaio sobre Léon Blum, um ensaio sobre Camus e outro sobre Raymond Aron como, de alguma forma, os intelectuais deslocados do seu tempo.
Ora, a ideia de intelectual deslocado é interessante porque parece quase contraditória. Judt, na verdade, estuda os intelectuais naquilo que é a sua essência escondida. A empáfia intelectual vem de uma convicção de que certas pessoas, mais do que massa cinzenta, têm massa prateada. Há um conjunto de seres pensantes cuja participação na vida pública deve ser ouvida com mais atenção. Não porque sejam especialistas nas matérias em causa, mas porque vêem mais longe. Os intelectuais são os génios e os sábios, aqueles que conseguem ver de fora o seu próprio comportamento. É por isso que assinam manifestos e petições com tanto alarido.
Claro que, para o observador comum, a especialização seriam uma vantagem na discussão pública. Em princípio, a autoridade de um general é maior do que a de um tísico bibliotecário quando se discute a guerra; o intelectual, porém, rejeita esta ideia de especialização, e fá-lo em nome de duas razões fortes.
O intelectual, em primeiro lugar, trata das “grandes questões”. Não lhe interessam as operações dos comandos, só os comandos das operações de todo o Universo. O intelectual trata das motivações profundas e – mais importantes – trata-as à maneira do intelectual. Isto é, na ideia de intelectual está pressuposta a crença de que há um património comum, não só nas “grandes questões”, mas também nas “grandes respostas”. Há uma maneira de pensar, “mais humana”, “mais sábia”, claro está, que é própria do intelectual.
A volta é curiosa. O intelectual pensa de maneira diferente do vulgo; mas, ao pensar pela sua própria cabeça, chega às conclusões a que chegam os outros intelectuais.
A condição intelectual é, assim, uma condição acima de tudo gregária. Em primeiro lugar, porque “intelectual” é uma característica que só existe colectivamente. No remanso da sua mansarda parisiense, o pintor é pintor, não intelectual. No conflito com a genialidade das suas linhas, o escritor escreve, não intelectualiza. Intelectual caberia numa inovadora categoria gramatical a que, juntando o melhor dos dois mundos, se poderia chamar o adjectivo colectivo. Juntos, os escritores, médicos, políticos e escultores formariam os intelectuais, com o propósito de criar manifestações intelectuais; separados, dedicar-se-iam aos seus trabalhos.
Este conjunto, porém, não se enquadra nas famosas categorias Aristotélicas. Ou seja, não basta ser médico para, na presença de um pintor, se tornar intelectual; há médicos intelectuais e médicos que o não são; ora, a imposição do hábito é dada pela comunhão com os outros intelectuais. Assim, a legitimação intelectual dá-se como em qualquer confraria: intelectuais são aqueles que pensam como intelectuais; dado que são os intelectuais que decidem como é que pensam os intelectuais, a pertença ao grupo acaba por se tornar sinal do gregarismo mais primário.
Não negamos que haja pintores ou filósofos que olhem para o mundo de uma forma mais ponderada ou mais genial; o que é engraçado é que, para se tornarem intelectuais, têm de abdicar destas características. O filósofo aspirante a intelectual pousa a Crítica da Razão Pura e perora sobre o estado do mundo – não é na sua condição de filósofo que é intelectual, é na sua condição de pensador público. Porém, para ser legitimado como intelectual, para autografar um manifesto encafuado no meio dos seus ídolos, tem de pensar como eles. O grande manifesto dos intelectuais, no fundo, diz: escutem os Homens que pensam pela sua própria cabeça; eles formam um grupo e pensam da mesma maneira. Se quiserem ser sensatos e profundos, se quiserem ser “intelectuais”, pensem como eles.
Ora, é este papel um tanto tolo que Judt mostra que os “intelectuais” vão representando na História do Século XX. Não há grupo mais sujeito a modas, não há maior colecção de bizarrias e histerismos injustificados, não há quem cavalgue mais depressa as ondas passageiras nem há quem seja mais rápido a coroar de glória o poder do que os grupos de intelectuais. As figuras que Judt traz para este livro são interessantes, assim, porque aparecem como resquícios de sensatez na mais louca barca do século.
Mais, o livro escora-se, sobretudo, na sanha que os intelectuais votaram, em alturas diferentes, a Blum, Camus e Aron; estes são os intelectuais que tresmalharam. O crítico literário que recusou o marxismo, o romancista que depois de dois romances que lhe dão a palma do existencialismo, foge à palmatória no caso da Argélia e o grande conhecedor da obra de Marx que se torna a voz pública de um certo Gaullismo. Mais do que antagonistas, os três protagonistas deste livro são vistos como traidores. Afinal, trilham um percurso modelar entre os intelectuais e, no pico da fama, fogem à opinião comum.
E se as figuras são bem escolhidas para mostrar um certo delírio colectivo no mundo intelectual, também é verdade que exprimem uma visão da vida que impõe algumas reservas. O caso de Léon Blum é o mais óbvio. Se o retrato que Judt faz do seu tempo é interessante por mostrar o fascismo e o integralismo como formas de vanguarda, com grande peso intelectual; se aponta para uma espécie de socialismo fabiano cuja presença estamos habituados a ver na Grã-Bretanha, a reboque de Bernard Shaw, mas não em França; se mostra como, ainda nos anos 30, o marxismo não tinha um lugar de domínio absoluto sobre as outras correntes socialistas, também falha no retrato que faz de Blum. Para Judt, a grande virtude que estes intelectuais exibem é a da moderação. A moderação é apresentada como uma atitude corajosa, contra-corrente, e que pode até ser radical. Blum, por exemplo, não cederia aos excessos comunistas nem aos autoritarismos dreyfusards. A moderação, porém, é um valor demasiado vago e frágil para poder valer por si. Para já, costuma ser sinónimo – e a tibieza de Blum pode ser um bom exemplo disto mesmo – de falta de convicções. Não porque as convicções exijam grande veemência ou grandes gritos, mas porque só há moderação naquilo que não é inteiramente bom. A moderação significa que se acredita em algo até certo ponto, até chegar a um limite difícil de traçar. É, assim, uma atitude céptica ou, na linguagem actual, conservadora. Ora, esta atitude, desprovida de princípios, fica normalmente refém daqueles que os têm. O governo de Blum não é dirigido pelas suas convicções, mas pelas dos sindicalistas. Blum nunca faz; Blum simplesmente faz menos, ampara, adia, matiza, isto é, não tem uma ideia, simplesmente agua as dos outros.
A tal moderação, além disso, tem o problema de ser completamente circunstancial. Se os extremos forem Houston Chamberlain e Gobineau, o anti-semitismo de Maurras é bastante moderado, e Blum é quase um sionista. É sempre fácil torcer o eixo, de tal modo que os moderados deixem de o ser. Judt percebe que há, de facto, virtudes em Camus, Blum e Aron, e virtudes admiráveis; porém, falha ao defini-las. Não é por serem moderados que eles são notáveis, porque a moderação, como mostra a própria história dos intelectuais do século XX, está onde a quisermos ver.















