Título: Crónicas da Província para Arquitectos mas não só
Autor: Pitum Keil Amaral e a Ovelha do Restolho
Editores: Argumentum e Ordem dos Arquitectos
Páginas: 104
Preço: 15 €
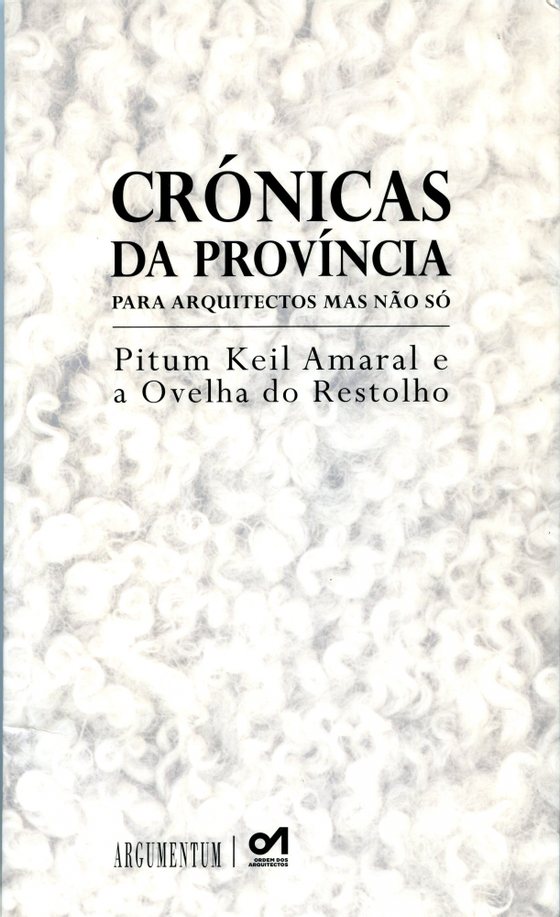
Em período de férias e deambulações de “andar a ver” pelo país, este é um daqueles livros que se lêem com o maior gosto. São cem páginas que se folheiam numa tarde, à sombra dum chapéu de praia ou debaixo de refrescante alpendre, e gargalhadas estão garantidíssimas pela personalidade do seu autor, aqui desdobrado num heterónimo que oscilou entre “o ancião de Monção”, “o idoso de Trancoso” e “o jarreta da Fuzeta” (p. 15), para ser afinal “a Ovelha do Restolho”, trocadilho serrano do estafado Velho do Restelo, pois em 1994 — há um quarto de século — Keil Amaral trocou os arredores de Lisboa pela Beira Alta (reocupou e reabilitou uma antiga casa de família em Canas de Senhorim, no concelho de Nelas). O motivo destas 28 charlas, publicadas de 1997 a 2004 em revistas profissionais, é precisamente esse raro ponto de vista que lhe permitiu observar a tal “província”, em especial a dupla autarcas/arquitectos e todo o malfadado ordenamento do território, lá onde eles verdadeiramente existem e como muito dificilmente se achariam com idêntica “perspicácia e rabugice” (p. 13). Quem julgue que a floresta é o maior imbróglio do interior do país encontrará talvez nestas Crónicas da Província — que também se chamaram Cartas da Serra (p. 11) — algo que o fará mudar de opinião.
No preâmbulo, escrito em 2012, Pitum Keil Amaral admite que este livro “era uma ambição que me dava muito prazer concretizar”, mas o facto de ter esperado sete anos para segurá-lo entre as mãos diz bastante da pobreza mental da nossa indústria livreira, que insiste em destratar temas portugueses de óbvia pertinência e centralidade, varrendo-os para a margem como resíduos arcaicos e inconvenientes, para dar prioridade à compulsiva tradução de literatura estrangeira de maior ou menor qualidade ou à conquista comercial de best-sellers globais. Quinze anos depois de terem sido escritos, estes retratos do país que somos — e tanto precisa de reflexão e conserto — voltam a fazer pensar e sorrir, mas apenas porque a Ordem dos Arquitectos, tornando-se agora co-editor delas depois de as ter acolhido no seu próprio jornal, ajudou a pagar a tiragem de — reparem — modestíssimos 350 exemplares.
350 exemplares… Caso para dizer, mais uma vez e certamente não a última: “Ao que chegámos, ao que chegámos…”
“Vou rabujar, na maior parte das vezes — porque penso que é o que a situação merece”, justifica-se e adverte Pitum Keil Amaral na crónica de apresentação, em Abril de 1997, que é também uma evocação do máximo instigador dos seus escritos, o “muito caro” amigo o poeta e jornalista Fernando Assis Pacheco — inesperadamente falecido em Fevereiro de 1995 (“Assim. Sem mais. Não foi bonito. Não foi simpático. Nem parecia dele”, p. 14). O arquitecto tinha 62 anos quando começou estas cartas, que reconhece não estarem inteiramente “limpas de amargura” (p. 14), pois os embates da vida profissional recomeçada na contra-corrente dos movimentos migratórios habituais exigiram-lhe um assinalável jeito de cintura, desde logo para perceber e aprender a lidar com “A Vida Autárquica” (capítulo inicial), e figuras como a do autarca, escalpelizado até ao tutano nos tiques de pequeno déspota local, ou a do “modesto arquitecto municipal”, cujo destino é sair da missa de domingo, onde foi agradecer ao Senhor “tudo o que me concedes no município e não só”, directamente para a urgência do hospital e descobrir que “tem a espinha numa lástima… A sua coluna vertebral está completamente torcida” (Janeiro de 2001; p. 35).
“Eu sei que existem zonas de protecção aos edifícios e monumentos históricos. E que existe o bom senso. Mas onde estão?”, pergunta graciosamente Keil Amaral diante de “uma moradia enorme, novinha, em forma de castelo, em granito e com as respectivas ameias, recortando-se contra a silhueta do velho e autêntico castelo [de Sortelha (Sabugal)] — muito mais modesto que ela, coitado!” (p. 80). Logo depois, lembrando um dos mentores do importantíssimo Movimento de Renovação da Arte Religiosa (1952-70), o arquitecto Nuno Teotónio Pereira (cujos textos seriam tão “nutritivos como a erva das margens do Mondego”), Pitum — desta feita, enquanto Ovelha do Restolho — clama contra a absoluta liberalidade dos supostos “melhoramentos” em “centenas ou milhares” de capelas e igrejas antigas salpicadas pela nossa terra, “sóbrias, dignas, austeras por vezes como quem as levantou nos tempos idos” (p. 83). Muito poucas são classificadas e sujeitas a tutela ministerial, e as autarquias deixam as demais por “costume tácito” às mãos ou ao completo deus-dará de comissões paroquiais e de padres, “em geral, pessoas simples e bem-intencionadas, vindas na sua maioria de famílias modestas”, ou reféns das dádivas de fiéis de gosto duvidoso mas “felizes por melhorá-las com o seu dinheiro”: “Entrava muito frio pela porta principal. Felizmente, um benemérito ofereceu um guarda-vento em alumínio anodizado dourado, com vidros martelados roxos” (p. 84).
Uma razia de belos cedros de grande porte — “um regalo para a vista no meu caminho para o trabalho” (Outubro de 1998; p. 88) — que ladeavam uma estrada nacional da Beira Alta também chocou e entristeceu o arquitecto, muito pouco convencido pelo argumentário securitário da Junta Autónoma das Estradas, que por sua vez rasgou caminho às autarquias da região que, escudadas por supostas directrizes da Protecção Civil, “aproveitaram a deixa para abater uma série de árvores majestosas” de beira de estrada, irradicadas também da bordadura de imponentes e impactantes zonas industriais ou até da proximidade de um número cada vez maior de casas de emigrantes, que só frentes principais desafogadas permitem admirar no seu horror.
Num lago de montanha em pleno parque natural, onde o ar é puríssimo e as vozes ecoam a longa distância, não tarda a chegar a brutalidade humana em versão tipicamente portuguesa — “soluções expeditas e cómodas que caracterizam o nosso povo” (p. 93) e por ele confundidas com a liberdade de fazer o que se quer —, desde chutar latas de refrigerante para um prado próximo até largar fraldas de bebé (“uns embrulhinhos encantadores”, p. 91), garrafões de plástico e cascas de melancia no primeiro pedaço de terra que apareça, todo o tipo de “resíduos de verão” que em 1998 Pitum e os seus pequenos netos recolheram no fim do dia, entre o lago e o carro, do musgo ou de entre as urzes, numa lição familiar de “ecomentalidade” sem equivalente social — aliás, como diariamente se pratica e demonstra, duas décadas depois, por todo o país…
Também o emergente turismo de habitação ou rural e o salvamento da ruína de “alguns belos solares, vários imóveis de qualidade e até muitas construções rurais honestas, apesar de simples”, são tema de uma crónica de Maio de 2009, a única que me parece ter perdido fulgor e acerto dez anos depois, pois os padrões de qualidade e a diversidade de oferta instalada melhoraram bastante desde então, mas ainda assim justíssima quando diz: “sem que isso seja, claro, a salvação da província e do mundo rural” (p. 85). Tão-pouco o será se “os municípios da serra resolverem suspender os respectivos planos directores municipais, para permitir realizar projectos gigantescos” (p. 49), como imaginado na crónica “O progresso vem aí” (Março de 2000), em que homens “quase todos de fato escuro e gravata e pastinhas pretas na mão” saltam dos seus automóveis e se põem a imaginar um grande centro comercial de aço e vidro — “como que a levitar” — na Serra da Estrela, com estacionamento em cave “entre as rochas naturais” e a Cabeça do Velho “integrada na sala de congressos” do hotel…
No centro do livro, como de tudo isto, está “O melindroso problema do gosto”, um capítulo ao qual Pitum Keil Amaral dedica oito artigos, alguns dos quais já aqui referidos, e um tema que lhe tem “dado muito que pensar” (p. 67). Uma visita ocasional à feira de Torre de Moncorvo e um pequeno passeio pela parte nova da vila — dose dupla de panóplia de estética popular contaminada por influências, do plástico à maison — colocam o arquitecto diante de “um espectáculo de rara coerência — e cada vez mais vulgar entre nós”, que lhe sopra “uma sensação cada vez mais desconfortável: a de que eu estou a mais nesta harmonia” (p. 72). Esta nova arquitectura de moradias individuais, instalada pela emigração mas assimilada por estratos residentes socialmente equiparáveis, já nada tem a ver com a arquitectura vernacular que o famoso Inquérito dos anos 1950 identificou — em que materiais de construção, climatização doméstica, formas arquitectónicas e povoamento tinham expressões locais e regionais claríssimas, vincadas e tradicionais — e triunfou em toda a linha e para todas as gerações.
O “formidável impulso construtivo dos portugueses” tem um tão forte impacto na paisagem nacional que Keil Amaral pergunta: “Será o comum dos mortais sensível à degradação da paisagem e do ambiente, que já se verifica [2002], ou teremos de esperar mais algumas gerações até que os efeitos negativos, de tão evidentes, exijam intervenções drásticas para remediar o que ainda tiver remédio?” A essa pergunta drástica acrescenta outra: E “os arquitectos, no meio deste turbilhão, com a sua mania de pôr ordem no caos e tornar o mundo mais belo, que papel irão ter nesta história?” (p. 79).
O ensino da arquitectura — a que Pitum Keil Amaral também se dedicou, em Lisboa e Viseu — também é tema cronístico, e humorístico, claro, mas a expectativa não é animadora (e assim mesmo se acaba o livro: “Vão lá, vão lá, meus borreguinhos! — Vão lá aprender qualquer coisa!”; p. 104). Noutro passo, diz a Ovelha do Restolho: “Perdoai-me, Senhor, que não sei o que fazer! — As ovelhas não choram. Quando muito balem, tristemente. Mééééééééé.”


















