[artigo originalmente publicado a 15 de novembro de 2019, atualizado a 13 de novembro de 2020 a propósito da morte de John le Carré]
No caso de cada novo livro de John le Carré os elogios são, no mundo da crítica – e dos leitores que os compram automaticamente – uma espécie de reflexo condicionado. Nem sempre inteiramente merecidos. Devo confessar que não aprecio grandemente a atividade panfletária do cidadão David Cornwell, que transborda muitas vezes para os livros do seu alter ego literário. Mas pode dizer-se que se lhe perdoa o mal que faz pelo bem que nos souberam muitas das suas obras. Será sempre, faça o que fizer, o autor da inolvidável Trilogia de Karla – os três romances em que George Smiley defronta o seu homólogo soviético e o agente dele em Londres, a chamada Toupeira, cuja sedução da mulher de Smiley é uma manobra de diversão brilhante e cínica.
Os seus grandes romances da Guerra Fria marcaram muitos leitores da minha geração. De todos os que escreveu são o que mais indelevelmente permanecem na nossa imaginação e na nossa memória, reavivada periodicamente pelo cinema e pela televisão, em adaptações geralmente honrosas. Além, claro, do perfeito O espião que saiu do frio que, à terceira tentativa literária do autor, lançou Le Carré para o resto da sua carreira nas listas de best-sellers (e teve também a sua notável adaptação cinematográfica). São certamente um monumento literário do século XX. Mas, sempre cruelmente lúcido sobre as hipocrisias e fraquezas do lado ocidental, Le Carré não disfarça um certo fascínio pela epopeia estoica, implacável e quase sem falhas “humanas” que vê no inimigo comunista. De uns – pedindo a devida vénia ao poeta – pode dizer-se que Le Carré não relata infâmias ou violências, mas sim pecados ou cobardias. Os últimos, em contrapartida, infames ou violentos, nunca são verdadeiramente vis.
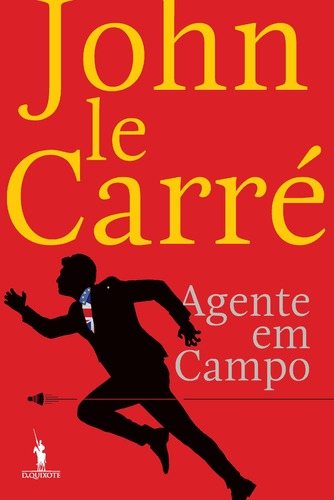
A capa de “Agente em Campo”, de John le Carré (D. Quixote)
Na bibliografia já bastante extensa de Le Carré há romances menores e mais pretensiosos como The Little Drummer Girl ou mais rotineiros e convencionais como Our Kind of Traitor e vários outros igualmente decepcionantes da fase que se seguiu ao fim da Guerra Fria. Incluindo, até, o recente A Legacy of Spies, uma nova tentativa não muito bem-sucedida de regresso à magia tecida no passado. Uma tentativa que fora mais eficaz, apesar de tudo, no caso do superior, embora desconjuntado, The Secret Pilgrim, romance da transição da Guerra Fria para a nova ordem mundial. Não falemos da sua incursão na literatura “a sério”, A Naive and Sentimental Lover, em que dificilmente apetece passar das primeiras páginas: mas isso é uma outra e mais antiga história.
Agente em Campo, um livro menor, não é, na sua relativa insignificância, dos piores dessa segunda divisão. Está de certa maneira, literariamente, a meio caminho entre as obras dos seus melhores dias e aquelas que foram quase absolutas decepções. Os seus dotes de observação, o seu talento de escritor e o seu métier de narrador lá estão, embora às vezes pareçam um tanto mecânicos. Mas também há rodriguinhos fáceis no entrecho – e personagens de cartão, como a compreensiva mulher do protagonista, com a sua atividade pro bono de advogada das “causas” que são de esperar.
A intriga serve, sobretudo, de pretexto a uma arenga política sem grandes matizes, embora habilmente entregue, na sua parte mais vociferante e destrambelhada, ao inepto “agente” amador, de quem o autor-narrador, diplomaticamente, aparenta uma certa distância. Um reparo à versão portuguesa: um dos últimos capítulos termina com uma frase que antecipa a revelação crucial: I think Ed pressed the wrong bell. Podia ser, em português, à letra, “Acho que o Ed tocou na companhia errada” ou “Enganou-se na porta” ou … Mas “Acho que o Ed fez mal” é inócuo de mais – e incongruente. (Quem ler o livro – e lê-se de um fôlego — percebe o que quero dizer.)
O protagonista de Agente em Campo trai os seus chefes – a bem de salvar um inocente ou, melhor, um culpado ingénuo (isto não requer um spoiler alert, percebe-se tudo desde relativamente cedo, mas não é aí que reside o busílis central da intriga). Não é a primeira vez que no mundo ficcional de Le Carré ecoa a célebre e capciosa antítese de E. M. Forster: “If I had to choose between betraying my country and betraying my friend, I hope I should have the guts to betray my country.” (“Se alguma vez tivesse de escolher entre trair o meu país e trair um amigo, espero que haveria de ter a coragem de trair o meu país.”).
John le Carré foi uma das vozes famosas que nestes últimos anos se fez ouvir com estridência contra os grandes vilões ocidentais do nosso tempo mediático como Donald Trump ou os partidários do Brexit, tudo avatares do “populismo” que tem feito desvariar muita gente geralmente sensata. Na busca de uma aura de heroísmo por associação intitulam-se – na livre América – “a Resistência”, acompanhados por 90% da comunicação social “de referência”. (O historiador militar e classicista Victor Davis Hanson, autor do recente The Case for Trump, tem artigos muito instrutivos sobre a matéria, em particular Why do they hate him so?). A “Resistência” caracteriza-se principalmente por se recusar a dar por bons quaisquer resultados eleitorais ou a tolerar sem espumar opiniões que contrariem a moralidade supostamente indiscutível do establishment cultural e político. É uma “revolta das elites”, para usar o título do livro profético de Christopher Lasch, que já tem uns bons anos. O povo – afinal – é estúpido e mau, como achava o socialista interpretado por Alberto Sordi em “O grande engarrafamento”.


















