Título: Revista de Museus, n.º 2
Director: Daniel Santos
Editor: Direcção-Geral do Património Cultural
Design: Vera Velez
Páginas: 264, ilustradas
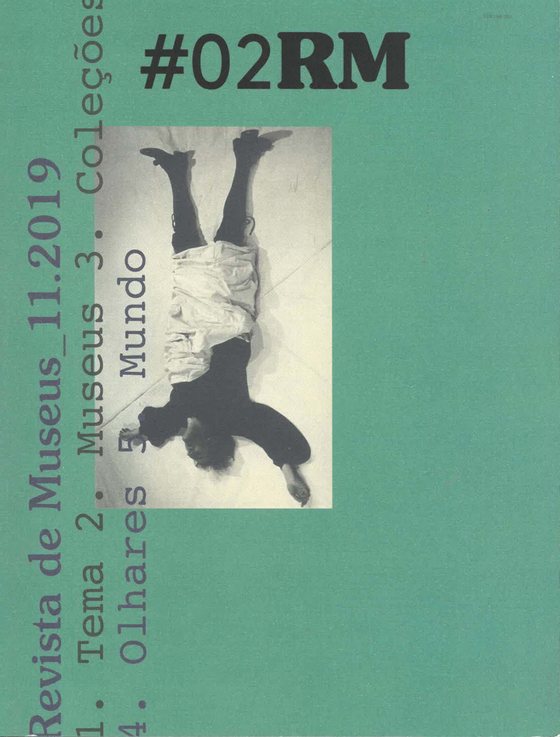
A capa do segundo número da revista dos museus
Forçando museus no mundo inteiro a um fecho abrupto e prolongado, a pandemia levou-os a esticarem os braços da sua criatividade para manterem contacto com os seus públicos habituais ou esporádicos, de modo a que não se perdesse a centralidade que ocupam na vida das comunidades e na representação identitária de países, regiões e grandes tradições culturais. Mostraram, ao mesmo tempo, quão adiantados estavam e estão — ou, inversamente, quão atrasados estavam e estão — no aproveitamento da sociedade digital para o desempenho das suas múltiplas actividades, pois em apenas dias ou semanas saltou-se directamente da compra antecipada de bilhetes, do anúncio das exposições actuais ou futuras e do merchandising online para visitas virtuais em larga escala, com historiadores de arte, conservadores e curadores diante de câmaras de filmar a apresentarem obras temporariamente vedadas à boa fruição presencial. E não pode haver dúvida de que essa cornucópia de acções acelerou a percepção de muitos acerca da verdadeira mudança que a era digital veio proporcionar aos museus, instituições conservadoras por natureza.
Quem está do lado de fora não adivinha facilmente os debates que percorrem e estimulam os diferentes protagonistas — nem sempre muito evidentes — da vida dos museus, na qual estão a emergir figuras e funções da relação destas instituições com os seus públicos, quer numa perspectiva transgeracional, pois novas linguagens e capacitações exigem abordagens específicas e lúcidas, quer no que diz respeito ao pequeno grande mundo a que por comodidade chamamos “as redes sociais”. Serviços educativos deixaram de ser considerados como dirigidos apenas a visitantes juvenis em visitas escolares de estudo, ruidosas e rapidamente esquecíveis, ao mesmo tempo que colóquios, debates e lançamentos passaram a figurar na actividade regular de museus de todo o tipo, exigindo reforço dobrado na comunicação quer à imprensa quer a um círculo ou rede de “amigos” e visitantes habituais, de que uma parte são artistas, galeristas, professores de belas-artes e curadores (políticos, já se sabe, não se interessam particularmente…). Significa isto que — visto sobretudo a uma escala alargada, pois turistas nacionais e estrangeiros continuam a ser a quase totalidade dos visitantes — a era digital induziu no quotidiano dos museus a necessidade de pensar ou repensar a fundo essa crescente proximidade com os seus públicos, e considerável literatura foi já publicada sobre teoria e prática desse admirável mundo novo.
Discretamente lançado em finais de 2019, este segundo número da Revista Museus, sob orientação de David Santos — director do Museu do Neo-Realismo de 2007 a 2013 e primeiro “curador da colecção de arte do Estado”, desde Fevereiro passado —, ganhou súbita actualidade com a pandemia, precisamente pelo destaque temático a “museus e sociedade digital” e à “internet dos museus”. Os contributos são variados mas nem todos estimulantes, porque a quantidade de frases feitas ou batidas e o bizarro mas contínuo sentimento de que muito pouco deste discurso reflecte — ou pode influenciar a prazo — a realidade concreta das instituições portuguesas (cuja conhecida precaridade de meios as colocam nos antípodas do que está a ser feito noutras paragens), arriscam tornar esta abordagem oficiosa num exercício de propaganda política, dando-se contudo ares de alguma modernidade…
“A forma como os museus portugueses estão a responder aos desafios trazidos pela evolução das tecnologias é fragmentada e pouco estruturada”, lê-se à p. 16, onde também se podem respigar frases como “a digitalização e a gestão de colecções (incluindo arquivos) foram referidas como áreas centrais que carecem de desenvolvimento” e “requerem investimento significativo e concertado”, “assertivo e continuado” (já p. 20). Mas resultando estas apreciações dum inquérito nacional feito em 2015, fica por esclarecer o que foi — e o que não foi — feito desde então para suprir tais défices e acompanhar a par e passo — ou ver afastar-se na dianteira — o notório impulso contemporâneo (“alteração de paradigma, diz Patrícia Remelgado à p. 27), aceitando na prática a recomendação duma “avaliação monitorizada, quer do esforço necessário, quer dos meios disponíveis (humanos, financeiros e tecnológicos), de modo a sustentar maiores desenvolvidos de forma coerente e integrada” (Carvalho e Matos, p. 22). Não é credível que a Direcção-Geral do Património Cultural se afirme como porta-voz dum debate essencial e ao mesmo tempo se esquive às suas obrigações de resolução política quanto ao futuro das instituições que tutela.
De alguma maneira, os assuntos em avaliação são ou podem ser, digamos assim, de alguma gravidade. Quando se lê, por exemplo, que “é primordial reconhecer que o essencial da museologia reside na relação estabelecida entre o museu e os seus públicos, e não entre os museus e as suas colecções”, ou — pior ainda — que os conservadores (historiadores de arte) “perdem a hegemonia da produção do conhecimento, perante públicos activos” e “a emergência de uma cultura mais participativa” (pp. 28, 30), é difícil não erguer o sobrolho diante da notória tentativa de invasão das agendas politicamente correctas (quiçá o inócuo “advento do futuro” citado na p. 28), através da “democratização da produção e organização dos conteúdos, que deixam de ser, apenas, da responsabilidade dos profissionais, para resultarem do contributo de qualquer cidadão, numa lógica de comunidade dinâmica”, a ponto de — aparentemente sem risco nenhum — “em alguns casos editar informação produzida por outros” (p. 33).
Fátima Faria Roque advoga “moldar o Museu à compreensão dos seus públicos […], ousando abordagens temáticas em sintonia com as problemáticas do século XXI”, a que chama “os vários alertos cívicos” ou “os temas quentes da actualidade” (p. 69). Pelo seu lado, Maria Vlachou proclama que o acesso aos museus é “um processo muito pouco democrático, onde os habituais guardiões decidem a que é que vale a pena ter acesso e como”, recomendando que “alguma pressão” seja exercida sobre “os profissionais dos museus para a criação de uma cultura democrática”, de “acesso aberto para o benefício da sociedade” (p. 55).
Obras em imagens de alta resolução cedidas a todos sem reservas ou encargos facilitariam uma descontextualização e recontextualização artística de consequências imprevisíveis, mas que importa isso ou a materialidade como essencial à percepção humana, se o que faz falta — admite ela — é alterar “o tom bastante institucional” vigente, em favor de “criação de relações”, uma “partilha de histórias num tom humano, directo, quotidiano, emotivo e com sentido de humor”, “um relacionamento mais humano, mais relevante e sustentável com as pessoas” (p. 56). “Comunicação curatorial” é o palavrão atribuído a esse perfeito disparate, feito da “certeza e alegria de relações inesperadas” (Roque, pp. 68, 74)…
Melhor seria dizer, com Emília Ferreira, que “tanto o digital como o museu têm, como Jano, duas faces. — A associação das novas tecnologias ao conhecimento e à vida das instituições museológicas apresenta benefícios e problemas” (p. 158). Apoiando-se em António Damásio e em Lamberto Maffei, opondo atenção plena, corporariedade e abrandamento à sedução da velocidade e da facilidade concedidas pelo mundo digital, a directora-interina do MNAC desde o fim de 2017 diz-nos enfim que “o museu, como qualquer organismo vivo, sobreviverá tanto mais robustamente quanto mais e melhor conseguir assimilar o que o perturba” (p. 164).
Ao fim e ao cabo, o concreto de cada museu é que lhe diz como reinventar-se na sociedade dita digital. As narrativas de Sara Pereira sobre o Museu do Fado, e de Elena Morán e Pedro Ferreira sobre o — muito exigente — Museu de Lagos, tratam exemplarmente da integração de arquivos por meios multimédia nas representações históricas ali expostas a visitantes, enquanto Diana Marques defende que os recursos tecnológicos e aplicações da chamada Realidade Aumentada, com toda a sua panóplia de experiências interactivas, ao conseguir aproximar analógico e digital, veio dar “nova vitalidade” e valor às visitas presenciais (p. 126). Tratando da especificidade do Museu do Dinheiro, onde “conservar o património com novos e mais eficazes meios de segurança” exige zelo especial, Daniela Viela diz que o recurso a meios interactivos no desenho dos museus contemporâneos foi ali posto à prova e testado através de inquéritos ao público e à própria equipa para aferir das virtudes da mediação pessoal e da mediação tecnológica — descobrindo vantagem numa paridade entre ambas.
O protocolo celebrado entre a DGPC e o Google Arts and Culture pode ser bramido pelo seu subdirector-geral como uma “relevante conquista também ao nível da acessibilidade” (Santos, p. 204) do património museográfico tutelado. Mas o extraordinário, monumental trabalho que importa fazer na requalificação tecnológica do absurdo acervo MatrizNet e junto de instituições regionais e locais quanto a essa “fusão aparentemente imparável” de real e virtual é uma vez mais deixado de parte, desprezando-se a inclusão territorial que a revolução tecnológica afinal veio proporcionar — mas só para alguns, claro…
















