Título: Maremoto
Autora: Djaimilia Pereira de Almeida
Editora: Relógio d’Água
Páginas: 112
Preço: 17€
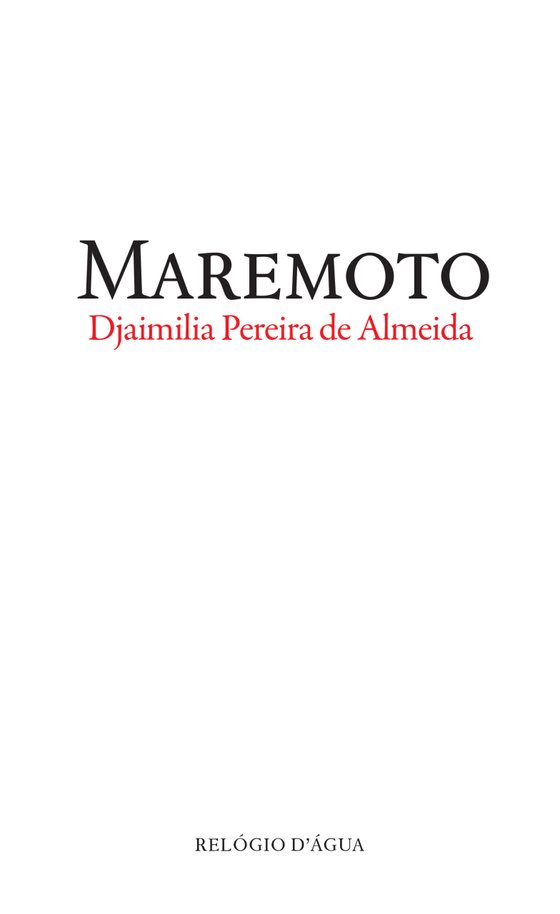
Pela mão da Relógio d’Água, veio agora a público o romance Maremoto, de Djaimilia Pereira de Almeida. Curto, parece um conjunto de tacadas: as personagens são credíveis, o ponto de observação está bem montado, a linguagem é quase sempre crua e faz efeito.
Aqui, a ação parte de Boa Morte da Silva, um arrumador de carros que escreve para a filha, com quem não tem contacto, para sentir que a vida se expande.
Décadas antes, foi à guerra na Guiné, integrado nas forças portuguesas. Agora, já velho, tombado por uma hérnia, dorme no Prior Velho, estaciona carros na rua António Maria Cardoso, recebe umas moedas aqui e ali. Duas ruas acima, vive Fatinha, na Rua do Loreto, na paragem do 28. Pela força das circunstâncias, estabelecem uma relação que parece a de avô e neta. Contemporâneos “como duas árvores, dois cães vadios” (p. 9), encontram-se refletidos na solidão do outro.
Ao ganhar a vida na rua, consoante a sorte, Boa Morte decora as ruas e as rotinas: “Somos bichos de hábitos e a cidade é feita da nossa mania de fazer o mesmo à mesma hora” (p. 10). Assim, sabe do casal que lhe dá um euro, mas vive sem certezas, nunca sabe quanto terá no bolso. Não há patrão nem dono da rua, mas Boa Morte veste um colete para se sentir um empregado e, portanto, para se enquadrar na banalidade alheia e fingir que foge da sua vida de exceção. Ainda assim, o contraste entre ele e os outros é evidente, e também o leitor o sente como sombra da paisagem, embora, desta vez, partindo da sua cabeça como ponto de observação.
De Lisboa, Boa Morte vê Bissau, tanto no passado como na cabeça: a família que ali perdeu, a sua participação na guerra, os homens que se fizeram cadáveres às suas mãos. Tudo isso é parte dele e não o larga. Ao mesmo tempo, vê-se a invisibilidade de quem existe quase sem amarras, de quem tem de arrancar a vida ao dia-a-dia, para quem cada dia é uma luta, de quem quase ninguém sentiria a falta: “se eu morresse hoje, ninguém ia sentir minha falta, marinheiro sem navio, homem sem destino” (p. 16). Num todo orgânico que a autora construiu de forma harmoniosa, também se vê a condição, a sucessão de passos que levam alguém à rua.
Para mais, Djamilia Pereira de Almeida trata a personagem de Boa Morte com uma subtileza rara, daí que o leitor não se alegre com o destino do protagonista, que não veja na sua condição uma vingança, um resquício de justiça, mesmo que saiba do gesto de violência que lhe mudou a vida:
“Olhava para a tua mãe, via um bocado de carne em sangue. Agora, nem sou capaz de escrever o nome dela, não sou digno de o dizer, esse animal dentro de teu pai está hoje enjaulado.” (p. 23).
Pelo contrário, sobeja a perdição de Boa Morte, sem que este tente justificar nada, sem que seja o ogre violento, sem que seja a vítima do destino. O seu passado, claro, extravasa o episódio único de violência, também ele enquadrado numa história biográfica que é também a história de um país. Ouvimo-lo falar da “porrada toda que dei nesta vida”, nos compatriotas que matou “na guerra sem misericórdia”, a auto-penitenciar-se, “preto que mata preto tem de sofrer amargamente” (p. 25), mas sabemos que o que traz às costas não é tanto o seu livre arbítrio, mas mais uma manipulação política e de recursos que, de mansinho, o empurrou para ali.
E, em Lisboa, trabalhando no Chiado, o leitor sente o contraste entre um quotidiano que é combate e a memória de um combate a sério:
“Uma impressão de boca seca, peito a arder, aquele sabor da água das poças na floresta, e eu a rastejar feito centopeia pelo mato, lama na roupa, lama na cara, me dá a impressão, aí deitado o quarto, que a lama toda daquele dia da guerra vai cair em cima da minha cabeça.” (p. 36).
O homem já está velho e seguimos dali para o passado, entendendo os traços gerais de uma vida que se foi desfolhando até já só restar um corpo e uma cabeça obcecada com memórias: “Coisas da minha vida que desbaratei: minha farda, meu posto, minha herdeira, minha mulher, minha casa.” (p. 49). Boa Morte sabe o que perdeu e como, mas talvez não consiga identificar os momentos-chave do porquê. Com remorsos, recorda a violência que surgiu quando a mãe da filha lhe disse “tu andas enganado, nunca serás português, esses brancos te usaram como usaram nossos compatriotas” (p. 67). Depois, “foi a pé, com o maxilar deslocado”, com a filha às costas, “até à casa da tia dela para lhe levar no hospital, quatro quilómetros” (p. 66). Nunca mais a viu e ruminou o que ela disse, dizendo para si mesmo que a “terra dum homem é a terra que ele cava, terra pela qual um homem mata, e eu matei por Portugal antes de conhecer as ruas de Lisboa” (p. 67). Ao lê-lo, sabendo da sua condição, quase se ouve o baque da ilusão desfeita, de um homem que veio ao engano, vítima psicológica e emocional de um projeto político mascarado de sentimento.
Claro, intui-se que a mãe da filha tem razão, e que a razão da raiva vem daí. A instrumentalização de Boa Morte é evidente e ter chegado ao “seu” país sem registos e sem nada só o prova enquanto corpo posto ao serviço de uma ideia. A terra guardou-lhe “lugar de farrapo” (p. 67), a ele, que matou “como um louco”, que a cada cadáver se entregou a Portugal. Para os seus compatriotas, será um traidor. Para os portugueses que o veem, será o empecilho que não se conseguiu safar na vida, a viver dos despojos que eles largam por Lisboa.
Assim, passa os dias no Chiado, coração de Lisboa, deitado à sua sorte. O país que amou e serviu, pelo qual matou o outro, não lhe dá amor nem lugar nem recompensa – nem sequer cidadania. Tudo parece soar a azar e a desperdício.
O livro é forte e escorreito. Djaimilia Pereira de Almeida preferiu mostrar em vez de contar, imbuindo as suas personagens de uma subtileza que as faz gente.


















