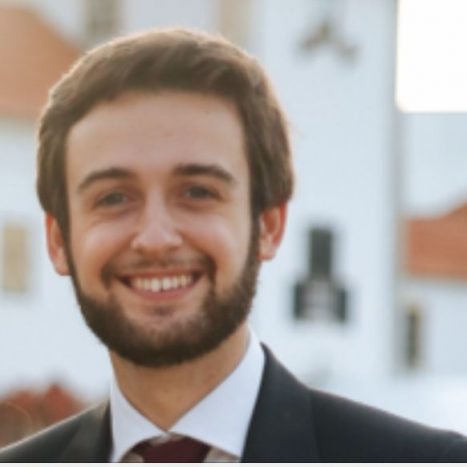Poucas vezes a ironia se apegou tanto a alguém como ao destino de Diogo do Couto. Ao primeiro guarda-mor da Torre do Tombo de Goa, que coligiu com denodo as cartas e documentos que traçaram a nossa história no Oriente, ao coca-bichinhos que organizou paciente o acervo português da Índia, ninguém homenageou o seu trabalho com igual paciência para reunir a sua obra; ao estudioso que pugnou pela inserção no arquivo de todos os documentos da Índia, mesmo da Índia do seu tempo, nenhum contemporâneo votou igual pressa para a publicação dos seus escritos; ao clássico de labor mais constante e notório, nem a História quis valer: da sua copiosa obra, resta-nos pouco mais do que uma nesga.
A biblioteca lusitana, do século XVIII, dá notícia de várias dezenas de obras de Diogo do Couto; à biblioteca nacional, de hoje, talvez não tenha chegado sequer uma dezena. A primeira impressão do Soldado Prático surgiu em 1790, já Diogo do Couto morrera há 174 anos. Se tal sorte tivesse cabido à Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, perdida ou saqueada numa das atribulações do autor, percebíamo-lo; se tivesse cabido a Camões, ainda assim mais viajado, também; agora, que ao guardião de toda a letra impressa o azar não guardasse mais do que um sumário da sua vasta produção, já é difícil perceber.
Diogo do Couto não teve uma vida atribulada, ou, pelo menos, não mais estuada do que a de tantos outros do seu tempo. Foi aluno de Bartolomeu dos Mártires e colega de D. António, futuro Prior do Crato, amigo de Camões e biógrafo dos Gamas; foi guerreiro por pouco tempo, estudante por menos ainda, e cronista da Índia no muito da vida que ainda lhe sobrou. Nasceu em Lisboa e morreu em Goa, na Goa em que esteve primeiro como soldado e depois como cronista e guarda-mor da Torre do Tombo, na Goa de quem tomou as chagas – já profundas no seu tempo – e a história, mulher e soberanos. Na Índia casou, viveu e morreu, amparado pelos registos dos feitos gloriosos do seu povo na sua terra amada, lente consoladora de um presente já não tão imponente.
De facto, das Décadas de João de Barros para as Décadas de Diogo do Couto, esta é uma das grandes diferenças perceptíveis: João de Barros narra uma epopeia de conquista, Couto uma melopeia de abandono. João de Barros tem um donaire linguístico a que Couto, mais contido no estilo, responde com um rigor e uma abundância de factos e nomes impressionantes; Barros é elegante enquanto Couto é apenas límpido, Barros é grandioso enquanto Couto é apenas realista; tudo isto se nota, sim, mas nota-se sobretudo que enquanto João de Barros admira um povo, Diogo do Couto ama uma Terra; João de Barros admira os Portugueses, Diogo do Couto ama a Índia portuguesa. Daí que, de uma História mais política, mais administrativa (a que o poder literário dá uma as mais garridas cores, é certo), se passe com Couto a uma história mais pinturesca. Couto relata o seu encontro com Camões na oitava década, perde-se em historietas de estroinas marciais, entra na história social e privada de uma forma que nem muitos dos melhores modernos entram.
Tem, sobre João de Barros, a vantagem de ser um observador in loco da presença Portuguesa no Oriente; isso permite-lhe manejar com segurança o quotidiano, sem precisar de grandes atavios estilísticos para ilustrar um episódio. Daí que a sua prosa possa ser económica, quase linear, sem perder brilho; não tem ainda a apetência barroca pela palavra, não torneia a frase para que ela se faça notar, mas tem um arsenal suficiente para que nada do que quer dizer se perca por míngua de palavras. É, por vezes, demasiado directo: lista nomes ou tipos de barco como um autêntico burocrata, mas compensa esta frieza de estilo com um verdadeiro empenho no conteúdo.
Diogo do Couto foi, durante anos – e por causa do Soldado Prático – tomado como a nossa literatura negra sobre a expansão. De facto, o soldado prático descompõe governadores e fidalgos, lamenta a ganância de uns e a ignorância de outros, lamuria-se sobre o estado da Índia e dá conta de roubos e manigâncias que a lenda dourada dos descobrimentos costuma polir. Mesmo nas décadas, narra desaires bélicos em que a decadência portuguesa está mais à vista do que a luz; no entanto, Diogo do Couto é, mais do que um delator, talvez o maior defensor da Índia portuguesa. É crítico como o maior idealista é crítico, porque ama aquilo que a Índia foi e que quer que volte a ser; deplora o estado em que se encontra a Índia, mas porque queria o estado em que já não a encontrara. Não é inocente que escreva a história dos condes da Vidigueira (Gamas); posto ao lado do Velho do Restelo, Couto não é mais uma voz no coro, é precisamente o alvo: ele quer as palmas que Portugal já não conquista na Índia, anseia pela glória de vencer. As suas décadas são sofridas e melancólicas, como dá várias vezes conta ao rei D. Filipe I, por comparar a sua Índia com a Índia dos seus antepassados.
Da mesma maneira que se sente abandonado no seu projecto da Torre do Tombo, sente a Índia abandonada pela coroa; os mesmos golpes palacianos que lhe vão fazendo tremer o posto são aqueles que fazem cair aos poucos o Império. E Diogo do Couto, apaixonado pela sua Goa, sofre com isso.
Não foi o primeiro nem o último cronista da presença portuguesa no Oriente. Nas Décadas, está entrecomado entre o mais famoso e o mais desconhecido. Foi, porém, o primeiro cronista da vida da Índia. Pode não ter o estilo de João de Barros, nem a imaginação de Fernão Mendes Pinto. Se tivesse apenas os seus preciosos documentos, podia nem sequer ter sobrevivido, como não sobreviveram os – a fazer fé em Severim de Faria – comentários aos Lusíadas pedidos pelo próprio Camões. Para os factos, há Gaspar Correia, como há a História Trágico-Marítima, como há Zurara; mas para tal empenho, para tal amor pela Índia, não há outro.
As Décadas são, pela quantidade de batalhas e assaltos descritos, obviamente uma história de sangue; pois bem, Diogo do Couto não fez por menos: por tantos que o foram perdendo na progressiva decadência das suas décadas, foi desse mesmo sangue que fez a tinta para os seus relatos.
Carlos Maria Bobone é licenciado em Filosofia. Colabora no site Velho Critério.