A Terra é plana, as vacinas matam e as alterações climáticas não existem. Se movimentos como estes existem a culpa também é dos cientistas, argumenta Lee McIntyre, um filósofo que só o é porque primeiro quis ser astrónomo.
Norte-americano, praticante de artes marciais e um apaixonado por cães, Lee McIntyre vai estar no Auditório do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro na quinta-feira para a conferência “O que é Ciência e o que não é?” da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E vai com a missão que lhe tem determinado a carreira na investigação: explicar aos cientistas o que podem aprender com a pseudociência… para a combater de vez.
Como é que decidiu que queria ser filósofo?
Quando estava na faculdade, comecei por querer ser astrónomo. Mas, como se viu, na verdade estava mais interessado em estudar como a ciência funciona. Quando era miúdo fazia perguntas como:”O que é o Sol?” e “Como é que o espaço pode ser infinito?”. Essas são questões astronómicas, mas realmente, no nível mais profundo, também são questões filosóficas. Nunca quis verdadeiramente “ser um filósofo”. Só queria fazer perguntas que me interessasse e, aparentemente, as únicas pessoas que me deixavam fazer isso eram filósofos.
Foi fácil explicar isso à sua família?
Eles ficaram muito orgulhosos. Eu cresci numa família pobre num bairro perto do aeroporto em Portland, Oregon. O meu pai era eletricista e a minha mãe era costureira. Nenhum dos meus pais foi para a faculdade, mas eles sempre quiseram o melhor para os filhos, por isso tínhamos muitos livros em casa. E eles faziam um grande esforço para garantir que tínhamos boas oportunidades. A minha vida mudou quando tinha 14 anos, quando a minha mãe arranjou forma de eu ir para uma escola privada do outro lado da cidade, com uma bolsa de estudos completa.
E o seu pai?
O meu pai trabalhava muitíssimo, mas ficou inválido nos últimos 30 anos da sua vida. Penso no ditado: “Tornei-me pedreiro para que meu filho se tornasse arquiteto e para que o filho dele se possa tornar poeta”. A minha mãe e o meu pai deram-me tudo o que tinham e ficaram muito felizes por me ver a trabalhar numa coisa que amava.
Guarda desses tempos algum conselho que o tenha guiado na vida profissional?
Ainda me lembro do dia em que decidi me tornar um filósofo da ciência. Estava no segundo ano e estava a ler o ensaio de Karl Popper: “Conjectures and Refutations” na Biblioteca Olin da Universidade de Wesleyan. Popper disse, mais ou menos, que a coisa mais importante sobre a ciência é que ela cria hipóteses que podem provar-se erradas por evidências. Isso ficou sempre comigo.
Ainda pensa assim, numa altura em que há mais ceticismo em relação à ciência, mesmo havendo mais conhecimento quanto a ela?
Bem, o ceticismo não é uma coisa má. Mas o que estamos a ver agora nem sequer é um verdadeiro ceticismo. É um mau raciocínio baseado na realização de desejos. O ceticismo é suspender as nossas crença até que se tenham provas suficientes. Hoje em dia, parece que muitas pessoas já sabem o que querem que seja verdade. E limitam-se a acreditam nisso. A questão é se estão dispostas a permitir que as evidências lhes façam mudar de ideias. Se as crenças de alguém se baseiam na ideologia, e não na evidência, elas não exigem factos. Não são necessários factos para confirmar aquilo em que elas já acreditam. Nenhum facto as poderia convencer a desistir. O conhecimento está à nossa volta, mas temos que estar dispostos a permitir que ele conduza as nossas crenças.

Lee McIntyre trabalha no Centro para a Filosofia e História da Ciência da Universidade de Boston. Créditos: Lee McIntyre.
E este não é um fenómeno recente.
Não. A negação da ciência existe há tanto tempo quanto a ciência. Olhe para trás para Giordano Bruno. Ou Galileu. A negação da ciência moderna começou verdadeiramente nos anos 50 nos Estados Unidos, quando as empresas de tabaco decidiram “combater a ciência”, que dizia que os cigarros causavam cancro do pulmão. Essas companhias contrataram uma empresa de relações públicas, compraram anúncios de página inteira em jornais americanos e abriram o próprio instituto de investigação. O objetivo delas era levantar dúvidas onde não havia, para que pudessem continuar a vender cigarros. Essa história está bem contada no maravilhoso livro de Naomi Oreskes e Erik Conway, “Merchants of Doubt”. Depois disso, todos os negadores da ciência tinham um plano para o sucesso. Seguiram a “estratégia do tabaco” de uma ponta à outra, através da negação da evolução, das chuva ácida, movimentos anti-vacinas e da negação das mudanças climáticas. Às vezes, isso acontece por motivos financeiros. Às vezes, é por causa da política. Mas tudo está relacionado à desinformação e às pessoas que beneficiam dela.
Então porque é que há quem não ganhe dinheiro nem posições políticas com isso, mas continue a alinhar nessas negações?
Por exemplo, se pensarmos nas alterações climáticas, essa tornou-se uma questão tribal. As pessoas negam aquilo em que não querem acreditar. Em vez de dizerem: “Não queremos gastar o dinheiro” ou “Não me importo com as outras pessoas”, simplesmente dizem: “Não é verdade”. Mais uma vez, beneficiam da dúvida.
Falou-me das alterações climáticas. Mas a ideia repete-se com outros movimentos negacionistas?
Sim, porque a negação da ciência é a mesma para onde quer que olhemos. Há vários anos que os investigadores descobriram que todos os negadores da ciência usam cinco formas principais de argumentação. Uma é a crença em teorias da conspiração. Outra é supressão de provas, quando a pessoa escolhe dados que confirmem a sua posição — não o contrário. A terceira é a dependência e a crença em falsos especialistas. Depois vem o raciocínio ilógico e, em quinto lugar, a ideia de que a ciência deve ser perfeita. Não é, nem consegue ser. Esta é a receita moderna para a negação da ciência, dos movimentos terraplanistas às questões dos organismos geneticamente modificados e por aí adiante.
E os cientistas têm algum tipo de culpa nisso?
Acho que os cientistas estão habituados a que se confie neles e não estão acostumados a ter que defender os seus resultados. Agora, de repente, as pessoas parecem ter perdido a confiança em especialistas de todos os tipos. Tom Nichols escreveu um livro chamado “A Morte da Especialidade” em que discute isso. Portanto, o problema é que, quando são forçados a se defenderem, os cientistas geralmente não sabem o que dizer. Se apresentarem os dados e alguém não acreditar neles, simplesmente afastam-se. Mas essa é a pior coisa a fazer. Acho que os cientistas precisam de aceitar a ideia de que haverá sempre algum grau de incerteza por trás de qualquer resultado científico. E têm de parar de se desculpar por isso. Não podemos provar nada sobre o mundo empírico. Não é assim que funciona o raciocínio indutivo. Mas podemos dizer muito sobre garantias e justificações com base nas evidências. Os cientistas devem falar mais sobre os rigores do seu trabalho e apresentá-los no contexto de probabilidade. A Reuters publicou um artigo este verão que dizia que as provas das mudanças antropogénicas estão agora ao nível dos cinco sigma: são 999.999 probabilidades num milhão. Isto não é uma prova, mas quão próximo se tem de chegar para que uma crença seja garantida?
Seria melhor se o público não tivesse consciência dos desentendimentos dentro da própria comunidade científica?
Os cientistas vão sempre discordar uns com os outros até certo ponto. É assim que progridem. Precisam de opinar sobre a possibilidade de novas evidências. Mas o problema é quando as pessoas exploram isso e dizem: “Bem, vamos esperar até que todos concordem” ou “Vamos esperar pela prova”. É que isso simplesmente não vai acontecer. É perfeitamente racional avaliar uma crença com base no consenso de provas empíricas. O problema com os negadores da ciência é que eles parecem sentir que, na ausência de certeza, qualquer crença é tão boa quanto qualquer outra. Mas isso é irracional. Embora seja sempre possível que o consenso da opinião científica seja revertido — como aconteceu na transição de Newton para Einstein —, isso é raro. E certamente não sugere que uma opinião periférica tenha mais probabilidade de ser verdadeira! O astrónomo Carl Sagan é que a sabia toda, quando disse que “as afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias”. Cabe aos cientistas dissidentes apresentarem as suas provas. Se não as têm, precisam de aceitar a consequência de que as pessoas, sendo assim, vão desconfiar do seu trabalho.
A ignorância não é uma bênção, então. Nem mesmo neste caso, em que os cientistas estão mais expostos ao escrutínio do público.
Não consigo pensar em muitos casos em que a ignorância seja uma bênção. Posso pensar em casos em que o conhecimento às vezes é perigoso — como os segredos da bomba atômica —, mas é por isso que acho que os cientistas precisam de reconsiderar os seus valores. A ciência não se resume apenas à busca de factos. É sobre ter os valores certos — refletidos no que chamo de “atitude científica” — em relação ao trabalho deles. Algumas pessoas acham que qualquer tolerância a determinados valores minará a objetividade da ciência. Eu discordo. Os valores não podem ser eliminados da ciência, por isso é importante que tenhamos os certos.
O que é que os cientistas podem aprender com a pseudociência em termos de comunicação?
Podemos aprender muito sobre como eles fazem tudo isto, não para copiar essas técnicas e usá-las, mas para vacinar as pessoas contra o seu uso indevido. No verão, um estudo maravilhoso foi publicado na revista Nature, de Cornelia Betsch e Phillip Schmid, que mostrou que é possível inocular as pessoas contra as técnicas de mau raciocínio usadas pela negação da ciência. É por isso que temos que estudá-la — para que possamos ajudar as pessoas protegerem-se dela.
Ajudaria se os cientistas começassem a ouvir mais o público, em vez de ser tanto ao contrário?
Os cientistas precisam ouvir as evidências. E é claro que eles precisam ouvir os seus colegas quando lhes dizem que estão errados. Mas não tenho a certeza se há muito valor em tentar encontrar consenso com pessoas que não conhecem muito sobre ciência. Como o comediante Jon Oliver disse uma vez: “Não precisamos da opinião das pessoas sobre um facto”.
Então que tipo de relação sugere que haja entre os cientistas e o público?
Se as pessoas entenderem melhor como a ciência funciona — e o que há de tão especial nela —, acho que estaríamos numa posição muito melhor para defender a ciência da negação, fraude e pseudociência. É isso que discuto no meu novo livro, “A Atitude Científica”. Exploro a ideia de que o que é mais distintivo na ciência não é sua “lógica” ou “método”, mas os valores por trás dela. O mais importante desses valores é o que chamo de “atitude científica” em relação à evidência.
Mas o que é a atitude científica?
Penso que a atitude científica consiste em duas teses. Numa, os cientistas preocupam-se com as evidências; e noutra, os cientistas estão dispostos a mudar de ideias com base em novas evidências. Essa é essencialmente a resposta para o que há de mais especial em ciência. Sem isso, não se pode fazer ciência. Penso, no entanto, que a atitude científica não deve ser julgada apenas pela opinião dos próprios cientistas. Tenho a certeza que qualquer cientista gostaria de pensar que ele ou ela tem a atitude certa. Mas alguns não têm. No entanto, este é um desafio que pode ser enfrentado pela ciência. A atitude científica é medida não pela auto-reflexão de cada um dos cientistas, mas pela maneira como os seus comportamentos e práticas são julgados pelos pares na comunidade científica. A atitude científica é um espírito de grupo, instanciado em coisas como a partilha de dados, revisão pelos pares e replicação. A ciência não é perfeita, nem os cientistas o são. Mas, através do escrutínio crítico do trabalho uns dos outros, eles encontraram uma maneira de empregar uma “atitude” que permite sempre que os dados tenham a última palavra.
É assim em qualquer área científica? Seja nas ciências sociais como nas naturais?
Acho que é idêntico. Costumava pensar que o que havia de errado com as ciências sociais é que elas não tinham a metodologia correta. Agora acho que poucos deles adotam a atitude científica. Claro que alguns fazem-no. Mas ainda não tivemos uma “revolução científica” nas ciências sociais como tivemos noutros campos nas ciências naturais. Basta olhar para a história da medicina. Antes de meados do século XIX, a medicina era baseada na sabedoria popular, tentativa e erro e adivinhação. Depois tornou-se uma ciência. O que mudou? Foi o crescimento da ideia de que os nossos conhecimentos e práticas médicas precisavam de ser guiados por experiências e dados. Começou a abraçar a atitude científica. Penso que o mesmo deve agora acontecer nas ciências sociais.
Como é que as suas ideias têm sido recebidas pela comunidade científica?
Eu sou um filósofo analítico, por isso a maior parte do meu espírito livre está na imaginação para as minhas ideias. Sou muito orientada pelos dados e adoro ciência! Até agora, a receção do meu trabalho tem sido bastante boa na comunidade científica. Tenho um grande respeito pelos cientistas, embora parte da minha mensagem seja que eles precisam de fazer um trabalho melhor de comunicar o que fazem, para que possam defender-se melhor contra as críticas. É em parte por isso que escrevi “A Atitude Científica”. Queria fornecer aos cientistas e àqueles que se preocupam com a ciência uma maneira melhor de falar sobre o que eles fazem.
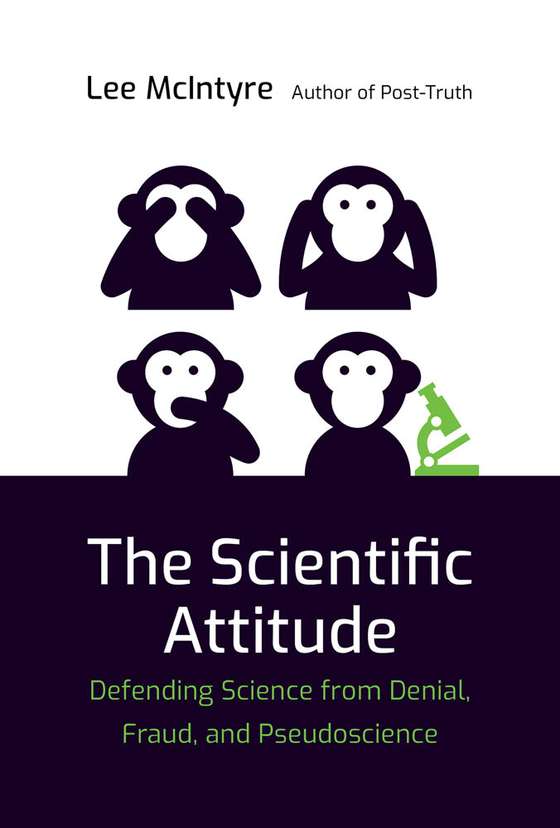
O mais recente livro de Lee McIntyre, “The Scientific Attitude”, procura aconselhar aos cientistas sobre como defender o trabalho dos negacionistas e da pseudociência. Créditos: Divulgação.
Trabalhar com ciência, mais associada ao mundo analítico, nunca o obrigou a esfriar esse espírito livre?
Pessoalmente, sou mais uma criatura disciplinada do que um espírito livre, mas espero que minha nova forma de pensar sobre a ciência possa ajudar a tornar o mundo num lugar melhor. Sempre gostei de trabalhar com ideias, por isso nunca me senti como algo além de um pensador livre. Se ser livre significa fingir que algo é verdade quando não é, não vejo muita vantagem nisso. Mas tenho um respeito muito saudável pelo mistério e contemplação. Há tanta coisa no mundo que não sabemos! Perguntas derradeiras sobre liberdade e moralidade. O que acontece depois de morrermos? Qual é a melhor maneira de viver? Essas são perguntas que não estão disponíveis para a investigação científica. Isso lembra-me da minha mãe, que sempre me ensinou o poder da imaginação. Quando lhe perguntei em criança: “O que é o Sol?”, ela respondeu: “É uma estrela, só que está muito perto”. E eu perguntei-lhe: “Então isso significa que todas as outras estrelas também têm planetas ao seu redor?”. Ela sorriu e disse: “Ninguém sabe. Eles ainda não encontraram”. Isto foi no final dos anos 60. Mas depois ela disse algo maravilhoso que foi: “Mas aposto que têm. Todas elas. Por que seríamos tão especiais?” Que melhor maneira de capturar a imaginação de uma criança do que nos fazer pensar sobre algo desta maneira. E sabe que mais? A minha mãe tinha razão. Completou 95 anos e até agora descobriram quatro mil exoplanetas. Nada mal, mãe. Nada mal.
Essa é o legado que a sua mãe lhe deixa. Qual será o legado que o Lee deixará?
Espero que as pessoas sintam que eu contribuí para a defesa da ciência, para que ela possa ser usada para tornar o mundo num lugar melhor. O meu legado mais importante, no entanto, não é profissional, mas pessoal. Agora sou pai e lembro-me de conversar com os meus filhos no parque numa noite escura enquanto olhávamos para as estrelas. Também passeamos e conversamos sobre esquilos rápidos e lentos — para aprender sobre evolução—; e sobre o que está além do infinito, se há uma diferença entre destino e fado. Houve um verão, enquanto a minha mulher tinha que estar no trabalho — ela é médica — ensinei lógica aos nossos dois filhos. É melhor fazer filosofia cara a cara, a conversar. Sempre incentivei os meus filhos a fazer perguntas e tentei responder-lhes como a minha mãe faria. Tenho orgulho de que os meus dois filhos se tenham formado em Filosofia na faculdade e que um deles — o rapaz — agora esteja a tirar o doutoramento. Em filosofia, tal como eu fiz. A minha filha também adora filosofia, mas acabou por fazer a Faculdade de Direito, usando as suas habilidades analíticas para lutar por direitos humanos e justiça. Não poderia estar mais orgulhoso dos meus filhos.













