Título: Hortas de Lisboa. Da Idade Média ao século XXI
Coordenação editorial: Daniela Araújo e Mário Nascimento
Editor: Museu de Lisboa, EGEAC
Design: atelier-do-ver
Páginas: 208, edição bilingue
Preço: 15 €
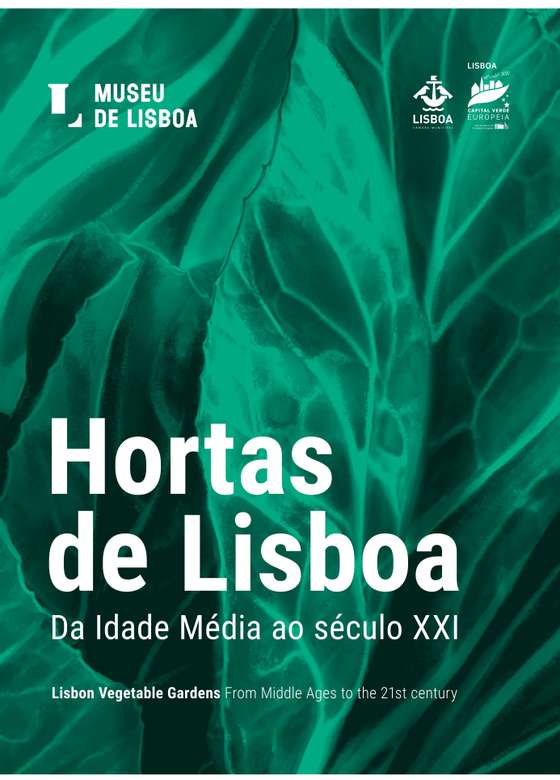
Bibliotecas e arquivos municipais foram deixados a definhar, sem investimento em conservação, instalações apropriadas, meios humanos e recursos compatíveis com a memória da principal cidade do país — espera-se agora que a nova vereação enfrente essa verdadeira catástrofe em surdina, com cabeça levantada, visão de futuro e vontade clara —, mas para o festival Lisboa Capital Verde Europeia 2020, com o ilusionismo circense típico da propaganda de efeito instantâneo, não faltaram mãos largas e bolsos cheios para fazer crer, para exclusivo gáudio dos convertidos do costume, que estamos na “vanguarda da Europa” em consciência e prevenção climática.
Sem receio do ridículo, um ministro foi até inaugurar um mero bebedouro público naquela que é — afinal — a avenida mais poluída e poluente do país… Outro convive há anos, sem qualquer pejo, com a decrepitude do jardim do palácio régio em que o cargo que ocupa o instalou, onde projecto de “reabilitação” desfigurante tem sido fortemente contestado por moradores de bairro organizados para o efeito.
Toda essa redonda falácia foi orquestrada para dar o mais ressonante destaque à mobilidade por ciclovias que desfiguram a urbe, têm uso muito escasso ou uso sobretudo ocioso e “desportivo”, não atendem nem um pouco à estrutura etária da população lisboeta e, mais ainda, evitam que os transportes públicos urbanos sejam a grande e premente aposta política e orçamental do presente e do próximo futuro.
Também se pode dizer que muita da programação expositiva e editorial de Lisboa Capital Verde Europeia 2020 foi um feixe condensado de realizações que — sem o mínimo alarde — haveriam de ser prática recorrente num município gerido com uma visão de médio e longo prazo. Ao contrário, com avidez por fundos comunitários disponíveis recolectou-se às pressas tudo e mais alguma coisa que pudesse satisfazer um módico de ideário “ecologista”, estofando uma programação que teve bons pontos de interesse pela simples razão de estes temas o terem por si mesmos, e entre nós a consciência ambiental ser ainda coisa recente e muito precária. O livro de Susana Neves sobre o Rafael Bordallo Pinheiro “verde”, que aqui tratámos, simboliza bem um trabalho de mérito que teve de esperar anos para poder ser feito. A exposição que hoje nos ocupa também. Algumas falhas e o seu motivo são, todavia, notórias. Não é qualquer um que faz arborizar Monsanto, o tal “pulmão de Lisboa”, e no entanto uma apropriada e justa homenagem ao legado pioneiro de Duarte Pacheco (1900-43) criaria fortes engulhos políticos à oligarquia instalada no Largo do Município, por ele ter sido, ainda que assaz visionário e esclarecido, destacado ministro e autarca de antigo e nefasto regime. Ironicamente, o máximo elogio do hortelão alfacinha foi feito num cortejo histórico em 1947, de que sobreviveu o pendão do patrono São Paulino, objecto de estudo de um dos primeiros artigos deste livro (Aida Pereira Nunes, pp. 38-43).
Hortas de Lisboa. Da Idade Média ao século XXI é o catálogo-memória da exposição homónima patente no Palácio Pimenta até 12 de Dezembro e que claramente merece ser visitada. Cabe perguntar por que não foi feita antes, tanto mais que em 2011 surgiram os dois primeiros Parques Hortícolas Municipais e que já em 2008 havia sido criado, na Câmara Municipal, o Grupo de Trabalho para a Promoção da Agricultura Urbana na Cidade de Lisboa — correspondendo, aliás, a impulso dado por moda já instituída em algumas cidades da Europa do Norte e tema de bibliografia específica. A directora do Museu, Joana Sousa Monteiro, diz que “beneficiámos em muito da feliz coincidência temporal entre o calendário previsto para a abertura da exposição e o ano de Lisboa Capital Verde Europeia 2020” (p. 13), talvez porque tão providencial “coincidência temporal” lhe concedeu meios para fazer o que já teria feito se pudesse, na sequência imediata e congruente de exposições sobre o território citadino como “A Lisboa que teria sido” (2017), que deu a conhecer projectos urbanísticos dos séculos XIX-XX — incluindo jardins e parques — que não foram adiante; esta cidade que agora se pretende pulverizada por hortas «resilientes e sustentáveis” — o jargão não podia tardar!; p. 17 — em espaços públicos ou privados, em contextos individuais mas sobretudo comunitários, é afinal tão quase utópica como aquela. O delírio é tão grande, que se fala em “maior segurança e soberania alimentar” e “aumento significativo da biodiversidade na cidade” com apenas 21 parques hortícolas somando 800 talhões em 9,5 hectares (grosso modo, 2,7 terreiros do paço), para uma população de c. 545 mil habitantes… (Domingues e outros, p. 117).
Muito mais tinham as cercas das casas conventuais (v. mapa p. 45), sabiamente implantadas junto a linhas de água e cujos terrenos agrícolas lhes garantiam subsistência alimentar, e que, extintas em 1834, foram sendo absorvidas por quartéis e escolas (que mantiveram cultivos), hospitais, indústrias e jardins públicos, como o Botânico, o da Estrela e a Tapada das Necessidades, ou “planos urbanísticos de larga escala” (p. 47). Nas quintas de recreio na periferia, onde também havia hortas, a vinha, olival e cereais eram preponderantes, mas no centro da cidade havia “hortas de proximidade” (p. 59) em terrenos baldios que a expansão imobiliária e urbanística viria a ocupar de 1890 em diante. A reputada Horta Navia, no leito da Ribeira de Alcântara, sucumbiu à construção da linha férrea, iniciada em 1884. Se o levantamento cartográfico de Silva Pinto registava, em 1911, “hortas de arrabalde” como a Horta do Gordo, a Horta da Maruja, a Horta do Rabicha e a Horta do Judeu, tais nomes seriam esquecidos “poucas décadas depois”” (p. 69), muito antes que o politicamente correcto os quisesse rasurar…
Curiosamente, este recuo segue-se à espantosa expansão, por meados do século XIX, da literatura para horticultores, pomareiros e jardineiros em almanaques ilustrados, periódicos consistentes e tratados, e à criação de viveiros municipais servindo tanto de labscape ‘paisagem laboratorial’ de aclimatização de espécies estrangeiras — damasqueiros franceses, por exemplo — como de multiplicação em massa de autóctones para a arborização da cidade (Ana Rodrigues, p. 80). Em 1859, o Jardim da Estrela incluía o principal viveiro municipal para plantas ornamentais, e o de São Pedro de Alcântara fornecia mudas de “muitas outras variedades”. Quase quatro décadas depois, sob influência francesa a Real Casa Pia de Lisboa criava o primeiro curso para jardineiros horticultores do país (1895), beneficiando dos vastos campos da velha cerca conventual em Belém. Poucos anos depois, Francisco Simões Margiochi (1848-1904), vereador municipal e provedor da Casa Pia, fundou a Real Sociedade Nacional de Horticultura de Portugal, enquanto Frederico Daupiàs (1839-1928), comerciante de sementes na Rua Nova do Almada e florista celebrado pelo lápis de Bordallo Pinheiro, publicava o seu Guia de Horticultura Prática. O duplo gosto das elites por fotografia e jardinagem deixava imagens como as de Alberto Carlos Lima (p. 94) e Eduardo Alexandre Cunha (p. 121), patentes neste livro, mas creio que pesquisa mais exaustiva encontraria certamente muitas outras.
“As hortas resistiam no fundo dos jardins de palácios entretanto engolidos pelo consolidar da malha urbana (Palácio Guiões, na Rua de São Filipe Néri, por exemplo)”, escreve Mário Nascimento à p. 100, num artigo dedicado à horta do próprio Palácio Pimenta, sede do Museu da Cidade. Também as “casas para as classes pobres” — isto é, os bairros ditos sociais de iniciativa municipal — tiveram na década de 1940 espaços ajardinados diante da fachada, que os seus habitantes transformariam em pequenas hortas domésticas. Sucedeu assim no Bairro da Quinta do Jacinto, em Alcântara.
Étienne De Gröer, do Institut de Urbanisme de Paris, contratado por Duarte Pacheco para conceber um plano director de urbanização de Lisboa para os anos 1938-48, recomendaria que as classes operárias pudessem dispor, em terrenos próximos das suas habitações com quintal, de pequenas parcelas alugadas como “hortas suplementares” caso quisessem “cultivar um terreno maior” (p. 121). Era quase um aviso para o que viria depois. A avassaladora migração interna trouxe para os arrabaldes de Lisboa milhares de portugueses. Arnaldo Madureira fotografou em 1960 hortas clandestinas, e Artur João Goulart faria o mesmo logo no ano seguinte (pp. 108-9) perto de bairros de lata e pobreza extrema, onde famílias de migrantes minhotos cultivavam leiras de subsistência em terrenos baldios.
Quando se olha para os actuais horticultores, retratados nas páginas finais — exibidos como protagonistas duma nova era, a da Economia Verde, ou da “Estrutura Verde Urbana” (p. 115) —, percebe-se claramente que são novos pobres, migrados das mesmas regiões ou das mais variadas origens, que estão a aproveitar as facilidades concedidas pela autarquia para reacender as suas ligações viscerais à fertilidade da terra e defenderem a sua economia familiar. No fundo, irradica-se a fealdade de hortas clandestinas e desordenadas, disciplina-se o que resta nos interstícios de prédios a eito, visando aquilo que o citado Grupo de Trabalho classifica — sem pestanejar — como “um valor estético inestimável das panorâmicas de Lisboa” (p. 117). Em contrapartida, a perigosa impermeabilização dos solos urbanos — tão denunciada e combatida por Gonçalo Ribeiro Telles —, que uma forte expansão de hortas e jardins em logradouros ajudaria a contrariar, é apenas referida num curto texto de Luís Ribeiro, do Instituto Superior de Agronomia (pp. 134-35).
Temo que o sr. João Santos, nascido em Almeida, o sr. Domingos Moisés, da cabo-verdiana Ilha do Fogo, e a brasileira de Aracaju Maria Cleide Correia, entre outros, todos cinquentões ou mais, não se reconheçam num programa de “alternativa de ocupação de tempos livres e uma oportunidade para se adquirirem novas competências” (uma vez mais o jargão dominante…), ou sintam na pele que estão a “desenvolver” (!) uma “consciência ambiental pela aprendizagem e aplicação de boas práticas agrícolas” (p. 117). Também não acredito que se apliquem mais com a enxada porque Daniela Araújo, do Museu da Cidade, entende que “o campo ideológico da soberania alimentar identifica os estados e o capital como cúmplices nas desigualdades e injustiças decorrentes da neoliberalização do sistema alimentar global” (p. 145), por causa das performances de Ângela Ferreira, que agita bandeira vermelha em horta clandestina para os lados da Buraca, a que David Santos dá a sua bênção de director-geral do património cultural invocando até “uma reforma agrária da espécie humana” (sic, p. 110), ou porque se inspiraram na jardinagem de guerrilha da Nova Iorque dos anos 1970 (p. 147). Fazem pela vida como podem e provavelmente sempre fizeram — de mangas arregaçadas e sem ideologia —, e é por isso que a horta em talhões é “a modalidade predominante em Portugal, e a comunitária está mais disseminada em cidades do norte e centro da Europa e da América do Norte” (Isabel Rodrigo, p. 136), onde a criação, funcionamento e gestão das hortas urbanas alcançou verdadeira densidade comunitária e cívica e tudo se debate e decide a outro nível — e, particularmente, com outros modos — entre autarquias e grupos de cidadãos.
Essa virtuosa convergência não se alcança dum dia para o outro e sobretudo de cima para baixo, muito menos a perseverança dos que confundiram horticultura com um ócio novo e giro (e rapidamente a descartaram) ou a certeza de que pela permacultura urbana os hortelões de hoje podem ajudar a regenerar solos (sem que recebam garantias seguras para um acesso futuro). Talvez por isso, o ensinar a fazer seja o mais valioso do quanto este livro nos traz, permitindo começos e ensaios em pequena escala, doméstica até, como demonstram David Avelar e Floriam Ulm, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (pp. 164-75), que também ajudam a criar “um hotel para os insectos da cidade”, protegendo a biodiversidade e o equilíbrio ambiental. E há outro aspecto interessante: as hortas das comunidades migrantes estão a introduzir variedades que nos eram pouco conhecidas, como pepino indiano, feijão pedra, tomate zapotec, abóbora balsâmica, pimento jindungo, pimento coroa de bispo, etc. — e isso abre o apetite para degustações numa mesa disposta à curiosidade pelo mundo globalizado em que cada vez mais vivemos.














