[Artigo publicado originalmente a 8 de outubro de 2017 e republicado na altura da morte de Agustina Bessa-Luís]
Quem gosta de falar nos “velho do Restelo” não compreendeu que este não era um homem anacrónico mas um insubmisso, como quem gosta de dizer que Agustina era conservadora não sabe o que é ser livre. No meio de tantas rentrées tantos anúncios de “novidades”, “consagrados”, “premiados”, de tantas citações do New York Times na contracapa, eis que nos chega, nada mais, nada menos que Agustina Bessa-Luís, na extraordinária Sibila, e no infantil Dentes de Rato livros que marcam o início da reedição das suas obras pela Relógio d’Água e a entrada de oxigénio no meio literário português.
Depois da polémica retirada dos direitos de autor à editora Guimarães do grupo Babel e da decisão da família de Agustina de entregar o futuro das obras editadas e inéditas da autora à editora de Francisco Vale eis que os livros começam agora a regressar às livrarias em edições cuidadas e com prefácios de várias personalidades da literatura, da academia e da política. O primeiro foi A Sibila prefaciado por Gonçalo M. Tavares, depois Vale Abraão prefaciado por António Lobo Antunes. Até ao final do ano sairão mais 8 obras: Fanny Owen, Ronda da Noite, As Fúrias, Os Meninos de Ouro, O Mosteiro, O Manto, As Pessoas Infelizes, Deuses de Barro. Entre os prefaciadores estarão Hélia Correia, António Mega Ferreira, Pedro Mexia e o poeta João Miguel Fernandes Jorge.

Agustina Bessa -Luís, aos 3 anos, data da sua deambulação à noite num vestido de voile. Foto:Cortesia de Mónica Baldaque
Depois de José Cardoso Pires, Francisco Vale, avança para a reedição uma escritora que dizem “ser impossível de ler”, “que ficou parada no tempo”, “que só fala de famílias ricas do norte”, que ganhou uma injusta fama “de conservadora”, de “anacrónica”. Fama ganha menos por aquilo que escreveu do que pelas posições políticas que tomou, tão avessas ao espírito do tempo, mais pela sua insolência face a tudo e todos que tentassem diminui-la ou exclui-la, do que pelas dúvidas que a sua vasta obra levantasse.
Dizer que os romances de Agustina são difíceis é apenas uma magra justificação para escapar ao esforço que qualquer leitura honesta de uma obra exige. Agustina não é entretenimento, cinema empurrado com pipocas e coca-cola. Portanto, não é ela que tem que se adaptar a nós. Somos nós que temos que nos adaptar a ela. Porquê? Porque lhe devemos isso e porque devemos a nós próprios estar junto dos melhores.
Gonçalo M. Tavares assina o prefácio de A Sibila, obra matriz da autora, e mostra como através do linguagem, do entrelaçamento das frases, da força arcaica da palavra se pode contar de uma forma moderna uma história de mulheres que lutam pelo poder. Certamente Sibila é uma das primeiras e mais ferozes obras feministas da literatura portuguesa, portanto aquela que escapará sempre a qualquer aprisionamento ideológico e ao politicamente correto.
Como afirmou Tavares, ao Observador “a inteligência não costuma desatualizar-se; e o que vemos nos livros de Agustina é uma inteligência que pega em imagens literariamente fortes para convencer de uma forma desprendida. É uma inteligência convicta e convincente, mas não fundamentalista. As suas personagens estão sempre a concluir — o que é muito divertido. O humor e a inteligência unidos têm tudo para resistir ao tempo”.
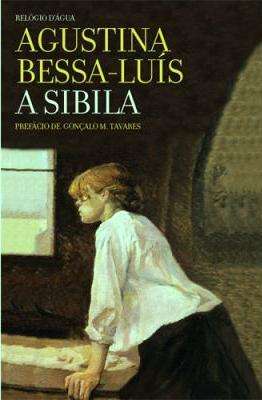
“A Sibila”, 1954, na nova edição na Relógio D’Água
Por isso, tendo nascido em 1922, tendo publicado o primeiro livro em 1948, Agustina Bessa-Luís é, foi, uma mulher e uma escritora onde poderemos sempre encontrar “o nosso tempo”, que será sempre nossa contemporânea, nossa mestre, nossa guia, a sibila que Virgílio fez acompanhar Eneias na sua descida aos infernos, a que se fez intermediária da palavra divina, a que desvenda o futuro mas não deixa de ser enigmática. Porque, como Dostoievsky ou Musil, sempre escreveu sobre os mundos interiores da condição humana.
Ou, nas palavras de Sílvina Rodrigues Lopes, escritora e docente na FCSH, ao Observador “a escrita de Agustina distancia-se completamente das ideologias do progresso e das suas conceções monolíticas da atualidade. Nessa escrita, a relação com factos históricos retira-os à contextualização historiográfica para os integrar em perspetivas construídas ficcionalmente, contrariando a tendência para conceber homogeneidades epocais.”
Portanto, se há algo que convém sublinhar é que neste momento não se pode continuar a deixar Agustina fora dessa modernidade radical, que desestruturou a literatura portuguesa a partir dos anos 50, que inaugurou um novo território ficcional fora dos movimentos literários, como o fizeram Maria Velho da Costa, Maria Gabriela Llansol ou Nuno Bragança. Não se pode falar das escritoras que contribuíram para o repensar da condição feminina sem parar na obra de Agustina Bessa-Luís.
Pedro Mexia, que assinará o prefácio de Os Meninos D’ Ouro, diz-nos mesmo que “Agustina escolheu o romance porque este género era o que mais liberdade lhe dava para escrever segundo as regras que ela própria criava. De certa forma ela escreve contra o romance porque as obras dela são na verdade híbridos, onde a ficção se cruza com o ensaio, onde ela parece ter mais vontade de refletir, de investigar do que de contar histórias”.
A inteligência em estado puro
“Aos três anos, em Espinho, eu saí do hotel sozinha com um vestido de voile azul-escuro e um ar de grande aventura. Tenho ainda essa sensação de caminhar sem rumo, dizem que é um fio de epilepsia. Talvez seja. Talvez a liberdade seja um estado epilético” (Agustina Bessa-Luís)

Agustina, em 1978, no jardim da Golgota, Douro. Cortesia de Mónica Baldaque
Esta extraordinária memória, fábula, desejo é uma das muitas histórias que Agustina contava sempre naquele seu habitual tom no limiar entre a adivinhação do futuro, o enigma intemporal ou apenas ironia. Nesta, como em todas as outras deambulações da sua vida, da sua imaginação e, sobretudo, da sua inteligência, importa menos saber a fonte, a veracidade, o significado definitivo das suas frases, do que entrar num mundo onde as palavras são sempre as protagonistas, as desencadeadoras da ação, as vítimas e as vilãs, as heroínas e as culpadas. Um mundo onde as palavras apenas por serem ditas ou silenciadas criam e desfazem universos.
A menina deambulando na noite, sem medo, sem rumo, sem ser ameaçada por nenhum perigo que não o do prazer físico da liberdade, anuncia aquela que será uma das suas marcas e razões do absoluto fascínio que desperta em tanta gente: a sua inteligência em estado puro, aquela inteligência que se interessa por tudo, os mundos interiores e exteriores, as artes, as civilizações, os esboços, o mal e o bem, as realizações e os destroços. Aquela cujos interesses se estendem ao universal, que compreende apaixonadamente tudo, mas que por isso também sabe, intui, tudo o que fica no escuro e é gerador de angústia, de morte, mas também dos mais profundos encontros, das mais violentas e inexprimíveis atrações.
Houve quem a comparasse à Górgona, figura mitológica que petrificava quem a olhasse colaram-lhe a imagem de perversa, partindo do principio que a perversidade é algo inevitavelmente negativo e não sinónimo de inteligência, auto-conhecimento, civilidade. Ela respondia: “Todos nós somos perversos à medida que vamos civilizando e pondo de parte a naturalidade, a natureza (…) chamaram-me perversa porque na verdade nunca me conseguiram catalogar”. (declarações ao Independente em 2001)
Como escreveu Eduardo Lourenço, Agustina “comprazia-se em destruir as mil máscaras que possam existir”, não se detinha por ser mulher, por ser pequena, por ser desconhecida, por ser obscurecida por um meio literário dominado pelos movimentos de esquerda, por não fazer parte dos grupos que ganharam poder depois do 25 de Abril. Não se apequenava perante as “autoridades” fossem literárias ou políticas, não se envergonhava da sua beleza menos convencional que a de outras mulheres do seu tempo, como não se importava de declarar o seu amor por coisas que a moral determinou serem “fúteis” como vestidos, penteados, tecidos, sapatos.
Sabia e afirmou-o publicamente que “ganhar o prémio Nobel não seria tão bom como comprar um vestido novo”. Certamente uma das frases mais irónicas e inteligentes que já se disseram sobre o dito prémio e sobre “a provisória eternidade das coisas que servem para satisfazer”. O riso, a ironia, o sarcasmo eram parte dessa inteligência radical, que sabe, como os antigos gregos, que o conhecimento é o verdadeiro poder.
“Eu não me levo muito a sério. É a melhor maneira de viver. Aquele que se leva a sério está sempre numa situação de inferioridade perante a vida.” (Agustina Bessa-Luís)
Quando em 1948 lança a sua primeira novela, Mundo Fechado, tinha apenas 26 anos, mas não se recolheu ao anonimato. Mandou o livro para os maiores escritores vivos da altura: Miguel Torga, Aquilino Ribeiro, Teixeira de Pascoaes. Torga foi o único que não lhe respondeu. Ofendida, Agustina mandou-lhe nova missiva onde o informava de que quando passava junto à casa do escritor tinha vontade de lhe atirar pedras aos vidros das janelas.
Não se sabe o que terá o circunspecto Torga pensado daquela insolência, mas acabariam por fazer as pazes anos mais tarde. Também Pascoaes, já muito doente, lhe escreveu a elogiar-lhe o “instinto do real” sem cair nos engodos no romantismo nem do realismo. Mas outros virão tentar colocá-la noutras vitrines como uma espécie rara que não se resiste a colocar num laboratório com uma etiqueta: Eduardo Lourenço classificou-a como ultra-romântica, Óscar Lopes como barroca, António José Saraiva colocava-a no mesmo altar que Fernando Pessoa. E no entanto ela parece não caber em nenhum desses lugares, apesar de tudo, demasiado convencionais. Tão “inacabada como a própria vida”, nas sábias palavras da filha Mónica Baldaque.
Pedro Mexia também sublinha a “insolência” de Agustina, como aquilo que lhe permitiu aguentar os primeiros anos em que a sua obra era pouco reconhecida e que ela própria, por não fazer parte de nenhum grupo literário, nem Neorealismo, nem Presencismo, nem Surrealismo, por não estar próxima do PCP, criava muitas resistências e anti-corpos. “Mas isso é uma das coisas que eu mais admiro nela; a sua capacidade se fazer o que lhe apetecia com insolência e sangue na guelra. Se lermos correspondência dela com Régio vemos como ela se impacientava com ele por sentir que ele não a considerava uma igual”, afirma o escritor.
“Se ela declarasse perante o pai, que preferia o perigo embora o temesse, que odiava a dádiva embora a cobiçasse, que aceitar é ser vencido e que a luta seria para ela uma fatalidade, um apelo constante, uma necessidade absurda e inapelável, ele rir-se-ia na sua cara…” (‘A Sibila’)
A mais radical feminista da literatura portuguesa
Agustina não gostaria de ler este epíteto. Não gostava da palavra “feminista”. E, no entanto, ela foi a escritora que mais profunda e consequentemente retratou o poder das mulheres numa sociedade dominada por homens. É frequente, quando se fala em literatura feminista em Portugal, citar-se logo as Novas Cartas Portuguesas das três Marias, Irene Lisboa, Florbela Espanca, Natália Correia, Sophia. De Agustina fala-se en passant ou ignora-se totalmente. Se por um lado, há questões ideológicas subjacentes (criou-se a ideia de que o feminismo é um assunto que só interessa à esquerda), por outro lado, ela radica num tipo de “feminismos” que olham as mulheres essencialmente como vítimas ou heroínas de uma sociedade machista. Certamente nunca são perversas, maléficas, responsáveis.
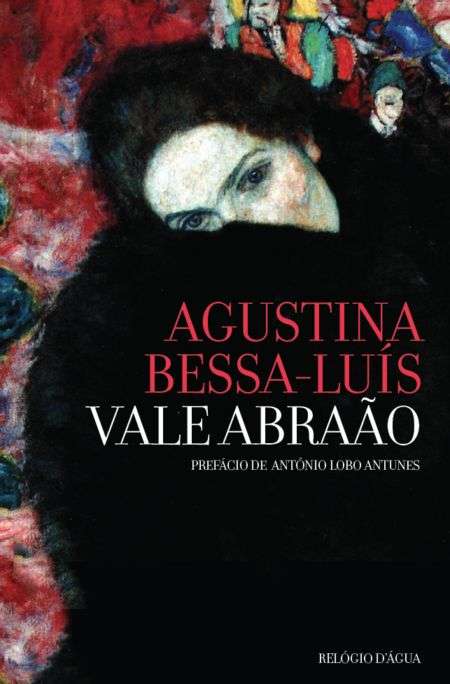
Vale Abraão, com prefácio de António Lobo Antunes acaba de chegar às livrarias
Agustina Bessa-Luís é uma das poucas que ousou não retirar à mulher a sua propensão para o mal, logo, a única que a colocou verdadeiramente em pé de igualdade com o homem. Ao contrário de Rosseau e alinhada com Baudelaire, a escritora sempre soube que o mal é intrínseco ao ser humano e à sua condição animal e que o bem é algo que se adquire socialmente, que se refina e aprofunda pelos rituais civilizacionais, pela linguagem, pela educação. Em quase todas as suas obras a escritora retrata as mulheres como fortes (mesmo quando fracas) e homens fracos (mesmo quando fortes) sem nunca cair no erro do “panfletário”, apenas ousando exigir de ambos as mesmas possibilidades humanas.
Em 2017, quando as questões do feminismo e do poder das mulheres voltaram a ser tema de debate universal, com os estilistas a fazerem desfilar nas passerelles T-shirts com a frase “future is female”, onde há figuras da vida pública a sugerirem a segregação das mulheres nos transportes públicos, seria bom fazer desfilar as “sibilas” deste mundo, as Agustinas deste mundo como os grandes exemplos do poder feminino, seria urgente que as feministas portuguesas lessem Agustina.

Agustina, o riso como manifestação mais profunda da inteligência. Fotografia, cortesia de Mónica Baldaque
De resto, a sua história de vida é muito mais radical do que a das muitas feministas encartadas que circulam nos nosso espaço público. Agustina que não escondia a vaidade, a coquetterie, o gosto por vestidos comprados em Paris, que nunca precisou de se esconder no falso naturalismo de um rosto desmaquilhado e de uma bata em vez de um vestido de voile ou de lamè para afirmar a sua força, a sua audácia, a sua inteligência. Agustina era acção e não discurso.
Nos anos 40, sendo uma menina rica da província, teve a audácia de casar com um estudante que conheceu num anúncio que colocou num jornal para se corresponder “com pessoas cultas e inteligentes”. Casou envergando um vestido preto e um colar de pérolas, como quem seguisse as mais estritas regras de Gabrielle Chanel e sobre o casamento há-de escrever logo em 1953 em A Sibila este excerto ainda hoje tão brutalmente atual, sobre a “menorização” das mulheres e de como elas colaboram ativamente nessa mesma “menorização”:
“Amadas servindo os seus senhores, cheias de um mimo doméstico e inconsequente, tornadas abjetas à custa de lhes ser negada a responsabilidade, usando o amor com instinto de ganância, parasitas do homem e não companheiras. Quina sentia por elas um desdém um tanto despeitado e mesmo tímido, pois havia nessa condição de escravas regaladas alguma coisa que a fazia sentir frustrada como mulher. Na generalidade amava o homem como chefe da tribo (…) mas ria-se de todos eles, um por um, pois lhes encontrava inferioridades que ela, pobre femeazinha sem mais obrigações do que as de chorar, parir e amar abstratamente a vida, pudera vencer, não tanto por desejo de despique como por impulso de carácter, e utilizando para isso, sabiamente, tanto as suas fraquezas como os seus dons”.
Sibila, criada nos anos 50, em plena ditadura, é uma mulher ainda hoje sem paralelo, a mulher mais radicalmente libertária da literatura do século XX, sem precisar de amanhãs que cantam, sem precisar de carrascos, porque nunca é na condição de vítima que ela se afirma, nem na condição de superior, mas na condição de igual no bem e no mal, à mercê das mesmas ambiguidades e falhas de carácter, dos mesmos desejos de conquista e de ternura.
Sibila ensina-nos muitas coisas, uma delas é que não importa a complexidade do labirinto, importa é saber que em nenhum deles se vai perder o fio de Ariadne. Porque nas mulheres há o mesmo poder de transgressão das regras, de enfrentamento dos perigos, de habitar os mistérios.
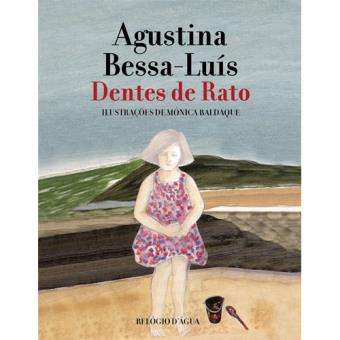
Autobiografia ficcionada da infância da escritora, ilustrado por Mónica Baldaque, faz parte do plano de leitura Ler +
Agustina Bessa-Luís, portuguesa com ascedências zamoranas, sentia-se sempre preparada para tudo e o medo foi algo que cedo arredou da sua vida: “Faço tudo o que os outros não têm coragem de fazer” declarou com a sua salutar arrogância quando assumiu funções no Teatro Nacional. Teve cargos vários públicos normalmente associados a homens, como direção do jornal Primeiro de Janeiro, do D. Maria II, foi membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social.
Não se coibiu de chamar ignorante a Santana Lopes mesmo ocupando um cargo para o qual ele a convidou, nem de dizer que Manuel Maria Carrilho “sabia muitas coisas sobre o mundo mas pouco sobre si próprio”. Também nunca se deixou de dizer publicamente que não gostava das adaptações que Manoel de Oliveira fazia dos seus livros e tornaram-se lendários os amuos e discussões que tinham um com o outro como conta Mónica Baldaque neste documentário da RTP. Há lá gesto mais exemplarmente feminista que a coragem com que se vive?
No primeiro Congresso de Escritores, realizado em 1976 sob a égide do PCP, não só compareceu com fez uma comunicação completamente oposta ao espírito daqueles anos, onde os tidos como corajosos eram os que já nada tinham a perder com isso. Este excerto da sua comunicação dir-nos-á um pouco da afronta que foram, naquele contexto, as suas palavras sobre as palavras;
“…o povo pensado como tal é uma noção a evitar, porque isto só concorre para uma estatística de rebaixamento da vida quotidiana e nada mais. Quando se pretende comover o campo das ações humanas ao nível mais simplista utiliza-se a palavra “povo”. Mas de facto, o homem como ente social não se acha contido nessa definição regionalista. Como ente social, ele inclui-se nos fatores desconhecidos que atuam como catástrofe e como História que se lhe relaciona…” (Atas do 1º Congresso de Escritores, Maio de 1976. Cortesia de Nuno Júdice)
Sibila, uma sacerdotisa contemporânea
“As suas personagens não eram bonecos vestidos de ideias que em lugar de pensarem os sentimentos eram pensadas por eles, usava nexos afectivos, não racionais, as suas obras não obedeciam a uma ordenação lógicodiscursiva, obedeciam a uma tumultuosa ordenação do caos, a inteligência não era apanágio do autor, era uma característica da escrita, no sentido em que as palavras solucionavam a tessitura de acordo com uma implacável lógica interna, não nos conduzia a parte nenhuma, mergulhava-nos em nós mesmos dando-nos a conhecer o nosso caos interior, descodificando-o e mostrando-nos a sua complexa simplicidade” (António Lobo Antunes no prefácio de Vale Abraão)
A vida cultural portuguesa adora lugares comuns. Há uns anos ninguém falava de Miguel Torga sem usar o adjetivo “telúrico”, ninguém mencionava Aquilino sem torcer o nariz aos seus “incompreensíveis regionalismos”. Hoje ninguém fala de Agustina sem mencionar os seus “aforismos” seja para justificar porque não a leem, seja para explicar porque adoram.
Felizmente, Gonçalo M. Tavares, no prefácio a esta nova edição de A Sibila, ateve-se a replicar novamente este lugar comum para ir mais longe e mostrar como a obra desta autora se ergue sobre a força transformadora e mágica da palavra, logo, será sempre enigmática. Não são apenas as frases definitivas, as sentenças aforísticas, são também as parábolas, que remetem para o caminho incerto entre a palavra e o seu significado, remetem enfim para a velha sibila intermediaria de Apolo, a que comunicava a palavra divina.
Ler Agustina exige uma entrega total, uma luta com o verbo, como diz Tavares, é preciso parar entre cada fase, levantar a cabeça da folha, escavar naquela frase até a decifrar: “Frases sábias tornam-se, então, frases-ilha. Isolam-se. O leitor fica com elas, volta atrás, constrói, no fundo, dezenas de outras frases — uma espécie de comentários fantasma. Uma frase que exige resposta, comentários, sublinhados.” Ora, o que o escritor nos mostra, é que o problema não está nos aforismos e parábolas da obra de Bessa-Luís mas sim no facto de nós enquanto leitores termos perdido a capacidade (e o gozo) de sermos decifradores, de penetrarmos no texto como Champolion penetrou na Pedra de Roseta.

De novo no seu jardim da Golgota, anos 80, provavelmente num dia de outono
Porém é nesta “luta verbal” que suporta a escrita de Agustina que reside (também) a sua intemporalidade, como afirmou Silvina Rodrigues Lopes:”Uma vez que nos romances de Agustina qualquer realidade se apresenta como suporte do desencadear-ficcionar memórias, que podem ser longínquas ou imemoriais, há neles uma espécie de pedagogia ou apelo para que a leitura se liberte do constrangimento do tempo linear, cronológico. A atualidade da sua obra depende por isso, a cada momento, da disponibilidade dos leitores para abandonar as referências que lhes apresentam o mundo como forma acabada ou em marcha para o seu acabamento”.
“Não encontram em mim uma lógica dos significados. Sou uma pessoa que não tem correspondência com este conhecimento da natureza humana que é transmitido através de códigos de informações” (Agustina ao Jornal Ilustrado, 1991)
Sibila é a obra matriz da escritora. Sibila é Joaquina ou Quina, uma mulher que vem do fundo dos tempos, com uma sabedoria que não tem uma relação causal com a experiência de vida, pois ela tem uma vida exígua a gerir a casa da Vessada e a construir a sua fortuna e glória no vasto mundo das pessoas que a rodeiam. A sabedoria nela vem de um lugar oculto, como as sibilas da mitologia, quer as da tradição grega quer a latina.
Porém, é na versão mais arcaica do mito, analisada pelo filosofo italiano Giorgio Colli, em O Nascimento da Filosofia, que encontramos uma Sibila mais próxima de Agustina: a Sibila que era sacerdotisa de Apolo, era levada ao templo de Delfos (lugar tornado símbolo máximo da sabedoria) para se pronunciar sobre o futuro, era uma adivinha. Contudo, todas as suas frases eram enigmas que o homem deveria conseguir decifrar sob a pena de morrer caso não o fizesse.
Sibila era assim veículo da palavra de Deus, mas também da sua crueldade, pois as palavras que proferia remetiam sempre para contradições, sentidos obscuros, enganos que tornavam o seu significado inapreensível. Nesta tradição da antiga Grécia a capacidade adivinhatória está relacionada com a mania (a loucura), com a desmedida, a possessão e com a aquisição do conhecimento como valor supremo. O Conhecimento equivalia-se a Deus, explica o filósofo. Mais tarde em outras tradições do mito a sacerdotisa metamorfosear-se-á em deusas como Ariadne ou Perséfone, deixará de ser mortal e passará a ter também uma existência divina. Ora Agustina criou Sibila, como personagem, mas a grande e verdadeira Sibila é ela própria enquanto escritora.

Agustina no documentário da RTP, Nasci Adulta, Morrerei Criança, de 2005
António Braz Teixeira, filósofo, ensaísta e tradutor, membro da Academia das Ciências, e um dos únicos em Portugal a ter estudado o teatro de Agustina, em conversa com o Observador, disse considerar que “Agustina se insere na tradição de um Portugal arcaico (a velha Galécia), tal como Teixeira de Pascoaes ou Raul Brandão, Manoel de Oliveira, onde há uma visão gnóstica e dualista do mundo, a presença muito forte do mal e o religioso encoberto pela violência das palavras que servem para refundar a nossa relação com o universo”.
Ora é provável que no tempo em que os jovens do século XXI, que vivem fascinados com os universos mágicos, arcaicos e míticos que vão de Harry Potter à Guerra dos Tronos, uma personagem como Sibila, sabedora do futuro, conhecendo os melífluos conciliábulos de mulheres nos seus quartos, tão enigmáticas e sábias, quanto atraídas pelo banal lhes possa afigurar bastante atraente. Há portanto que iniciá-los nos rituais mistéricos e eróticos da literatura.
“(…) as histórias e criaturas que a romancista colhe sempre em estado de autodestruição e onde só as criaturas apoiadas no obscuro e indisputável de tradições ou carácter, gémeas da presença opaca da terra, conservam o dom de resistir ao lento esfarelamento da realidade” (Eduardo Lourenço)
Eduardo Lourenço foi um dos primeiros a compreender a dimensão da obra e do talento da escritora, a forma como ela trabalha a alma e psique portuguesas, como as suas personagens são vozes dos grandes pensamentos da História e, ao mesmo tempo, da total banalidade. Mas também António José Saraiva, Óscar Lopes e outros cedo chamaram a atenção para esse deslocamento do centro romanesco, ou o “milagre” que foi ” o aparecimento de uma obra e de uma mulher como Sibila no território da literatura portuguesa.
“Agustina será reconhecida quando, com a distância, se puder medir a sua estatura como a contribuição mais original para a prosa portuguesa” (António José Saraiva)
Pedro Mexia lembra que as vendas dos livros desta escritora mostram que ela nunca foi um fenómeno de popularidade, mas sim uma escritora de culto, que mais facilmente criava leitores entre o público mais jovem que mais velho. “Foi nas crónicas que Miguel Esteves Cardoso escrevia n’O Independente, que me levou ao meu encontro com Agustina”, recorda o escritor.
Tal como as sibilas de Apolo, há na obra de Agustina um centro profundamente agónico, onde o dialogo é impossível, onde o amor está sempre na iminência de se tornar um crime, onde tudo está no limiar do absurdo, da perda de sentido, do erro, onde o sentimentalismo é sempre a manifestação de um fraco sentimento. Os seus mundos são terríveis, crepusculares, as relações fugazes e calculadas em vista de um ganho, todos são afinal presas frágeis do destino: “Mas alguém tem culpa de alguma coisa? Joga-se e perde-se; luta-se e é-se vencido.”
Em 2006, depois de um derrame cerebral, Agustina retirou-se definitivamente para um mundo só seu. Cessaram os aforismos, as palavras, a humanidade como um mistério, o riso. Desaparecida como Sibila, que viva doravante como deusa.
Além das reedições dos livros, e dos textos publicados na imprensa coligidos em três volumes pelas Fundação Calouste Gulbenkian, no próximo dia 15 de Outubro na Casa das Artes, no Porto, estreiam-se 3 documentários com o título geral de O Silêncio do Riso e cada um com um subtítulo diferente: “As Sibilas do Passo”, “Fanny e a Melancolia” e “Ema e o prato de figos”. O primeiro conta o nascimento de Agustina; os outros dois revelam as inspirações e conversas por detrás destes dois romances.














