“Sim? Daqui fala o E.”. Do outro lado do Atlântico — mais precisamente a partir de Los Angeles –, surge a confirmação de que estamos a falar com Mark Oliver Everett, fundador, mentor e incontestado líder dos Eels. Os elementos da banda americana, aliás, têm rodado bastante em seu redor. Atualmente, o mais antigo parceiro de “Mr. E”, como também é chamado (se é que se pode dizer que tem um parceiro), é o baixista Kool G. Murder, que entrou no início do século (a banda fora formada em 1995), a tempo de em 2001 gravar Souljacker e tomar uma decisão gastronómica pouca acertada na estreia dos Eels em Portugal (já lá vamos).
Depois de uma pausa de quatro anos na escrita de canções, os Eels estão de volta com o sucessor de The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett (editado em 2014). The Deconstruction chega às lojas esta sexta-feira, 6 de abril, e será apresentado este verão em Portugal, no festival NOS Alive (dia 13 de julho). É resultado de uma pausa de Mark Everett, 54 anos, o homem que de uma tragédia familiar (a morte da mãe por cancro no pulmão e o suicídio da irmã, depois de já lhe ter morrido o pai, o famoso físico Hugh Everett III) criou um dos discos mais pungentes dos anos 1990 — Electro-Schock Blues, de 1998, o segundo da banda — e que recentemente, já depois dos 50, tornou-se pai, casou-se e divorciou-se, aprofundando a relação de amor-ódio com a vida.
[“Today is the Day“, single e uma das canções mais resplandescentes do novo álbum dos Eels:]
The Deconstruction mantém a classe de sempre, talvez seja até o mais inspirado álbum dos Eels em alguns anos. Há baladas de salloon para westerns psicadélicos, tensão rock que os sintetizadores confundem, canções de um maduro que já viveu muito e pode hoje dar conselhos aos mais novos (“Premonition”, talvez a canção charneira do novo disco), canções desempoeiradas aqui e acolá que inebriam e um tom misterioso (por vezes acompanhado pela voz profunda de Everett, outras por coros esquizóides, outras ainda evidentes em interlúdios instrumentais e arranjos épico-melosos) que parece sempre estar quase a pender para o foleiro mas que nunca se o chegar a tornar. Apuro e classe, portanto, a que isto de fazer canções sobre a vida e o mundo há mais de 25 anos (é já o 12º álbum da banda e o 14º de “E”) não será, não pode ser alheio.
Lançou os dois álbuns anteriores em dois anos [2013 e 2014]. Este demorou mais. Foi por motivos pessoais ou profissionais?
Pessoais. Precisava de fazer uma pausa, ando a trabalhar demasiado arduamente há demasiado tempo.
Pergunto-lhe porque já revelou ter mais problemas em deixar de estar constantemente a criar do que em compor.
É, costumo ter o problema oposto da maior parte dos meus amigos que são artistas.
Ao longo de duas décadas, tornou-se conhecido também pelo seu ecletismo — os Eels gravaram arranjos de todo o tipo, visões mais otimistas e desencantadas do mundo… da sua experiência, as pessoas tendem a aceitar bem as mudanças que acontecem naquilo de que gostam?
Falando por mim, às vezes quando o Neil Young [um dos heróis do músico] entrava numa missão de fazer um álbum extremamente diferente dos anteriores, era difícil aderir completamente à mudança. Mas acho que vale a pena fazê-lo, sabes. Paga-se um preço quando se faz um álbum como o Daisies of the Galaxy [terceiro álbum dos Eels, de 2000], as pessoas gostam dele, pagam para o ouvir no ano seguinte e de repente estão a ouvir-me tocar o Souljacker [quarto álbum dos Eels, de 2001]. Imagino que pensem: que caraças é isto? E não me custa a crer que isso tenha acontecido muitas vezes daí para a frente. Mas o contrário também acontece, há pessoas que vêm ter comigo na rua e dizem: adorei o teu álbum, adoro que seja sempre diferente dos anteriores. Claro que há muitas que dizem: “adoro aquele álbum” e algumas só conhecem um. Mas vale a pena fazê-los diferentes. Acho simplesmente que a vida é demasiado curta para não teres ideias e coisas diferentes dentro de ti que experimentes enquanto puderes.

Mark Oliver Everett: “Precisava de fazer uma pausa, ando a trabalhar demasiado arduamente há demasiado tempo”
Acha que ainda estaria a fazer música se tivesse mantido sempre o mesmo registo? Isto tornava-se um trabalho mais entediante?
Seria frustante ter de depender em exclusivo da reação dos fãs. Olha para o James Taylor, por exemplo. Não é que haja alguma coisa de errado com ele, mas um fã do James Taylor é alguém que diz e continuará a dizer: vou a um concerto do James Taylor e vai soar a um disco do James Taylor. Ano após ano assim. Eu até percebo isso mas nunca fui esse tipo de fã de música. Quando eu cresci o que eu mais gostava era de ser surpreendido. Quando tinha 16 anos, a minha irmã levou-me a um concerto do Neil Young e eu presumi que fosse o Neil Young a solo ou ele e os Crazy Horse a tocarem material antigo. Quando dei por isso, era um concerto a tocar o álbum Rust Never Sleeps, que ainda nunca ninguém tinha ouvido porque não tinha sequer saído. E a produção era uma coisa assombrosa, não se parecia com nada do que se vira até então… ou do que se vê desde aí. Seja de quem for, não apenas do Neil Young. Lembro-me que fiquei totalmente siderado com a surpresa de tudo aquilo, com a espetacularidade daquilo. É esse o tipo de coisa que eu adoro.
Quem diz o James Taylor diz os AC/DC?
Por exemplo, sim. E eu até percebo os fãs porque eu também adoro AC/DC e seria estranho ir ver um concerto deles e eles estarem a fazer um concerto acústico ou algo assim [ri-se]. As reações seriam todas: como assim?!
O álbum é também eclético, explora muitos ritmos e tons e tem arranjos de orquestra. Há momentos de luz e de otimismo, por exemplo na “Premonition“. Nos anos 1990 acreditava que hoje, com esta idade, seria uma pessoa otimista e em paz consigo mesmo?
Hm… [faz uma pausa]. Sabes, eu sinto que há claramente muita coisa insana a acontecer no mundo neste momento e senti que as pessoas precisam de alguma positividade, mais do que nunca. Mais que não seja para nos lembrarmos de que estamos todos a tentar fazer o melhor que podemos, a tentar sermos bons uns para os outros e ultrapassarmos esta merda.
[“Premonition“, canção do novo álbum dos Eels, que a banda apresenta no NOS Alive em julho:]
É mais difícil ou mais fácil cantar canções otimistas?
Bom, estou, aliás estamos, à beira de descobrir…
“A desconstrução só começará a acontecer quando não sobrar nada”. Já chegámos a esse ponto?
Bem, nessa canção estou a falar mais de desconstrução pessoal, de como passamos tanto tempo das nossas vidas a construir defesas e barreiras à nossa volta. O que é que aconteceria se as retirássemos? O que estamos a tentar proteger, para começar? É uma reflexão sobre isso.
Encontrou a resposta à pergunta?
Há uma inocência que estamos a proteger, uma inocência que tínhamos no início.
Entram em digressão em maio para apresentar o novo álbum. As digressões são hoje muito diferentes do que eram por exemplo quando gravaram o Souljacker e vieram a Portugal [a primeira vez foi em 2001, no Paradise Garage, em Lisboa]?
Sim, mas elas mudam sempre de umas para as ouras, tal como acontece com os nossos álbuns. Tento tratá-las como trato um álbum, nunca entro em digressão para recriar ao vivo um disco. O que penso é: bom, vou começar um álbum novo, que neste caso é a digressão. Acho que é por isso que editamos muitos álbuns ao vivo, porque cada um deles tem um som e um feeling distinto.
Lembra-se desse primeiro concerto em Lisboa, em 2001?
Lembro-me, lembro-me. Acho que até o mencionei num livro que escrevi porque me lembro do concerto e adorei-o. Adorei o público, adorei Portugal — mas do que me lembro mais é mesmo de estar a jantar antes do concerto e o nosso baixista Kool G Murder pedir um passarinho frito que estava no menu. Dizia lá que não era recomendado mas ele pediu na mesma — e ficou muito doente [ri-se durante um bom bocado].
Nessa visita, ou em visitas posteriores, teve oportunidade de ouvir música portuguesa?
Por acaso tive. Na primeira viagem, a nossa editora deu-me um grande saco cheio de discos de música portuguesa. Depois, sabes, punha um ou outro a tocar e lembro-me de que gostei muito de muito do que ouvi. Mas foi há muito tempo…
As entrevistas são uma parte do trabalho de que já disse que não gosta muito [em outras entrevistas]. Já considerou deixar de as fazer de vez? Ou está mais confortável hoje quando as dá, do que estava no passado?
Na verdade está-se a tornar ainda mais difícil para mim, cada vez mais, quanto mais velho… é uma forma muito estranha de tortura mental mas tento lembrar-me tanto quanto possível que há coisas piores do que as pessoas interessarem-se pelo nosso trabalho. E conheço de certeza muitas pessoas que adorariam ter pessoas interessadas nos seus trabalhos, portanto, quando sinto que estou a dar em maluco por estar a fazer isto, tento lembrar-me disso e pensar que podia ser pior.
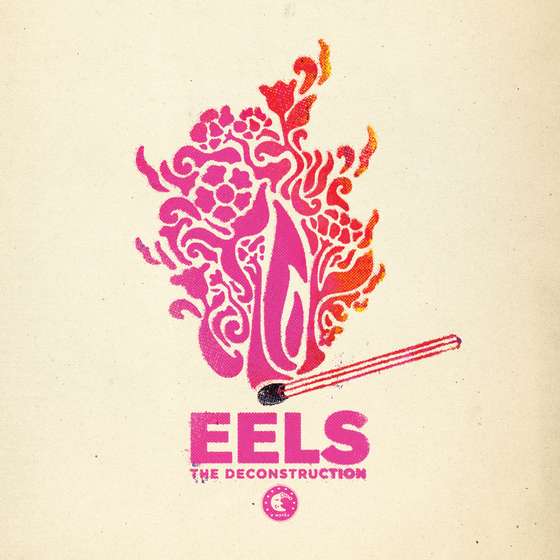
A capa do novo álbum dos Eels
Depois da pausa, um regresso aos discos. E agora? O que é que o futuro vai trazer aos Eels? Já tem planos?
Para ser sincero, a parte divertida disto, pelo para mim, é fazer música nova. É excitante sentir que há algo que não existia ontem e existe hoje e que foste tu a fazer. Essa é a parte divertida, depois lança-se um disco e tudo se torna uma espécie de trabalho de escritório, percebes? Já não é tão divertido… eu estou a tentar não pensar muito para já mas estou expectante para saber o que é que vai acontecer a seguir.
Há algum país ou cidade a que esteja particularmente entusiasmado por regressar este verão?
Definitivamente, não fiquei aborrecido por voltar a Portugal [ri-se baixinho]. Por alguma razão não vamos aí vezes suficientes. E adorámos sempre que fomos.
O tempo que eu tinha está a terminar e não o quero torturar em demasia. Portanto, termino com isto: li uma declaração sua numa entrevista antiga em que falava do seu pai. Dizia: “Vivi na mesma casa com ele durante 18 anos e era totalmente um estranho para mim. Mal falava, era como se fosse mais um pedaço de mobília”. Acha que conseguiu não se tornar essa pessoa com aqueles que lhe são próximos?
Sim… Bom, tenho sempre isso em mente, que não quero fazer as coisas da forma como ele as fazia. Mas é só isso, porque quanto mais velho me torno mais me apercebo que tenho mais em comum com ele do que alguma vez quis ter. Por outro lado, isso também tem um lado bom: começar a percebê-lo. E perdoá-lo.

















