Ainda a entrevista não tinha começado e já havia um pequeno problema por resolver: Cynan Jones (pronuncia-se “Cónan Jones”) não era fã das cadeiras da sala interior do museu municipal de Óbidos onde conversou com o Observador. As cadeiras eram confortáveis e o escritor galês de 43 anos, que veio a Portugal este mês para discutir com o romancista inglês Alan Hollinghurst e com a jornalista Isabel Lucas se “o escritor escreve sempre o mesmo livro?”, no FOLIO — Festival Literário Internacional de Óbidos, não é fã de cadeiras confortáveis. Durante a conversa, utilizaria a metáfora para explicar que também na escrita não gosta de escrever a partir de uma zona de conforto, sobre temas acerca dos quais tem certezas e com métodos narrativos que já conhece e domina. Naquele momento, traçar um paralelismo entre o modo de se sentar e de escrever não era urgente, o que era urgente era trocar a cadeira por outra mais dura. Assim aconteceu.
Vestindo calças de ganga e camisa cinzenta, com os botões superiores abertos e as mangas dobradas para evitar o calor de um início de outubro atipicamente quente, Cynan Jones tinha acordado há alguns minutos e chegado há algumas horas a Óbidos. O cenário que encontrou ao acordar não poderia ser mais diferente do que viu quando se deitou, já com a noite adiantada: “Isto está muito movimentado, as ruas estão cheias, é o cenário habitual e colorido com turistas a comprar coisas para levar no regresso. Mas na noite de ontem estava tão vazio que foi mágico, verdadeiramente mágico. Cresci numa área rural e pareço uma criança a ver uma zona de construção humana como esta, com ruas tão estreias e muralhas tão antigas”, apontou.
Cynan Jones só tinha vindo uma vez a Portugal. Há alguns anos, não se recorda exatamente quando, visitou Lisboa por algumas horas, quando a sua ocupação profissional implicava visitas não a festivais literários, mas a eventos de vinhos. “Trabalhava, na altura, na indústria vinícola, com vinhos portugueses. Parte da minha missão no Reino Unido passava por educar os britânicos e passar a mensagem de que o vinho português é extremamente bom. Nessa visita, o avião atrasou-se, chegámos mais tarde do que esperávamos a Lisboa, provámos vinhos, almoçámos, voltámos para o hotel e seguimos para o avião. Nem conta como visita, na verdade”, apontou.
Apesar da brevidade da estadia, Cynan Jones não deixou de notar que as pessoas que encontrou na capital portuguesa eram, na sua maioria, “pessoas muito terra a terra, que me pareciam pessoas normais, pouco snobes e pouco estilosas, high fashion“. Talvez tenha sido antes da explosão do turismo, arrisca, mas os locais que encontrou eram assim, simples. “Gostei disso”, referiu. Em Óbidos, no passeio que tinha acabado de dar nessa manhã, a impressão que reforçou foi relativa à língua, que foi ouvindo em conversas de rua: “Esta manhã ouvi-a e pareceu-me incrivelmente intensa, inacreditavelmente rica. Quando é traduzida para inglês, é imponente, algo pesada. É como ouvir Wagner: puff, saem palavras atrás de palavras da vossa boca, muitas mesmo”.

Cynan Jones em Óbidos. (@ João Porfírio/Observador)
Ainda antes de falar sobre o seu sexto e último livro, Cove, publicado em 2016 no Reino Unido mas traduzido para português apenas no ano passado, pela Elsinore (com o título A Baía), Cynan Jones explicou porque é que não conhece em detalhe a literatura portuguesa: “No Reino Unido, há línguas que são muito traduzidas para inglês e que conhecemos através de escritores. Conhecemos bastante, por exemplo, os sul-americanos. Há tempos reparei que, por exemplo, não lemos muito os escritores holandeses, só recentemente começaram a ser traduzidos para inglês. Com os portugueses aconteceu o mesmo, havia uma grande lacuna”, referiu.
Tínhamos acesso aos ‘grandes’, o Saramago e o Pessoa, claro. Li um angolano, Ondjaki e já ouvi falar de um Peixoto [José Luis Peixoto]. Há muita energia na vossa linguagem, é intensa e quando é traduzida para inglês isso sente-se. É preciso ajustarmo-nos a ela. A riqueza que o português tem não é algo que nos seja natural, a nós que lemos e escrevemos em inglês. Mas tem muita força”, acrescentou o escritor.
“Quantas pessoas dão duas horas a um livro?”
A Baía, o último livro de Cynan Jones e o segundo a ser publicado em Portugal (depois de A Cova, publicado pela Cavalo de Ferro), foi o último trabalho de fôlego do escritor galês — escrito antes de ter sido pai, com menos de 100 páginas, conta a história de um homem que desperta num caiaque perdido no oceano, depois de ter sido atingido por um relâmpago. Ferido e com muito poucas memórias sobre quem é e o que deixou para trás, tenta sobreviver (à deriva) e dirigir-se a terra.
Há aspetos em A Baía que dialogam com parte da obra anterior de Cynan Jones, como a estrutura do livro, que volta a ser a de um romance curto povoado de pequenos apontamentos e descrições, frases que não se alongam e muita ação. Tal como em livros anteriores, não há longos parágrafos descritivos neste último romance do autor que venceu, em 2017, o prémio de conto da BBC, pelo texto The Edge of the Shoal publicado na revista New Yorker (aqui). É uma questão de estilo, embora o autor afirme que “a história é Deus” e é ela que dita a narrativa e estrutura do romance.
Adoro o ato de deixar o mundo durante duas horas com um livro e lê-lo do início ao fim. É uma imersão completa noutro mundo. O formato de romance curto é, provavelmente, aquele de que mais gosto, que mais me arrebata. É engraçado, as pessoas dizem-me que não há tempo para ler, mas há para ver um jogo de futebol ou um filme. Investem duas horas nisso. Quantas pessoas se sentam e dão duas horas do seu serão a um livro?”, pergunta, não esperando resposta.
“Há um desafio de que gosto: permitir que as pessoas infiram coisas a partir do que escrevo. Não gosto de descrever tudo o que se passa, gosto de confiar que o leitor compreende algumas coisas sem explicar tudo. O que temos é de aguçar a imaginação dos leitores”, referiu ainda.
Cynan Jones recorreu a um episódio para o exemplificar: “Trabalhei com alguns grupos de escola que escreviam ensaios e faziam exames sobre o meu livro Everything I Found on the Beach. Diziam-me que adoravam a forma como descrevia a praia, que era maravilhosa. Desafiei-os a encontrarem isso no livro e só havia uma ou duas linhas de descrição. Eles construíam a praia nas suas cabeças, era a praia deles. Gosto disso, que o texto também seja dos leitores”.
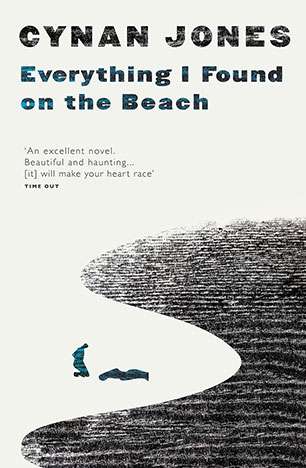
A capa de “Everything I Found on the Beach”, livro publicado por Cynan Jones em 2011 (ainda não traduzido para português)
Usar o instinto e escrever em terrenos movediços
Até aqui, havia uma reação habitual aos livros de Cynan Jones, que tem visto a sua popularidade aumentar nos últimos anos. “Uma das ideias firmadas era que o Cynan Jones escrevia sobre lugares, sobre pessoas com uma relação muito forte com o lugar em que vivem e cujas relações e identidade refletem esses espaços”, apontou o escritor. O mais seguro talvez fosse manter a linha narrativa que tem vindo a explorar desde a primeira obra, The Long Dry, de 2006. Mas para o livro que publicou dez anos depois, A Baía, o galês sentiu que era altura de mudar de estratégia.
Como tento sempre escrever algo que não sei como escrever, o desafio foi tirar o espaço, sentido de identidade e certeza das personagens sobre as suas relações pessoais. Tirar tudo o que as pessoas me dizem que sei como escrever e atirar borda fora, neste caso para o mar. Como cresci perto do mar e vejo-o todos os dias, queria escrever uma história ali passada. Achei que para este desafio era o sítio perfeito. É muito importante usar o instinto quando se escreve. Para isso resultar, é preciso escrever sobre algo de que não estamos inteiramente certos”, referiu.
O risco em escrever A Baía foi assumido. A dada altura, o romance tinha 25 mil palavras mas os editores achavam-no insuficiente, curto demais. “Diziam-me que até era bom, que tinha algo, mas que ainda não era a história necessária, que precisava de a expandir um pouco mais. Curiosamente, cada vez que me sentava para o fazer ela tornava-se mais pequena e mais confusa”, recordou o escritor. Era preciso travar: “Decidi parar, disse que ia abandonar aquilo. Já havia uma data para o publicar, expectativas de venda, mas não estava certo. Depois do choque e do horror [risos], os meus editores apoiaram-me. Deixei o livro parado durante meses, voltei a pegar nele mais tarde e escrevi-o como se estivesse a vê-lo em imagens, que é como escrevo melhor. Acabou com 11.500 palavras”, disse, já com um sorriso provocador.
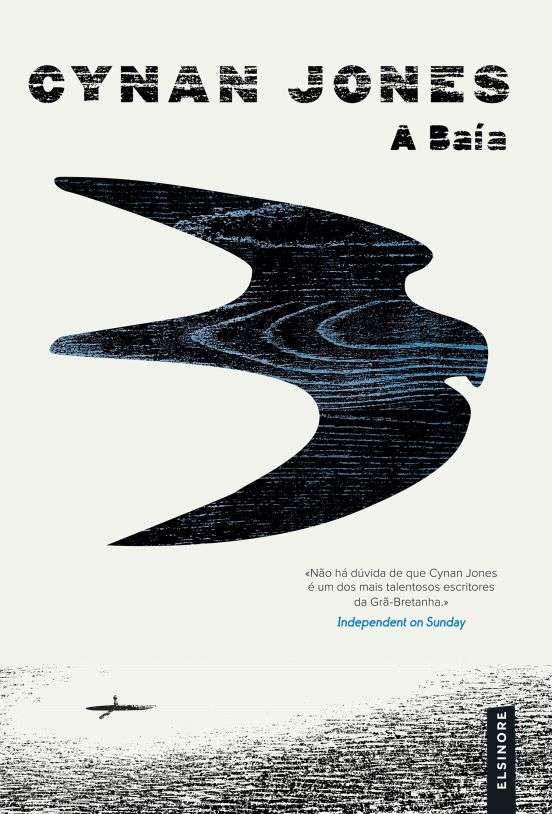
A capa portuguesa de “Cove”, o último livro de Cynan Jones, publicado em 2016 (2017 em Portugal)
Para Cynan Jones, quer a escrita quer a leitura funcionam melhor como um jorro, uma espécie de pulsação rápida. “É como ouvir um disco produzido na perfeição ou um concerto ao vivo, há um risco maior no segundo. As coisas podem correr mal mas quando resulta cria muito mais eletricidade. Tento fazer o mesmo com os textos, preciso de me empurrar para um território onde não me sinto tão seguro, tão à vontade, que não compreendo tão minuciosamente. Como acontecia na minha infância, quando ler era excitante por me atirar para fora de pé, para um outro mundo, também agora tento encontrar isso na escrita”, explicou.
A natureza e o ambiente físico em que as personagens se movem têm habitualmente um peso importante no rumo e pensamento das personagens de Cynan Jones. É assim até quando os leitores e as próprias personagens os desconhecem, como acontece em A Baía, devido à amnésia do protagonista (e único personagem central). Não acontece por acaso: o escritor galês vive com a mulher e o filho numa região rural do seu país, numa cabana que ele mesmo construiu, próxima de um penhasco sobre o mar na cidade costeira de Aberaeron, onde decidiu aos 11 anos que viveria.
Consigo caminhar da minha casa para a casa em que cresci através de um penhasco, durante duas horas. Conheço o lugar de forma muito íntima, sou um produto dele e os livros são um produto de mim. Quando comecei a escrever mais seriamente, os meus primeiros livros eram sobre pessoas infelizes a viver em cidades sem nome, a apaixonar-se por pinturas. Eram livros maus, irreais, muito literatos, atormentados e palavrosos. Depois, o primeiro livro que escrevi passado no sítio em que cresci foi um sucesso. Escrevi-o em dez dias, foi publicado, ganhou prémios”, referiu.
Nesta fase, o escritor sente que lhe tem sido “quase demasiado fácil” escrever. Tem até “uma piada recorrente” que passa por comparar essa sensação àquela por que terá passado o tenista Roger Federer, quando começou “a acertar a esquerda apoiada e cada jogada de esquerda que acertava era em cheio”. Também os seus “winners” na escrita devem-se muito, explicou, ao facto de “a praticar há 20 anos”.
Recuando duas décadas, Cynan Jones começou por escrever rascunhos de argumentos de filmes, decidiu experimentar o conto e tornou-se copywriter de uma empresa de publicidade para aprender a dominar a linguagem. Fê-lo porque sentiu, com 22 anos, que “não queria estar a meio dos 40 a culpar a minha mulher, uma hipoteca e o meu trabalho por não ter escrito o grande romance que poderia ter escrito se tivesse oportunidade para isso. Conheci demasiados homens que usavam tudo isso como desculpa e decidi dar-me tempo para escrever, ver se era capaz. Demorei dez anos a tornar-me um sucesso de um dia para o outro [riu-se] mas foram dez anos em que tive diferentes trabalhos e escrevi livros que foram um fracasso, não me preocupando nunca com os leitores e as editoras, mas apenas em tentar escrever um livro bom”.

O escritor galês tem 43 anos e esteve este mês no Folio para discutir se “um escritor escreve sempre o mesmo livro”. (@ João Porfírio / Observador)
Vencer o grande prémio de conto da BBC, em 2017, tornou-o mais popular fora do Reino Unido, sendo traduzido para vários países, europeus e norte-americanos. É, contudo, em festivais como o FOLIO que percebe que conseguiu algo: “É verdade que vir a estes festivais tira tempo de escrita, sobretudo para alguém como eu, que escreve sempre na mesma secretária, da mesma sala e com a mesma caneta, acerca do que consigo ver da minha janela. Sempre isolado, em períodos breves mas muito intensos. Mas é quando venho a estes festivais que passo por estas experiências de humildade, que me fazem percebeu que o meu trabalho está fora do meu quarto, que existe devido aos leitores”. Só há uma coisa de que Cynan Jones não é fã nestes eventos: “Estão cheios de pessoas que se estão a divertir e não gosto disso. Tal qual as cadeiras confortáveis: odeio-as”.
















