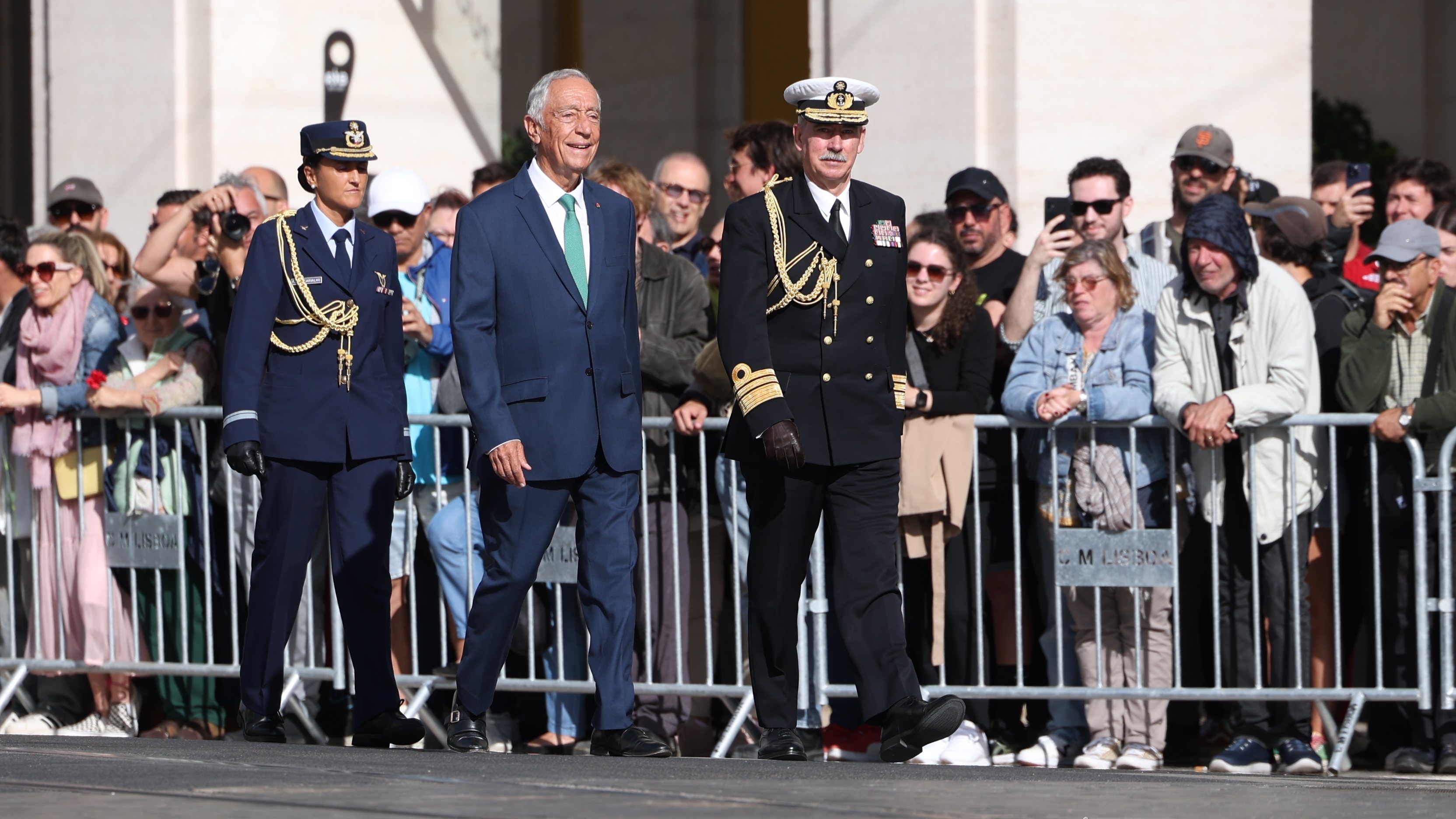No fim de semana passado estive no Porto num debate com Vital Moreira a propósito dos duzentos anos do 24 de Agosto de 1820, num ciclo de conferências promovido pela Câmara Municipal. No Porto, a equipa de Rui Moreira e Miguel Pereira Leite vem levando por diante uma experiência excelente e singular. Excelente a olhar os resultados, que estão à vista na cidade, e singular porque é independente partidariamente.
O facto de o Porto ser uma cidade única e encantadora, pelo menos para os indígenas que, como eu, se desenraizaram e a ela voltam; uma cidade muito europeia, com uma mistura, na Foz do Douro, de rio e mar, de muralhas medievais e pontes de ferro oitocentistas, de ruas românticas e de comércio, também ajuda. E a natural boa educação das pessoas, nas lojas, nos restaurantes, e o seu modo doce de dizer as coisas no agreste das vozes.
Encontro tantas histórias, tantas memórias, de infância, de adolescência, de parentes e amigos, mortos e vivos, naquele enclave entre a transição Douro-Atlântico, entre a Foz Velha e os Arcos das Pontes Luís I e D. Maria, da Ribeira até à Praça da Liberdade, com os Clérigos de um lado e a Sé do outro, que andar por aquele dédalo de ruas de traça medieval (que o terramoto roubou à Baixa de Lisboa) é sempre uma viagem ao fim do dia e da noite.
Mas não quero perder-me em divagações de nostalgia portuense, até porque o tema, aqui, é outro. É o tema do debate e, sobretudo, a resposta a uma pergunta da assistência sobre qual teria sido o futuro caso D. Miguel tivesse vencido a Guerra Civil. Referiu também o autor da pergunta o nome de José Acúrcio das Neves, um dos mais capazes defensores e doutrinadores do miguelismo.
Além de ter sido um historiador pioneiro da resistência aos franceses, foi José Acúrcio das Neves que, nas Cortes de 1828, impugnou a legitimidade de D. Pedro e de sua filha Dona Maria da Glória, invocando a lei tradicional dos fundadores das Cortes de Lamego e dos restauradores nas Cortes de 1641 de que “a coroa nunca passasse a príncipe estrangeiro, nem filhos seus, ainda que fossem os parentes mais chegados do último rei”. Ora, para Acúrcio das Neves, D. Pedro era “estrangeiro”; era brasileiro, porque fizera a independência do Brasil e ali vivera quase toda a vida. Excluíra-se por isso do trono de Portugal.
Acúrcio das Neves era uma personagem singular, um intelectual e letrado miguelista, um politicamente incorrecto que, “saneado” pela revolução de 1820 dos seus cargos e eleito para as Cortes de 1822, ali defenderia D. Carlota Joaquina, que se recusara a jurar a Constituição de 1822. A partir de 1823 foi reintegrado e em 1828 apareceu como um decidido defensor do miguelismo – e assim permaneceria até ao fim da vida em 1834, quando apareceu morto, presumivelmente assassinado por inimigos políticos, em Sarzedo, Arganil, no fim da Guerra Civil.
Foi um modernizador económico e o primeiro teórico defensor da industrialização em Portugal, escrevendo em 1820 páginas entusiásticas acerca do progresso técnico que se vivia “em uma grande parte da Europa e dos Estados Unidos da América” onde “já os rios e até os mares se navegavam pelo agente do fogo, sem mastros, sem velas e sem remos”; enquanto, entre nós, ainda não se achava “estabelecida uma só máquina de vapor nas nossas fábricas”. E se na Europa o tal “agente do fogo”, a máquina a vapor, fazia já quase tudo e a “força dos elementos quase dispensava as mãos do homem nos trabalhos mais pesados”, aumentando “prodigiosamente os frutos da indústria”, aqui ainda fazíamos “tudo à força dos braços e de animais”.
Acúrcio das Neves foi um industrialista na polémica Agricultura-Indústria que dividiu os teóricos do desenvolvimento nacional desde o Conde da Ericeira e Pombal. Mas foi, também, um tradicionalista, um miguelista.
Havia alguns como ele, mas a verdade é que, embora o liberalismo fosse um fenómeno das elites urbanas do Porto, de Lisboa e de Coimbra e de parte da nobreza, e ainda que houvesse um “país profundo” religioso e tradicionalista, enquadrado por párocos e abades que tinham levantado e guiado o povo contra os franceses, e que o exército de D. Miguel tivesse cerca de 80 mil homens, os miguelistas tinham acumulavam derrotas no terreno.
Não conseguiram conquistar o Porto, que lhes resistiu durante mais de um ano, de Julho de 1832 a Agosto de 1833; e, aparentemente, os generais miguelistas, Santa Marta e Póvoas, nunca se chegaram a entender: na ânsia de serem os protagonistas da conquista, falharam-na. Gaspar Teixeira não teve melhor sorte, nem o conde de São Lourenço. No final, é um legitimista francês, Louis de Bourmont, o conquistador de Argel, que vem tomar o comando dos exércitos de D. Miguel. Também sem sucesso.
Já D. Pedro coordenou bem os seus: Palmela veio de Londres com Charles Napier e com dinheiro, muito dinheiro. A conjuntura europeia mudara: em França, Carlos X, o rei “ultra”, tinha caído em Julho de 1830, substituído pelo primo liberal, Louis-Filipe de Orleães, o “rei cidadão”. Em Inglaterra, em Novembro de 1830, caíra o gabinete do duque de Wellington, perante a pressão radical da rua e a dissidência de George Canning nos Tories.
Depois foi a operação do ataque a Lisboa por mar, gizada por Napier, um grande estratega que, com a esquadra liberal, cujos navios eram todos comandados por ingleses e tinham as tais máquinas a vapor de que falava Acúrcio das Neves, derrotou a esquadra miguelista ao largo do Cabo de S. Vicente. Depois de ter conquistado o mar, o duque da Terceira, um experiente general da guerra contra os franceses, desembarcou no Algarve com 1.500 homens e avançou sobre Lisboa. O duque de Cadaval defendia a capital com 10.000 homens, mas, insolitamente, retirou-se sem dar batalha. Em 1834, houve dois recontros, Almoster e Asseiceira, com os liberais sempre a ganhar. Seguiu-se a rendição em Évora-Monte.
É um mistério, que o professor Ron B. Thomson abordou no seu Miguelistas e Liberais, também ele perplexo, como todos, perante as campanhas da guerra civil e o seu resultado. Como foi possível tanta incompetência? Os liberais eram uma minoria, convicta e esclarecida, se se quiser, mas tinham uma pequena força militar (menos de 10.000 homens), com cerca de 1.000 mercenários estrangeiros (que no Porto se revoltaram e causaram confusão com os vencimentos em atraso); e, no entanto, resistiram e ganharam as batalhas – e a guerra. D. Pedro exilou “o mano Miguel”, mas deu uma amnistia geral aos seus partidários, embora, as vinganças ideológicas locais para “retribuir” a repressão miguelista de 1828 se tivessem prolongado. Há um livro, Os Assassinos da Beira, de Joaquim Martins de Carvalho, que conta alguns desses crimes protagonizados pelo famoso João Brandão.
A ideia de vencidos não convencidos vê-nos mais por fontes paralelas, alheias à História oficial, que como é normal, é feita pelos vencedores (mesmo em regimes liberais e até democráticos): além de uma resistência que oscila entre a guerrilha (o Remexido no Algarve, o António da Costa nas Beiras) e o “banditismo social” (lembro aqui os “primitive rebels”, de Hobsbawm), há a permanência de uma nostalgia miguelista entre as famílias “de bem” de entre Minho e Mondego e, na novela camiliana também entre as classes populares, rurais, religiosas. O próprio Camilo, que teria andado na guerrilha miguelista de Ronald MacDonell, deixou desse “miguelismo popular” um retrato altamente satírico e demolidor em “A Brasileira de Prazins”.
Assim, ao contrário da tradição contra-revolucionária ou legitimista francesa, que encontrou a par de uma linhagem teórica, que sobreviveu a várias Repúblicas e chegou até à Action Française, e de uma linhagem literária, que veio até aos meados do século XX, nos romances de Jean de La Varende e no teatro de Jean Anouilh, a tradição contra-revolucionária portuguesa não persistiu. E se há teóricos e intelectuais miguelistas além de Acúrcio das Neves, de D. Francisco Alexandre Lobo, de José da Gama e Castro, de António Gouveia Pinto, do visconde de Santarém e até do fundibulário padre Agostinho de Macedo, de um modo geral, além da argumentação dinástica da ilegitimidade e estrangeirismo de D. Pedro, a maioria da polémica prendeu-se com a contestação dos princípios da Revolução Francesa, do seu anticristianismo ou anticatolicismo e da substituição de uma oligarquia tradicional de grandes titulares e do clero, pela oligarquia liberal dos “devoristas”. Estes tinham usado as amortizações e a nacionalização dos bens do clero e a expropriação aos partidários de D. Miguel, para enriquecer.
O facto de, por coerência nos princípios, os miguelistas nunca se terem querido organizar num partido político, embora tivessem, desde 1847 eaté 1917, mantido um jornal – A Nação – e de contarem com militantes e simpatizantes, acabou por não lhes permitir uma intervenção na vida política, sobretudo a partir de 1851 e da Regeneração.
Curiosamente, a grande reabilitação do miguelismo viria, de modo indirecto, através do Portugal Contemporâneo de Oliveira Martins (1881), que faria uma história do século XIX português extremamente crítica do liberalismo, transmitindo um juízo pessimista que iria inspirar a historiografia do período.
Quanto à intervenção miguelista na política nacional, dadas as Leis do Banimento, tornar-se-ia mais visível a partir da República, com as incursões, onde os miguelistas teriam, sobretudo na Segunda Incursão, um papel relevante. Nesta acção distinguiu-se a infanta D. Aldegundes de Jesus Maria, filha de D. Miguel I, condessa de Bardi, animadora e financiadora da operação. Mais tarde é também ela que intervém em representação do seu sobrinho menor, D. Duarte Nuno, na negociação do chamado Pacto de Paris, pelo qual se reconciliam os dois ramos da Casa de Bragança, tendo os legitimistas reconhecido o rei exilado D. Manuel II e este transmitido os seus direitos para D. Duarte Nuno.
Já o salazarismo é uma construção moderna, assente no poder militar revolucionário de 1926 e nos princípios da soberania nacional e do nacionalismo autoritário republicano, embora nas raízes do catolicismo social e do anti-liberalismo possam ainda encontrar-se alguns elementos doutrinários do legitimismo histórico. Mas serão puras reminiscências e coincidências.