Falar em Bernardo Santareno (1920-1980) é falar em teatro. Em peças como “O Crime da Aldeia Velha”, “O Judeu” e “Português, Escritor, 45 anos de Idade”. Mas a relação do autor com o drama também se revelou através dos textos literários que escreveu enquanto elemento médico de uma equipa da frota bacalhoeira portuguesa na Terra Nova e na Gronelândia.
Foi nessa qualidade que pôde perceber como é que o homem se revela numa situação-limite como é a de, estando distante do chão estável de todos os dias, pescar em ondas que de um momento se levantam como um monstro bravio e incontrolável. Pode dizer-se que, tal como aconteceu com o também médico Anton Tchékhov, Santareno, através do contacto profissional e pessoal permitido pela medicina, teve acesso às sombras da natureza humana.
Em 1957 e 1958, António Martinho do Rosário (seu nome civil), a bordo dos navios David Melgueiro, Senhora do Mar e Gil Eannes, pôde observar o bicho humano enquanto capturava o peixe e o “trabalhava” — e tirar notas que iria aprofundar em peças como “O Lugre” e “A Promessa”. Esses textos que escreveu a bordo são agora reeditados no volume Nos Mares do Fim do Mundo, numa edição ilustrada da E-Primatur que conta com um precioso prefácio de Álvaro Garrido, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, capaz de situar o autor histórica e politicamente, caracterizando-o como um intelectual de esquerda católico, empenhado em defrontar discriminações várias.
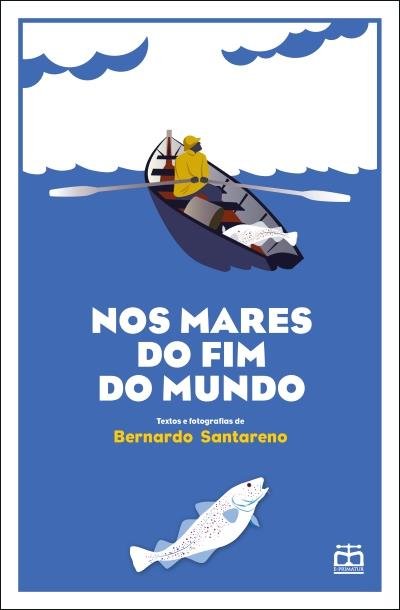
“Nos Mares do Fim do Mundo”, de Bernardo Santareno ( páginas: 292; preço: 17,90€
O maior elogio que se pode fazer a estas narrativas é o de que nos transportam para a intensidade do ambiente vivido. Não há relatos propagandísticos, embora o tom seja em geral compassivo e elogioso – dir-se-ia humanista — para com os trabalhadores: “Esforçados, resistentes até ao impossível, vibrantes de entusiasmo, humildes e confiantes…”. Há becos e horizontes como em todas as biografias. E existe a própria dúvida do médico sobre se estará à altura do que se pede a um médico em circunstâncias tão exigentes. “Serei capaz? E se eu desistisse, se voltasse para Lisboa?”, pergunta quando só havia percorrido as primeiras milhas.
Ao ler estas histórias como que também somos transportados nestas imperfeitas sagas marítimas, nos barcos desta faina entre a realidade e a ficção. Vamos ao lado de pescadores como Tó Verde, Cristóvão nazareno, Ligeiro, “Vila-Franca”, Fortunato, Albino, Tó Gordo, Chico de Alcântara e ti’ Fausto, o pescador mais velho da tripulação. Homens de todas as zonas do país (segundo os dados oficiais do ano de 1959, 5182), do litoral ao interior, que faziam vida longe dos seus, em trabalho árduo, sobre as marés e entre gaivotas e icebergs. Com o retrato das mulheres e dos filhos nos bolsos e medalhas de santos escondidas. Gente de Vila do Conde, de Peniche, da Figueira da Foz, de Ílhavo, da Nazaré. Mas também da Serra da Estrela. Como o “Zé Claro”, que sempre vivera de apascentar ovelhas “e nunca, até agora, pusera os olhos no mar”.
Os homens são retratados de modo breve e impressivo. Há, nestas descrições, quem tenha “uns olhos pretos enormes e nocturnos” e uma “boca carnuda que o sorriso tornava cruel”. Há quem seja “grande, pacífico e gordo” e exiba uma “cara vermelhusca, um largo riso amarelo e longas farripas do cabelo loiro” e quem se abra num “sorriso claro, solar, a pedir polpa tensa de fruto vermelho”. Há relatos de dificuldades, de doenças, de enjoos, de amputações, de assassinatos, de suicídios, de homens caídos ao mar, de naufrágios, de abusos por parte de comandantes. Mas também de um ocasional “mar bom, marzinho”, de amizades, de competições festivas, da possibilidade de purificação, de uma vaga esperança marinha entre a neblina. Em todo o caso, é a tragédia que domina o tom desta prosa sobre uns homens que, na maior parte do tempo, são “como uma penumbra entre a vida e a morte”.
De vez em quando Santareno faz uma pausa nas suas descrições detalhadas de rostos e espelhos marítimos – da “sucessão de pequenos montes de prata translúcida” e de um “mar azul-cinza” – para fazer uma evocação amorosa (“Hoje não escrevo sobre pesca ou pescadores. Não posso. Estou cheio de ti, meu amor (…)”). Ou desenhar uma religiosa meditação: “Se eu suportasse o silêncio terrível desta noite cerrada e sem estrelas…: Então, talvez eu pressentisse a madrugada que se evola do sorriso de Deus…”. Ou então tentar um encontro com um imaginado eu sem pecado, numa solidão “como um poço de vertigem, aberto no centro da alma”.
Os textos, muito deles curtos, fazem-se de muitas notas impressionistas, de uma linguagem adjectivada e cheia de advérbios nas caracterizações:
Gronelândia. Sempre luz, sempre dia. Cerca da meia-noite, vê-se o sol descer até à linha do horizonte e, logo a seguir, ascender de novo para o céu. Tudo, mar e firmamento, homogeneamente azul; apenas, lá onde o lábio celeste se vai unir com o marinho, uma faixa rosada e transparente: como um sorriso”.
São recuperados os sotaques, as expressões de cada um, a rudeza do verbo, a espontaneidade de quem não mede palavras entre a espuma.
O volume também traz fotos – registos de despedidas, de embarcações, de rostos, da figura do próprio autor, sempre com óculos de massa, uma das suas imagens de marca. E dois inéditos. O primeiro é um texto sobre o peso da responsabilidade de ter deixado o território protegido dos laboratórios e das clínicas para tratar aqueles que tanto respeitava e o segundo é sobre uma insubordinação em defesa de um direito ocorrido num arrastão. O prenúncio de um posicionamento político que Bernardo Santareno iria aprofundar nos anos seguintes, antes e depois do 25 de Abril de 1974.





























