Quando hoje nos deslumbrarmos com uma ânfora romana, uma estatueta egípcia ou uma bracelete grega, não nos perguntamos se pertencia a um senhor ou a um escravo, se foi mandada fazer por um mecenas ou por uma mulher vaidosa. Porque sabemos que não são meros objetos mas pedaços da grande narrativa humana, traços que nos permitem comunicar com esse passado, compreendê-lo, fazê-lo presente e futuro.
O mesmo acontecerá daqui a mil anos, quando os arqueólogos do porvir desenterrarem nas nossas cidades vestidos, relógios, bonecas, imagens publicitárias de hambúrgueres, telemóveis, televisões. Tal como nós, eles vão deslumbrar-se com os seus achados pelo que eles lhes vão contar deste tempo e desta humanidade. Não lhes importará se lhes chamavam “objetos” ou “mercadorias” mas sim o que eles podem contar sobre a forma como no século XX e XXI os homens edificavam as suas cidades, viviam os seus afetos, choravam os seus mortos. Recusando-se a ver as mercadorias como algo exterior ao humano, símbolo de vaidade, futilidade, consumismo ou opressão, o filósofo italiano Emanuele Coccia propõe-nos algo tão libertador quanto polémico e instigante: amemos os objetos, as mercadorias, os nossos ténis, as gravatas, os sapatos que estão na moda só neste inverno, a mesa e os livros, porque os objetos não são apenas um bem — eles são O Bem.
O Bem nas Coisas: a publicidade como discurso moral, que já está traduzido em várias línguas, foi apresentado esta quarta-feira, 11, em Lisboa, numa edição da Sistema Solar/Documenta. Coccia, filósofo, professor de Teologia e História da Moda na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), em Paris, estará esta quinta-feira, 12, na Culturgest para uma conferência intitulada Life in images: Advertising and inventions of lifestyle (a vida em imagens: a publicidade e as invenções do estilo de vida).

Acessórios da coleção Gucci Resort 2017. © Gucci
Isto sabemos: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo ensinaram-nos que é errado venerar imagens e é mais errado ainda venerar objetos, pois eles representam exterioridade, futilidade, a sua matéria opõe-se ao espírito. O marxismo ensinou-nos que a produção e o desejo de acumulação de mercadorias leva à exploração do homem e produz injustiça social. Porém, como nos mostraram Marcel Mauss no Ensaio Sobre a Dádiva ou Mircea Eliade no Tratado de História das Religiões, desde sempre que o humano investiu de sagrado os objetos, fossem pedras, conchas, ossos de animais ou tapeçarias. Desde sempre os homens amaram as coisas, as trocaram, comunicaram através delas o espírito do tempo, o respeito pelos deuses e pelos desconhecidos. Foi sempre através das coisas, mais do que das palavras, que o humano evocou os deuses, os mortos, celebrou nascimentos e colheitas.
São as coisas que conservam a memória e o espírito de uma comunidade, com muito maior fidelidade e de modo mais duradouro do que pode
assegurar o indivíduo singular: uma vez desaparecido o seu último
representante, devemos perguntar pela identidade dos povos
do passado aos livros e às pedras. A existência de cada um de nós
é, antes do mais, definida pelas coisas que usamos, imaginamos
e desejamos. Mas ainda aí surge um antiquíssimo e inexplicável
embaraço que nos toma de surpresa a cada vez que tentamos
confessar o nosso amor pelas coisas…” (O Bem nas Coisas)
Em entrevista ao Observador, Coccia defende que “é preciso criar um novo ângulo de pensamento sobre as nossas cidades e os milhares de objetos que as compõem que não esteja baseado na moral judaico-cristã-marxista, onde as mercadorias são vistas como exteriores ao homem mas sim como manifestações do seu mundo interior, da sua imaginação, do seu desejo, do seu erotismo, enfim da sua necessidade de falarem de si aos outros, porque uma mercadoria não existe senão dentro de uma relação social”. Nota ainda que “não será por acaso que em várias línguas a palavra ‘bem’ serve ao mesmo tempo para designar ‘mercadoria’ e ‘bem moral’.” Como se a palavra tivesse guardado memória desse tempo primordial em que “os bens significavam o Bem”. O filósofo defende ainda “que não terá sido por causa do capitalismo que o homem passou a desejar coisas, mas provavelmente foi porque o homem sempre desejou possuir coisas para amar, investir de significados e de símbolos que o capitalismo aconteceu. Porque “amar os objetos não é pecado, nem é consumismo, é humano”, diz ainda, sabendo que muito facilmente o seu ensaio pode passar por uma apologia do consumo e que vai irritar não só os seguidores do minimalismo ultimamente conhecido como Zero Waste Lifestyle mas especialmente “a esquerda franciscana que faz a apologia da pobreza, usando afinal da mesma moral católica que tanto condena”.
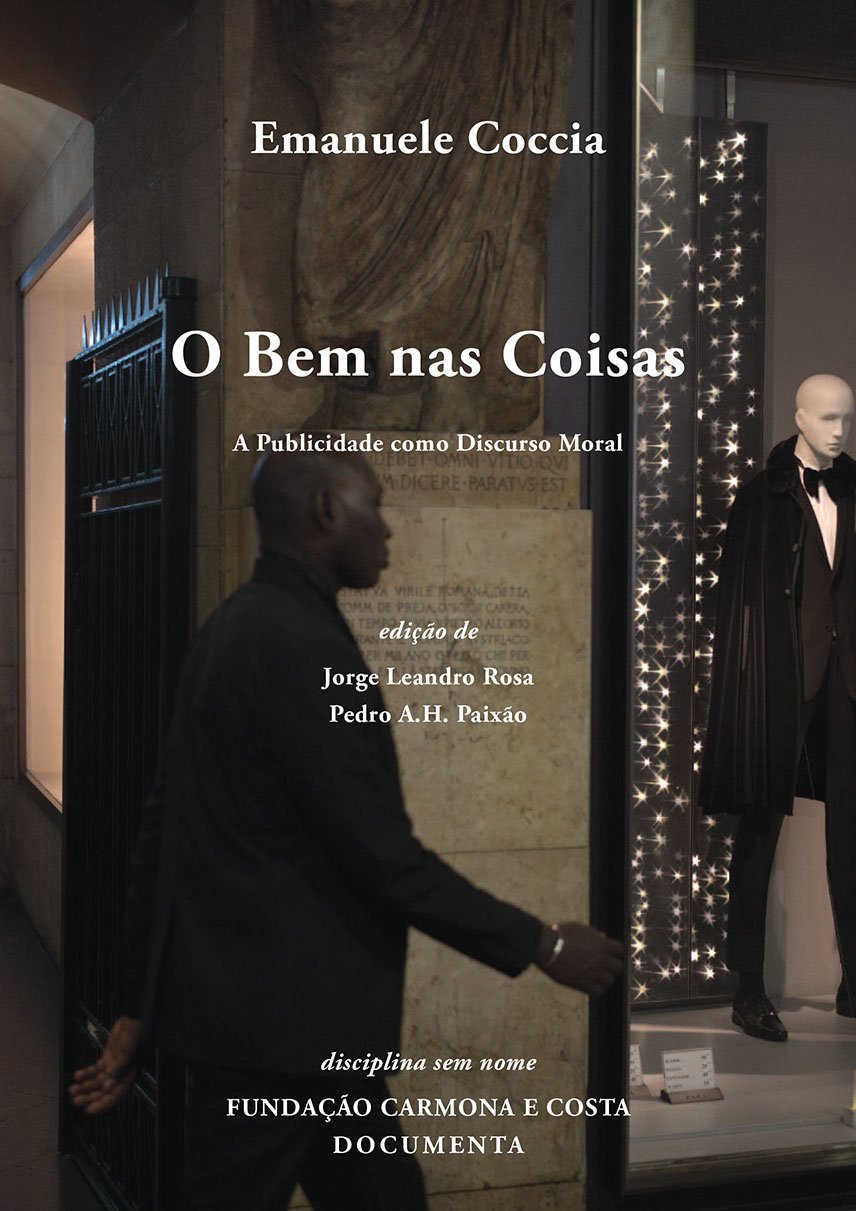
O ensaio, escrito em 2013 e apresentado agora, junta filosofia, história, teologia, antropologia e arte para abrir um ângulo novo sobre a nossa vida material.
“Sou um homem de esquerda, mas isso não significa que não sinta que a esquerda não está a conseguir pensar o seu tempo, e não perceba que os objetos são não só a língua franca da humanidade, mas também o único lugar onde se encontra o Bem. Porque já ninguém espera encontrar o Bem numa ideologia política, numa religião, num Deus. Só nos objetos que produzem, trocam, guardam, comem, deitam fora os humanos experimentam o Bem, a felicidade, o prazer. É urgente que deixe de se olhar para isto de uma perspetiva moralista, que se abandone a palavra fetichismo (curiosamente de origem portuguesa: fetisse, feitiço) para falar de algo tão profundo e constituinte como o nosso amor pelas coisas.”
Quando falam do bem e da felicidade, as nossas cidades falam hoje, sempre e apenas, de mercadorias: o bem de que falamos incessantemente na cidade são os bens, as mercadorias. Reciprocamente, a mercadoria é hoje a única forma sob a qual o bem é pensável e pode ser exprimido publicamente.” (O Bem nas Coisas)

Emanuele Coccia durante a sua passagem por Lisboa. © HUGO AMARAL/OBSERVADOR
Publicidade e lifestyle: das grutas primitivas aos néones
Diz-se que no princípio era o verbo, o que está errado. No princípio eram as imagens, pois antes mesmo de haver olhos humanos já havia árvores que se refletiam nas águas. Este pensamento não é de Coccia mas do filosófo e sociólogo português que muito tem pensado estas questões, José Bragança de Miranda. Emanuele Coccia concorda totalmente com esta ideia e liga-a à necessidade que os homens sempre tiveram de desenhar, representar as coisas do mundo, produzir imagens dos seus objetos. No seu ensaio, o italiano mostra como desde as paredes das grutas primitivas aos anúncios em néon e hologramas das cidades atuais o que mudou foi a tecnologia, porque desde sempre, pedras, muros e paredes serviram para comunicar no espaço público uma mundividência, uma moral. Das batalhas contadas nos baixos relevos da coluna de Trajano aos frescos nos tetos das catedrais medievais, dos muros onde se escreviam as leis da cidade romana e o nome dos heróis, até aos mais surrealistas anúncios publicitários de carros, comida e perfumes, é ainda e sempre a cidade dos homens a colocar a céu aberto um discurso moral, um estilo de vida.
A panóplia de dispositivos publicitários, com as formas e dimensões mais variadas é agora um traço característico das nossas cidades: será difícil pensar em Nova Iorque, Londres ou Tóquio, no seu fascínio e na sua beleza, sem que a imaginação represente as pinacotecas publicitárias e electrográficas que imperam em Times Square, em Piccadilly Circus ou em Shibuya. Privá-las daqueles reclames luminosos equivaleria a eliminar nelas as torres de São Gimignano ou mesmo os pináculos de Wren em Londres. Mas mesmo de um ponto de vista histórico, a publicidade não pode ser entendida como um elemento complementar, secundário e acessório do espaço urbano.”(O Bem nas Coisas)
O homem sempre produziu imagens como produziu coisas, mercadorias e sempre falou dos seus objetos através das imagens. Claro que a partir do início do século XIX, com a fotografia e o cinema, as imagens ganharam um espaço central na forma como as pessoas comunicam e a publicidade tornou-se o principal difusor de normas de comportamentos, estilos de vida, formas de poder. “As imagens publicitárias, porque praticamente dispensam as palavras , são uma das expressões do mundo globalizado, são entendíveis em qualquer canto do globo e falam sempre de três coisas: bem, felicidade e prazer”, diz o filósofo.

Times Square, a meca dos néones e da publicidade. © Getty Images/iStockphoto
“A publicidade, sobretudo a partir dos anos 50, quando ela se desenvolve, foi fundamental para atribuir aos objetos uma moralidade, ou seja, a publicidade investiu as mercadorias de prazer, felicidade, erotismo, de Bem. Com ela as pessoas deixaram de ser divididas por classe social, etnia, religião ou trabalho e passaram a ser divididas segundo aquilo que consumiam. A identidade de cada um passou a definir-se pelos bens que consome, o Eu passou a comunicar-se através dos objetos que consome.”
Falar por imagens e não por palavras
” O movimento punk dos anos 70 é o melhor exemplo da ascensão do estilo de vida a uma dimensão política”, defende Coccia, “porque a sua batalha se faz totalmente no campo cultural mas os punks não produzem qualquer manifesto escrito, eles não comunicam por palavras mas por roupas, penteados, botas. O estilo, o look foi investido de um carácter revolucionário. Logo, não podemos continuar a pensar que a publicidade e os objetos de que ela fala necessitam de palavras. Estamos a assistir ao nascimento de uma outra ordem civilizacional onde se falará mais por imagens e menos por palavras e isso já se nota nas novas gerações e na forma como elas comunicam sobretudo através da fotografia, do vídeo, do cinema. Não há dúvida que a publicidade é o discurso social dominante, mais importante que as ideologias, a arte ou a literatura.”
Emanuele Coccia, 40 anos, organizou com Giorgio Agamben, o famoso filósofo italiano, que organizou com ele uma monumental antologia sobre Anjos no Judaísmo, no Cristianismo e no Islamismo. É também autor de A Vida sensível e A Vida das Plantas. O Bem nas Coisas é a sua primeira obra traduzida para português.












