Para qualquer criança no mundo que, neste momento, se sente no sofá a ver um programa infantil na televisão, a experiência é a mesma. Uma vez pressionado o botão vermelho é praticamente certo que: 1) se depare com mais personagens masculinos do que femininos, 2) que os personagens femininos sejam sexualizados, 3) que a ação seja passada num mundo predominantemente branco e de à vontade financeiro, 4) que pura e simplesmente não existam pessoas de diferentes raças, com deficiências ou homossexuais. Resumindo: falta igualdade de género mas também diversidade.
Fazemos pausa para lembrar: também há exceções e conteúdos equilibrados mas a mensagem conservadora é a mais comum: “Para a maior parte da TV que é emitida pelo mundo, esta é a realidade que se encontra”, explica Dafna Lemish do seu escritório, em entrevista por Skype, rodeada de cadernos e livros. Foi no início de 2019 que a professora da Universidade de Rutgers (New Jersey, EUA) publicou este estudo, intitulado The Landscape of Children’s Television in the US and Canada (ou o Cenário da Televisão para Crianças nos EUA e Canadá), uma análise dos programas feitos para os mais pequenos – o estudo fez notícia em vários países e levou-a a entrevistas nas televisões internacionais. Agora, viaja também até Portugal. É já esta segunda-feira que visita Lisboa para a conferência “Bridging feminism with children and media – a scholarly journey” (algo como fazer a ponte entre o feminismo, as crianças e os media – um percurso académico), a acontecer pelas 18h na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (Universidade Nova) iniciativa organizada pelo Instituto de Comunicação da NOVA e pelo Centro de estudos de Comunicação e Sociedade.
Muito sexo masculino, poucas minorias e diversidade cultural: as conclusões não foram surpreendentes, sublinha, apenas serviram para trazer os factos ao de cima: “É um mundo muito dominado por homens, brancos e pessoas da classe média”, diz acrescentando ainda que “mal se vê deficiências e só há heterossexuais”. Mas vamos por partes. A análise deve ser integrada num estudo maior que analisou o estado da televisão infantil em outros seis países (Bélgica, Alemanha, Cuba, Israel, Taiwan e Reino Unido) para uma perspetiva ampla. Aí mostra-se, por exemplo, que o cenário mais comum para o enredo é um contexto abastado, de à vontade financeiro. A esmagadora maioria dos personagens principais (81%) vive “no que parecem ser condições de classe média, tendo, por exemplo, um carro ou usando roupas da última tendência” descreve o relatório e existe ainda uma percentagem significativa (14%) que “vive em condições de classe alta, com uma piscina, uma casa numa zona famosa como Malibu Beach e mais do que um carro caro.”
Além de abastados, os personagens são na sua maioria caucasianos (68%). Em ordem decrescente estão os personagens de pele morena ou negra (com traços físicos da África subsariana) a representar 10% da amostra, seguidos dos personagens com traços asiáticos (8%), dos classificados como latinos (5%) e dos oriundos do Médio Oriente (3%) e dos do Sudeste Asiático (2%). Quando estes personagens de cores e traços diferentes (da maioria) aparecem são também do sexo feminino, aponta o relatório. E a intenção é clara, garantem: “Desta forma um personagem pode responder à mesma necessidade de diversificar no ecrã – sendo, em simultâneo, tanto do sexo feminino como membro de uma minoria racial.”

Dafna Lemish estuda os temas dos media, juventude e construção de identidade há mais de 40 anos. Desde a década de 80 que tem publicado vários estudos e livros sobre as crianças e a família, a desigualdade e as questões de género que parecem ocupar um lugar cimeiro nas investigações. © DR
Mas há muito mais para dizer sobre a (falta da) igualdade de género. A presença feminina ainda está aquém – pelo menos nas personagens não humanas. O relatório global (dos oito países) explica: “De uma perspetiva de género, o rácio de personagens principais que são humanos é a proporção mais equilibrada (42% para 58%). Os personagens femininos estão menos representados como animais (25% para 71%), monstros (35% para 57%), plantas ou objetos (17% para 75%) e robôs (13% para 80%).” A questão, aparentemente, pode parecer menor – afinal, o que é que mais flores ou fantasmas masculinos podem representar de tão grave – se não for vista com atenção. “É uma descoberta surpreendente, dado que para estes personagens o sexo biológico é puramente construído: o animal ou monstro ser um “ele” ou “ela” é totalmente arbitrário e decidido pelos produtores do programa.” Mas mais do que ser, a questão também se põe para a forma de estar: nos programas infantis elas têm atitudes e métodos diferentes deles. Concluiu-se que é mais comum ver-se um personagem feminino resolver um problema com recurso a diálogo ou magia – do que utilizando as STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) ou a força física.
A TV é sala de aula
Quase cem anos volvidos sobre o seu aparecimento, o pequeno ecrã continua a reunir a família para momentos de lazer. Mesmo depois do advento da tecnologia – e do aparecimento de smartphones, tablets e outros ecrãs inteligentes – ainda é objeto de atração para os mais pequenos que lhe dedicam horas. Para as gerações que cresceram com a TV a questão da qualidade parece mais relevante do que a da quantidade: que programas em movimento são estes? Que histórias contam e que valores transmitem? As perguntas são fundamentais, garante Dafna Lemish. É que mais do que entretenimento, a televisão tornou-se espaço de socialização: “Provavelmente as crianças passam mais tempo em frente ao ecrã do que noutros espaços de educação. É aí que aprendem sobre o mundo: o que é ser bom ou mau, o que significa ser livre, bem comportado, sexy. É uma escola da vida.”
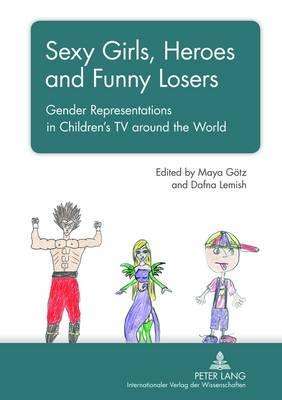
Em 2012, lançava um estudo mais completo feito até à data sobre as representações de género na TV infantil através de uma análise a 24 países
E se a escola não faz um bom trabalho, o impacto do outro lado do ecrã vai fazer-se sentir. “Se és uma menina a crescer no Gana, onde todo o país é negro, estás ali a ver um mundo branco, onde toda a aventura, romance, conquistas, só pode acontecer aos outros – não te vês representado. Isso tem um grande impacto nas crianças”, explica a investigadora. “Se não te vês representado isso diz-te muito sobre o teu papel na sociedade, sobre como ela olha para ti, e dá também a ideia do “se não o vês então não o podes fazer”. Se não te podes ver no papel de bem sucedido, formado, artista, atleta então não podes imaginar sequer que seja possível.”
Para entender o problema é preciso viajar até à sua raiz. A maioria dos programas – e suas mensagens – continuam a chegar do mundo ocidental, principalmente da América do Norte, lembra: “É que as produções locais são mais caras, é muito mais barato comprar 50 episódios das Tartarugas Ninja do que produzir um episódio original.” São realidades e verdades norte-americanas que chegam às crianças de todos os pontos do mundo. Para mudar o panorama seria importante diversificar o produção – e também trazer mais diversidade aos bastidores. “No estudo também percebemos que a indústria de produção de conteúdos para crianças ainda é dominada por homens caucasianos: eles são os realizadores e argumentistas e trazem as suas versões do mundo, as fantasias, as ideais de raparigas sexy que não se parecem em nada à realidade. Mesmo que tenham boas intenções, esse é o mundo que conhecem e trazem isso para a televisão. Para mudar o conteúdo temos de mudar a situação. Diversidade atrás da câmara tem o potencial de produzir diversidade no ecrã.”
Onde está o #metoo?
Mas, afinal, o que mudou? “Já não vemos tantos papéis tradicionais – raparigas nas tarefas domésticas e rapazes no desporto e outras atividades – isso já está claro que não é aceitável”, responde. As raparigas já não parecem restringidas a determinadas ocupações mas ainda não chegámos a um patamar ideal: “As raparigas podem fazer tudo, sim, mas desde que tenham uma aparência que é suposto, que sejam bonitas. Podes ser cirurgiã, política, poderosa… mas tens de ser sexy. As expectativas para elas ainda estão muito baseadas na aparência enquanto que as expectativas para eles se baseiam naquilo que fazem/concretizam.”
Desde que o movimento feminista deu os primeiros passos, à boleia da Revolução Francesa, muito tem crescido a luta por direitos iguais e contra a discriminação e violência. Dafna Lemish lembra que quando começou o seu percurso, há mais de 40 anos, determinados temas simplesmente não mereciam atenção: “Quando comecei a falar de assédio sexual as pessoas ficaram chocadas. Diziam ‘é só flirting, é um elogio, não é assédio.’” Nos dias de hoje, o cenário mudou, talvez para o extremo oposto, com um diálogo aberto e público sobre essas questões sensíveis. Apesar de tudo, os efeitos ainda estão para se sentir nos mais diferentes meios, como a produção televisiva: “Estávamos com esperança que o Me Too tivesse algum impacto mas não vimos esses resultados no estudo. Primeiro porque demora algum tempo a criar e a produzir novos conteúdos e é preciso tempo para ver como os que já estão na TV vão reagir. Mas acho que tudo isto está a trazer mais consciência.”

Que consequências pode ter para uma criança ver um noticiário com imagens violentas, uma fotografia de teor sexual ou, mesmo, um simples filme de terror? Interessada nas emoções – em particular no medo – Dafna Lemish também já estudou o impacto de personagens como o terrível boneco Chucky, o tubarão assassino de Jaws ou até os Marretas ©istock
Dafna Lemish estuda os temas dos media, juventude e construção de identidade há mais de 40 anos. Nascida em Haifa, fez grande parte do percurso profissional no seu país natal, Israel – e apesar de se ter doutorado no Ohio e de ter casado com um norte-americano, foi só há 11 anos que se mudou para os Estados Unidos, onde é professora e membro da direção da Universidade de Rutgers. Desde a década de 80 que tem publicado vários estudos e livros sobre as crianças e a família, a desigualdade e as questões de género que parecem ocupar um lugar cimeiro nas investigações. Tudo pode começar com uma simples questão. Ora vejamos: a igualdade de género terá significados diferentes dependendo da localização geográfica? É a pergunta a que Dafna Lemish responde em “Screening Gender on Children’s Television: The Views of Producers around the World” (ou projetar o género na televisão para crianças: as perspetivas de produtores de todo o mundo).
Foram as entrevistas com 135 produtores de mais de 65 países que deram origem ao livro publicado em 2010. “Foi fascinante perceber como as questões mais relevantes sobre o género mudavam consoante o ambiente cultural e social”, diz. A professora explica como as preocupações eram díspares: “Nos países nórdicos havia uma preocupação com os rapazes – eles é que estavam a chumbar na escola, eles é que tinham mais problemas de dependência, taxas mais altas de suicídio e as mulheres eram mais fortes e tinham melhores resultados académicos. Em contraste, no norte de África, por exemplo, havia a preocupação de dar a ideia que as meninas têm direito a aprender, a educação delas era vista como forma de combater a desigualdade.” E se lutar contra a violência doméstica era mensagem prioritária na América Latina, já em alguns países asiáticos pretendia-se contrariar o fascínio pela beleza ocidental – que leva tantas jovens à cirurgia estética para atenuar os traços orientais.
Múltiplos ecrãs
Mãe de três, a professora conta que lá em casa sempre houve regras com a utilização da televisão. Não se ligava o aparelho porque sim ou por simples aborrecimento – ligava-se para ver determinado programa e desligava-se quando este terminasse: “Não deixávamos de pano de fundo para nos consumir. Ver televisão era uma coisa que se fazia e não algo que está ali, passivamente, a toda a hora.” Mas esses também eram outros tempos, lembra, onde não existiam smartphones nem tablets que oferecem muitas possibilidades, multiplicando os conteúdos e as mensagens. Ainda assim não permite perspetivas pessimistas: “Basicamente todos os media têm igual potencial de fazer coisas boas e de causar danos.”
São cada vez mais as horas que as crianças passam com os ecrãs, tanto em casa, na companhia dos pais, como fora dela, com os avós, por exemplo. Num estudo conjunto da Universidade de Rutgers com a Universidade de Ben-Gurion (Israel), co-liderado por Dafna Lemish, chegou-se à conclusão que os avós são mais permissivos e que numa visita de duração média de quatro horas, as crianças estavam autorizadas a ficar metade do tempo entretidas com telemóveis ou tablets. Já o tipo de impacto que estes conteúdos têm nos miúdos continua a ser estudado – e ainda não existem respostas simples.
Que consequências pode ter para uma criança ver um noticiário com imagens violentas, uma fotografia de teor sexual ou, mesmo, um simples filme de terror? Interessada nas emoções – em particular no medo – Dafna Lemish também já estudou o impacto de personagens como o terrível boneco Chucky, o tubarão assassino de Jaws ou até os Marretas reunindo alguns relatos de traumas causados pelos filmes que perduram até à idade adulta. Mas acabar com as sessões de cinema não é solução: “O medo é uma emoção importante porque vida não é só rosas nem felicidade, as crianças têm de aprender a enfrentar e superar os medos. A questão é que têm de o fazer no momento apropriado e na sua fase de desenvolvimento. E nesse livro fazemos a distinção entre medo e entusiasmo: o primeiro pode ser traumático, o segundo passa uma ideia de controlo e segurança.”
A dica mais importante de Dafna Lemish para sobreviver à selva da tecnologia? Não deixar os miúdos ver televisão passivamente: “Diria que, antes de tudo, os pais devem ser mais seletivos e assumir maior responsabilidade na escolha dos conteúdos. E, depois, que aproveitem essas oportunidades para conversar com as crianças. Se estão a ver algo que mostra valores em que não acreditam ou que não tem diversidade então questionem. Os pais devem usar os ecrãs para passar mensagens. Não temos de ser passivos em frente ao ecrã.”

















