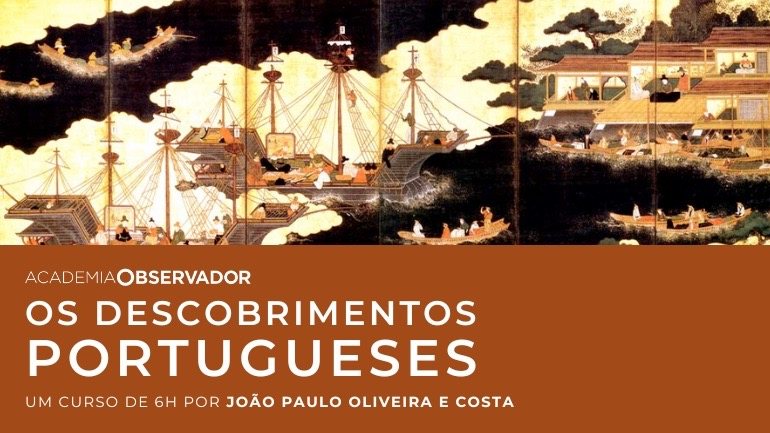Na primavera de 1569, começaram a aparecer em Lisboa os primeiros casos de uma doença que em tudo se assemelhava à que tinha desolado o país e a Europa dois séculos antes. Em 1348, a enfermidade que ficou conhecida por Peste Negra reduziu a população mundial para metade. Entre abril de 1569 e julho de 1570, haveriam de morrer na cidade portuguesa cerca de 50 mil pessoas, um número que representa subida de perto de 2.000% nos níveis de mortalidade, segundo estimativas atuais. No século XVI, a Peste Negra não tinha cura e, para alguma das suas variantes, continua a não existir. Para aqueles que apanhavam a doença e tinham a sorte de receber algum tipo de tratamento médico, a probabilidade de sobrevivência era de cerca de 50%. Para os restantes, a morte era quase certa.
Apesar de não existir uma cura efetiva para a peste, isso não quer dizer que não existissem remédios. Água de rosas para acabar com os maus cheiros, que se acreditava transmitirem a Peste Negra, ou galos depenados vivos sobre os inchaços que apareciam sobre o corpo foram algumas das mezinhas a que os lisboetas recorreram durante a “Peste Grande” de 1569.
Passados mais de 450 anos, estas parecem quase cómicas pela sua óbvia inutilidade — pouco faziam além de levar algum consolo a quem as tomava. Da mesma forma, procurando desesperadamente um remédio que resulte contra a atual pandemia, têm surgido nas redes sociais alegadas curas para a Covid-19, geralmente receitas caseiras como água morna com sal ou limão. O vinagre, que durante a epidemia de 1569 foi sugerido para livrar as casas das impurezas, chegou a ser apontado no Facebook como um melhor desinfetante do que o álcool. A verdade é que, quando não há uma solução à vista, tenta-se de tudo.
Temos conhecimentos de alguns dos remédios usados pelos lisboetas durante a “Peste Grande” de 1569, como foi chamada na altura por causa da grande destruição que causou, através de um documento redigido por dois médicos que D. Sebastião mandou vir de Sevilha para ajudarem a combater a epidemia. Tomás Álvares e Garcia de Salzedo Coronel tinham-se distinguido no combate à doença, que tinha feito grandes estragos entre os sevilhanos nos últimos dois anos.
Os especialistas chegaram a Lisboa a 2 de agosto e encontraram-se imediatamente com o governador, D. Martinho Pereira, e com o provedor-mor da Saúde, Dr. António Dias, para que se decidissem as medidas a serem tomadas. O programa sanitário e terapêutico foi posto por escrito, num documento que foi depois traduzido para português, lido aos especialistas portugueses de maior experiência e impresso sob o título Recompilação das cousas que convém guardar-se no modo de preservar a cidade de Lisboa e os sãos, e curar os que estiverem enfermos da peste, um grande título para um grande problema.
O documento, divulgado numa altura em que morriam em Lisboa entre 500 a 600 pessoas por dia, reunia um conjunto de normas e sugestões que deviam ser seguidas à risca para evitar a propagação da doença. Uma questão fundamental dizia respeito à qualidade do ar, apontada desde o século XIV como uma das causas da Peste Negra. Para combater a humidade, a “causa potentíssima desta enfermidade”, os dois médicos sevilhanos apelavam à limpeza das ruas e pediam que se fizessem fogueiras ao ar livre, de manhã e de noite, com madeiras perfumadas, como o cedro, cipreste, zimbro ou alecrim.
No interior das casas, estas podiam ser feitas a qualquer hora no inverno e de manhã e à noite no verão. O interior das habitações devia ser perfumado, com rosas, benjoim (resina balsâmica do benjoeiro) ou outra substância aromática, laranjas e limões.
Para evitar a propagação de maus odores, podia-se, durante o dia, recorrer a saquinhos aromáticos, para serem cheirados ou pendurados ao pescoço. As divisões deviam ser lavadas com água normal ou de rosas e vinagre, em partes iguais, e só podiam ser arejadas de dia. O sol era considerado benéfico.
Para evitar a doença, antes vinho branco do que tinto e queijo só o do Alentejo
Álvares e Salzedo Coronel também consideravam a higiene pessoal importante, embora esta raramente fizesse parte da rotina de quem morava em Lisboa. Os especialistas recomendavam que se tivesse especial cuidado com as roupas, que deviam ser alegres e cheirosas. As pregas estavam fora de questão, e o uso de pedras preciosas, como esmeraldas e jacintos, era aconselhado junto ao corpo. Este tipo de cuidados só estava, contudo, acessível aos mais abastados.
No que diz respeito à alimentação, Tomás Álvares e Garcia de Salzedo Coronel defendiam que devia ser feita à base de alimentos secos e que se devia evitar gordura, laticínios (à exceção de queijo velho, “do muito bom do Alentejo”) e doces. O vinho branco era preferível ao tinto e a água dos poços era desaconselhada, devendo optar-se por uma fonte conhecida ou por um rio. Se isso não fosse possível, devia ferver-se a água com uma substância purificadora, como a canela, a erva doce ou o cravinho, no inverno, e as azedas, as suas sementes ou o vinagre, no verão.
Os “médicos do Sereníssimo Rei de Portugal” sugeriam também que, “na retificação da água ou vinho”, se usasse “uma lâmina ou barra de ouro ardendo” — outra opção apenas disponível aos que tinha dinheiro.
O contacto entre os habitantes devia ser evitado a todo o custo. Estava fora de questão visitar doentes, as casas onde tinha sido identificados três ou mais casos de peste deviam ser esvaziadas e proibiram-se os bailes e as danças. A ordem não impediu, contudo, a realização de oito procissões entre 14 de agosto e 8 de novembro. Uma das maiores — a Procissão da Cidade — aconteceu a 18 de setembro. Quanto, ao exercício físico, este devia ser feito apenas moderadamente porque, além de aquecer “os humores” — que, segundo a medicina antiga, eram a causa de muitos problemas de saúde — , fazia com que as pessoas cheirassem mal e isso só contribuía para a disseminação da doença.
Cebolas assadas, azeite de açucenas e galos depenados com sal moído para curar os “bubões”
Se apesar de toda as precauções a doença se instalasse, os médicos sevilhanos indicavam que se começasse logo a realizar sangrias (que, em moderação, também podiam evitar o contágio) nos lugares dos inchaços para ajudar a “tirar o veneno”, “grosseiro e sanguíneo”. Mas só enquanto o doente tivesse forças porque, caso contrário, a morte seria mais rápida. Os purgantes de rosas, violetas em conserva ou polpa de tamarindos, também eram recomendados, assim como o uso de sanguessugas. O objetivo de qualquer um destes tratamentos era extrair o mal que existia no corpo.
“Para atrair o veneno”, podiam ser colocados de duas em duas horas sobre os bubões, os inchaços provocados pela doença, uma cebola assada “com a teríaca” (uma mistura de vários ingredientes que se julgava eficaz contra esta e outras doenças) e azeite de açucenas. Se o doente tivesse muitas dores, a cebola devia estar bem assada, “porque quanto mais se assar, mais mitiga a dor, e sempre tem virtude atrativa [para o veneno]”. Em alternativa à cebola, podia usar-se um galo depenado vivo e polvilhado com sal moído.
Estes emplastros de galo permaneciam com os doentes depois da sua morte e tornavam-se um alvo fácil para cães e gatos vadios, que invadiam as casas que tinham sido atacadas pela doença (um estudo de Teresa Rodrigues refere que havia cerca de 75% de hipóteses de se morrer de peste num prazo de nove dias após o primeiro caso registado numa casa).
As pulgas que apanhavam e que passavam a doença eram depois transmitidas aos indivíduos saudáveis, num círculo vicioso de transmissão a que poucos conseguiam escapar. Considerados um perigo para a saúde pública, os animais foram executados por ordem dos médicos da cidade, que ofereciam um determinado valor aos matadores em troca das suas cabeças.
Os conselhos de Tomás Álvares e Garcia de Salzedo Coronel pouco ou nenhum efeito terão tipo na “Peste Grande” de Lisboa. Quando os dois médicos chegaram à cidade, a epidemia tinha atingindo o seu auge, começando a declinar no mês seguinte. Em outubro e novembro, o número de mortes foi já muito inferior. Pelo Natal, Lisboa estava praticamente livre da epidemia, mas só meses depois é que foi dada como extinta. As portas da cidade permaneceram fechadas durante os meses seguintes, só sendo abertas quando estritamente necessário e sob a apertada vigilância dos guardas que deviam impedir a entrada de novos doentes.
É difícil dizer ao certo quantas pessoas morreram entre abril de 1569 e julho de 1570, quando o rei regressou aos arredores de Lisboa e as portas da cidade foram reabertas. O número de mortes era tão elevado que, a dada altura, os párocos das diferentes freguesias deixaram de as conseguir contar. O que existe é uma estimativa que tem por base registos contemporâneos e informações posteriores, que aponta que entre 40 a 50 mil lisboetas terão morrido.
A “Grande Peste” de Lisboa foi a maior epidemia de peste das três que assolaram Portugal na segunda metade do século XVI (1569-1570, 1579-1580 e 1598-1603). As suas consequências a fizeram-se sentir nos anos seguintes, mas os lisboetas souberam ultrapassar as dificuldades. A seu tempo, Lisboa voltou a ser o que era.