É o retrato da vida política de uma das mais importantes figuras do Portugal democrático. António Barreto. Política e Pensamento divide-se entre o exercício ativo, com funções governativas, e uma influente reflexão que o sociólogo tem feito ao longo de décadas. António Barreto nasceu no Porto em 1942. Foi militante do PCP e do PS, apoiou a Aliança Democrática, o Movimento dos Reformadores e a eleição de Mário Soares a Presidente da República. Com pouco mais de 30 anos era um dos ministros do I Governo Constitucional, tomando conta das pastas do Comércio e Turismo e da Agricultura e Pescas. Foi responsável pela devolução de terras da Reforma Agrária. Fez tudo para evitar que houvesse sangue no Alentejo: “A minha obsessão era não matar pessoas.” Em 1991, afastou-se da vida política ativa.
Neste novo livro, a historiadora Maria de Fátima Bonifácio escreve sobre a vida de António Barreto, seguindo os relatos do próprio. Com memórias e revelações, mas também com análises sobre o presente e o futuro. Está à venda a 31 de maio e é apresentado a 9 de junho no El Corte Inglês, pelo historiador Rui Ramos (administrador e colunista do Observador).
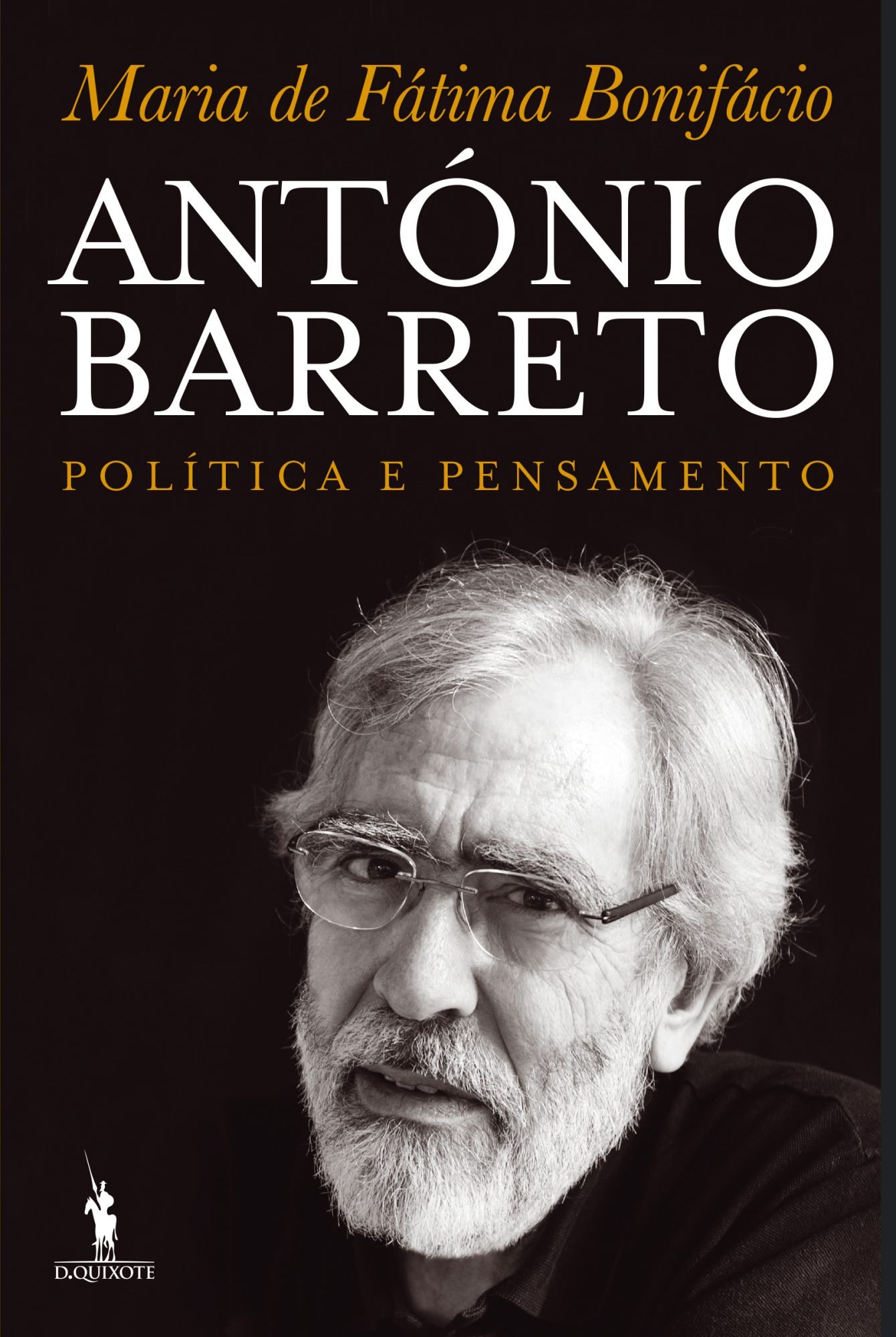
“António Barreto: Política e Pensamento”, de Maria de Fátima Bonifácio (Ed: Dom Quixote)
António Barreto, Mário Soares e o Partido Socialista
Ao entrar o ano de 1980, António Barreto nem estava no PS nem estava no Parlamento. Na altura não saberia, mas na realidade a sua carreira política militante, com peso e influência próprios, pensada e traçada como percurso para chegar ao poder, à chefia de um governo seu, terminara. Em 1985, a passagem pelo MASP I, a que voltarei, foi importante para a eleição de Mário Soares como Presidente da República em Março de 1986, mas para Barreto não passou de um episódio sem consequências de longo ou sequer médio prazo.
As relações entre os dois homens, mal-grado a boa colaboração inicial, foram rapidamente ensombradas durante o tempo em que Barreto ocupou a pasta da Agricultura e presidiu à Reforma Agrária, em 1976-78, sendo Soares primeiro-ministro; aliás, quando Barreto abandonou o governo, os dois já não se falavam. Na origem da fricção entre as duas personalidades entrariam tanto um choque latente de ambições como até razões de ordem emotiva ou temperamental sobre as quais não é útil alongar-me, pois não iria além de meras especulações incomprováveis. Mas disponho de factos palpáveis e mais esclarecedores: o diferente relacionamento de um e outro com o general Ramalho Eanes. Sublinhe-se que Barreto nunca teve com Eanes qualquer espécie de entendimento ou combinação política que beliscasse, sequer remotamente, a fidelidade ao presidente do PS. “Nunca falei com ele sobre a demissão do governo de Soares, sobre a nomeação de um novo governo ou sobre a criação de um novo partido! Nunca fui sequer membro das suas comissões de candidatura presidencial.” O chefe partidário Mário Soares “abominava Eanes”, e Eanes, com a sua “parte mais puritana”, não apreciava o “Soares plebeu”, que “comprava, vendia ou traficava influências” e além disso feria “a parte mais insegura [do general], socialmente, politicamente, intelectualmente”. Seis meses após o início do governo já a crispação entre o PR e Soares “era enorme”, “estavam tensíssimos”.
Mas o ministro encarregado da Reforma Agrária, António Barreto, precisava do apoio e cooperação do general-Presidente, tendo chegado a propor num jornal a já referida “aliança PS-Eanes”, que deixou Soares em estado de fúria convulsiva. Mais exactamente, Barreto propôs uma “aliança institucional” e “não política”, que com razão ninguém na altura percebeu o que era. À distância de quase 40 anos, Barreto concede que a ideia “talvez fosse esquisita”, que a palavra “aliança” talvez fosse demasiado forte. Aliás, logo no momento seguinte deu-se conta de que “aquilo não caiu bem a ninguém”, nem de um lado nem do outro. Pretendera “fazer uma metáfora que foi obviamente mal compreendida por toda a gente”, mas afirma que “pode explicá-la no seu contexto mental” de então.
O I Governo Constitucional dos socialistas, sem maioria absoluta, “cheirava a fragilidade, aquilo não podia ir muito longe”, fazendo-lhe lembrar a experiência malograda de Salvador Allende nos princípios de 1970, que pretendia fazer uma revolução “profundíssima” no Chile apenas apoiado numa coligação de oito partidos que não arrecadara mais do que 35% dos votos. Deu no que deu: uma tragédia. Barreto achava que os socialistas tinham de restaurar um módico de ordem no País e, para tanto, era “absolutamente essencial travar o PC”, que continuava a comportar-se despudoradamente como um partido vencedor. Além disso, era também imperioso “criar um embrião de Estado democrático”, tratar das instituições, levar o Parlamento a trabalhar e legislar regularmente. Ao mesmo tempo, “e muito depressa”, era preciso “começar a fazer um acordo de coligação para o governo”, e o parceiro a escolher, segundo Barreto, devia ser o PSD.
Cabe perguntar, então, a que propósito vinha no meio disto tudo a abstrusa “aliança institucional” com o Presidente da República.
O general Ramalho Eanes, Presidente da República, era o Comandante em Chefe das Forças Armadas e presidia ao Conselho da Revolução. António Barreto, ministro da Agricultura incumbido da Reforma Agrária, precisava das Forças Armadas, e o general Eanes era a pessoa que podia garantir a sua disciplina e obediência. Não porque Barreto quisesse sangue no Alentejo, mas precisamente para o evitar: “A minha obsessão era não matar pessoas.” O ministro queria mandar a GNR para o Alentejo, mas para isso necessitava de garantias por parte do Presidente, com quem Soares o autorizou a falar directamente. A nova Lei da Reforma Agrária estava em vias de ser concluída, mas acontece que nem a lei existente, que previa a entrega de determinadas reservas, tinha sido aplicada por Oliveira Baptista ou por Lopes Cardoso, que “nunca entregaram nada”. No quadro da legalidade vigente que encontrou, Barreto planeara começar por restituir de imediato as primeiras dez ou doze reservas que cumpriam os critérios prescritos para devolução obrigatória. Os proprietários, porém e compreensivelmente, exigiam segurança contra agressões físicas e subsequentes invasões das suas terras pelos anteriores ocupantes ilegais. Além dos proprietários, havia milhares de rendeiros, seareiros e pequenos agricultores que queriam trabalhar mas eram intimidados em permanência e nem sequer conseguiam recrutar um ou dois trabalhadores. Também muitos assalariados viviam sob terror só por trabalhar (ou querer trabalhar) nas terras de privados.
Nestas circunstâncias, as Forças Armadas, antes de tudo, teriam de ir em “missão de soberania” ao Alentejo, dirigidas para sítios determinados, a fim de mostrar aos autóctones que ali mandava o governo. Eanes deu a sua palavra. No dia seguinte, Barreto reuniu-se com ele e os chefes militares, incluindo o comandante geral da GNR, general Passos Esmeriz. Finalmente houve também reuniões com Jaime Neves, já promovido a coronel e nomeado comandante do regimento de comandos.

▲ António Barreto, ministro da Agricultura, e Mário Soares, primeiro-ministro, no I Governo Constitucional (1976-78)
António Aguiar
Barreto explicou aos militares o que deles pretendia. Pretendia proceder às entregas de reservas sem que houvesse tiros e mortes. “No dia em que se matasse alguém à minha ordem, eu ia alterar tudo na política, mudava tudo.” Para que tal não acontecesse, determinou-se que o número de soldados mobilizados para a operação fosse de 200 elementos, em vez dos 30 convencionalmente necessários; decidiu-se levar jipes e carros blindados com metralhadoras montadas em cima. Mas com um ‘pormenor’ decisivo: “ninguém levava fogo real, só balas de madeira ou de borracha”. O objectivo era exibir um aparato bélico capaz de intimidar e demover os trabalhadores de qualquer veleidade de resistência física. Mais exactamente: “Exibir o «aparato fascista» cuja desmontagem o PC reclamava.” E assim foi que cem comandos de Jaime Neves “pousaram no Alentejo e desentorpeceram os pés”. A notícia da presença dos comandos correu célere, espalhando o susto e o medo desejados.
Quinze dias mais tarde, António Barreto dá ordem para desocupar e entregar a primeira reserva, um acontecimento que a RTP se apressou a filmar. Acorreram “hordas de trabalhadores das UCPs”, ao mesmo tempo que chegavam várias dezenas de GNRs com blindados e metralhadoras. “Parecia uma guerra, a preparação para uma batalha em campo aberto.” Durante vários dias ninguém se mexeu; ao terceiro dia, o proprietário da Herdade Lobata iniciou os trabalhos na sua reserva; ao fim de dez dias os trabalhadores debandaram. “Não houve um tiro.” E também ninguém soube que as balas não eram verdadeiras. A partir daí, o ministro mandou entregar mais 15 ou 20 reservas. Apenas em Estremoz houve uma escaramuça, com balas de madeira… Foi um sucesso. Depois que António Barreto abandonou o Ministério, os novos governantes entenderam reduzir as forças de segurança a dez polícias armados com balas reais. Logo na primeira devolução morreram dois trabalhadores. Seguiram, erradamente, uma lógica inversa: “Quando se envia pouca polícia, a polícia arma-se; armada, fica ansiosa; estando ansiosa, mata.”
“Este é um caso em que, sem a colaboração entre o Presidente da República, chefe das Forças Armadas, e o governo, este não tinha condições de efectividade.” Era este o sentido da peculiar “aliança institucional” defendida por Barreto. Mas entre aliança institucional e aliança política o distinguo é problemático. “Estou de acordo.” E Barreto vai mais longe: “Eu aceito que se diga que a «aliança institucional» autorizava o Soares a dizer – «mas V. quer fazer uma aliança com o Eanes contra mim.» Aceito. Só não seria contra ele se ele também estivesse de acordo! Se estivéssemos os dois no tango…”
[…]
Mas, para além da Intersindical e do soviete alentejano, o PC tinha ainda deputados, votos no Parlamento. Mário Soares presidia a um governo desprovido de maioria absoluta. O Partido Socialista era de esquerda e tinha de ser levado a sério como tal; era socialista, não era social-democrata. Uma parte não despicienda da sua legitimidade ainda dependia (e depende) desta demarcação dentro do leque partidário. Depois, ao PS não convinha a proximidade com o PSD, seu concorrente directo com que não devia confundir-se, não apenas para impedir uma possível fuga de votos, mas também para não ser apodado de moderado ou reaccionário, que à época eram sinónimos. Portanto, convinha a Soares captar as boas graças do ‘Partido’: deste modo se chegava para a esquerda, comprovando a sua identidade socialista, e por outro lado talvez o PC lhe tornasse a vida no Parlamento mais fácil, deixando passar o Orçamento, o Plano e outra legislação avulsa. Em resumo: Soares precisava, ou podia precisar, do PC para a viabilização do seu governo de minoria. E o que poderia dar em troca? Uns quantos hectares no Alentejo, o abrandamento ou até paragem das devoluções, a facilitação do Crédito Agrícola de Emergência… e alguma coisa mais que se desencantasse. Para Barreto, isto era o mesmo que entregar o ouro ao bandido.
Um intelectual na política
Após o abandono definitivo da política militante, a partir de 1991, aos 49 anos, ocorre interrogar se as outras actividades a que António Barreto passou a dedicar mais tempo e intensa energia não teriam um carácter de Ersatz para uma carreira que ele considera, apesar de todos os aspectos meritórios, não ter sido inteiramente bem-sucedida. Colocada a pergunta nestes termos, a resposta é negativa. Mas “há algo de frustrante a que se chega na minha idade [70 anos], quando se começa a fazer balanço, e que está relacionado com isso. Para além dos meus próprios erros na política”. Um destes erros nasce do que se poderia chamar uma ‘deformação do intelectual’. Uma característica particularmente marcante no paradigma francês do intelectual como um maître à penser, de Raymond Aron a Jean-Paul Sartre, passando até pelo caso especial de Albert Camus. É claro que estou também a pensar na «ética da convicção» conceptualizada por Max Weber como diferenciada, senão oposta, à «ética da responsabilidade». Em termos grosseiros, de um lado estaria o ‘idealismo’, do outro o ‘pragmatismo’. Mas o que pretendo exprimir não se esgota nesta dicotomia e até só muito indirectamente se relaciona com ela: Barreto demonstrou sobejamente que é realista e não lhe falta pragmatismo. Mas é um intelectual, e foi enquanto intelectual que se tornou político, sem deixar de ser intelectual. Nele, o intelectual e o político nasceram geminados, e assim permaneceram. A acção política terá sido um prolongamento ou actualização do desejo próprio do intellectuel engagé de intervir no mundo, que para isso tanto pode agir cingindo-se a escrever, como pode fazê-lo agindo na vida real em interacção directa e prática com outros homens (ou ainda combinando ambas as coisas). Por outras palavras, optando por mergulhar na polis – e aceitando as suas regras, muito diversas das que regem o universo das ideias, em que dominam a reflexão, a lógica, a sensibilidade, o desinteresse, a independência e um paradoxo próprio do que eu chamaria uma ‘paixão racional’.

Natacha Cardoso / Global Imagens
A ‘geminação’ que referi gerou impulsos contraditórios e alternados no intelectual-político António Barreto, ora atraído pela “reflexão”, ora rendido à “acção”. A não-resolução do conflito entre estes dois pólos, a incapacidade de os harmonizar ou conjugar complementarmente e com equilíbrio entre si, determinou, tudo somado, uma maneira desacertada de estar na política, em que a pertinência das ideias e a beleza do ideal, aliadas a uma ‘obsessão’ com a independência pessoal, fizeram esquecer as regras, armas e métodos necessários para enfrentar um meio especialmente talhado para o império das emoções e das variadas paixões, de sórdidas a sublimes, enraizadas na natureza humana. É indispensável contar com elas, prevê-las e enfrentá-las, se necessário com as mesmas armas e métodos, que quase nunca são bonitos. A política é um combate violento pelo poder, não é uma comparação plácida de ideias. António Barreto foi sempre mais um intelectual na política do que um político intelectual. Houve ‘momentos’ em que esta ordem dos factores se inverteu, mas foram episódicos. Tudo somado e subtraído, prevaleceu o intelectual, confiante no acerto das suas ideias, na coerência do seu projecto, na rectidão das suas intenções, na inteligência das suas análises, na bondade do seu ideal e no seu mérito pessoal. Não por acaso, os seus sucessos na política coincidem com os ‘momentos’ episódicos.
Os dois pólos da vida de António Barreto são, como disse, “o da acção e o da reflexão”. Dois pólos que concorrem e conflituam entre si, que o dividem e desassossegam. Só “aparentemente vivo em paz, eu não vivo em paz cá dentro”. Desde sempre foi alguém muito voltado para a acção. Recorde-se que a possibilidade ou oportunidade de agir, na juventude coimbrã, era o seu principal critério de escolha político-partidária; a escassez ou até ausência de oferta levou-o a ‘entregar-se’ ao PC. E já antes, na adolescência vila-realense, se manifestara com vigor a sua irresistível atracção pelo movimento, pela mudança, pelo risco, pela aventura. Desde cedo que a ideia de Revolução o fascinou. Entretanto, com os anos e a experiência, passou-lhe essa sedução fantasista, mas não a urgência de agir para, quanto possível, intervir e moldar o pequeno mundo ao seu alcance – o seu país. Porém, a este impulso não raro se sobrepunha o de se recolher para pensar. Estava na Universidade, onde coordenava uma série de projectos de investigação cujo primeiro resultado, A Situação Social em Portugal, à época um gigantesco manancial de estatísticas desconhecidas, foi um absoluto sucesso editorial. Tinha jornais, revistas, livros, papel e caneta (ou computador). Para além de uma vasta biblioteca, possuía uma quantidade invulgar de obras e dicionários de referência. Este valioso activo não deu bom resultado. “A minha pulsão maior era a acção. […] Mas quando estava mal na acção, achava que precisava de ir para casa ler livros. […] sabia que podia dizer «não» quando me apetecesse porque tinha o outro lado. Disse não ao Soares, disse não ao Constâncio, disse não ao Sampaio, disse não ao Guterres. [E também acabara por fazer o mesmo com Sá Carneiro, Mota Pinto e Pinto Balsemão.] Disse que não a todos porque eu tinha a minha vida ao lado, podia ir para outro sítio.” Em resultado desta espécie de vaivém, prejudicou a acção e prejudicou a reflexão. De acordo com o seu próprio balanço, nem agiu nem reflectiu (ou escreveu) o suficiente. “Esta tensão entre a falta de acção e a falta de reflexão, uma e outra enganaram-se mutuamente.” Menos e menos não deram mais.
Durante o processo de abandono voluntário da política, plenamente amadurecido durante mais um Verão em Oxford, António Barreto, como era de esperar, já percebera muito bem o seu “gravíssimo erro”. Na vida política, “é mais importante tratar com pessoas do que com ideias abstractas”, por brilhantes que sejam. (Será o que explica o sucesso de tantas nulidades… o que de modo algum significa que por regra sejam estas as que vencem.) “A política é tratar com pessoas, é ter ligações, alianças, compromissos, afrontamentos; a vida política não é ter ideias, isso é para outra coisa, para outra profissão. […] o instrumento principal são relações humanas, com pessoas, com grupos, com lobbies, com empresas, com sindicatos, e eu não percebi isso. Houve uma altura na minha vida em que a verdade, a clareza e a limpidez [me] bastavam. Isto é um erro brutal – não perceber que a política é um sistema de relações humanas e sociais e de poder […]. A função de um político é acumular poder, o que muitas vezes é acumular pessoas. Ter apoiantes, ter partidos, ter grupos, ter gente que trabalha para nós. Liderar não é ter ideias melhores do que os outros. Liderar é dar ideias a quem as segue, é comandar, comandar as nossas pessoas, para poder mandar no resto.”
Barreto, intelectual e individualista, viciado em independência e liberdade, julgava que poderia dispensar um séquito, abster-se de combinações e de se envolver em camaradagens maçadoras. “Eu não falava com pessoas, não fazia reuniões, não ia discutir, não ia fazer arranjinhos nem intrigalhadas – [e isto] é a essência.” Portanto, Barreto não se dava ao trabalho de fazer o essencial, não por petulância, indolência ou arrogância, mas porque simplesmente não se dera conta do que era o essencial. Os intelectuais dificilmente percebem ou aceitam a futilidade, e menos a reconhecem como um ingrediente absolutamente indispensável à sobrevivência humana e da própria sociedade. “Levei muito tempo a perceber que a política é um sistema de relações humanas, de relações de grupo, de relações de força.” Um sistema que está nas antípodas do mundo solitário e silencioso de quem se dedica às ideias, livre de intrusos, livre de ‘ruído’. Ora a política é uma barulheira infernal e permanente.
Fim das ‘grandes ideologias’?
António Barreto faz questão em se afirmar um homem de esquerda. Que esquerda é essa a que ele pertence? A pergunta suscita de imediato o imenso tema da globalização, com que só aparentemente não está relacionada.
“A globalização é inelutável.” Desde logo, só poderia ser travada se houvesse real vontade por parte dos grandes poderes do mundo, e tudo indica que não há. A América tem vontade? A China tem vontade? A Índia tem vontade? A Rússia tem vontade? Não. Mas admita-se que sim. “Então haveria um enorme terramoto mundial e nós voltaríamos aos Dark Ages; então o mundo desfaz-se e acaba a globalização e com ela acaba muita coisa: dois terços da população do mundo morrerão de fome.” A esquerda tem portanto de ser capaz de conviver com a globalização, de existir na globalização. “Ora, há mil maneiras de a globalização avançar. Ela é inelutável na sua pujança inicial, na sua força central, mas há muitas maneiras como as coisas podem acontecer. Basta olhar para a América e para a China. Ambas são igualmente consumistas, produzem e consomem as mesmas coisas, têm os mesmos dinheiros, estão ambas imersas na globalização, mas há dois sistemas, dois regimes de vida completamente diferentes. O modo como a globalização prosseguirá depende do país, da situação geográfica, do regime, do continente, da cultura, das igrejas, dos indivíduos.” A globalização não implica nem significa a homogeneização das sociedades e da Humanidade. Não significa homogeneização, mas implica “uniformização de alguns procedimentos, quer dizer, o iPhone faz-se na América e na China, as malas Prada fazem-se nos dois sítios, os relógios Cartier fazem-se nos dois sítios, mas isso não quer dizer que as sociedades possam ou passem a ser iguais.” Nem os sistemas políticos.
A esquerda precisa de inteligência e de imaginação para se libertar de modelos de referência que pertencem a um outro mundo, que já não existe, nem é passível de restauração. O comunismo começou por ser internacionalista. Este traço da sua tenra infância foi logo enjeitado ante as exigências da realidade, e foi adoptado como bandeira ideológica do trotskismo, que nunca teve oportunidade de exercer o poder. O comunismo, ao contrário da previsão de Marx, vingou num só país, no mais inesperado de todos, a Rússia imperial e feudal. Moscovo ergueu-se como cabeça de um império soviético que conferia coerência e destino a um conjunto de Estados nacionais seus vassalos; essa vassalagem era virtuosa, garantia a segurança e permitia partilhar o esplendor imperialista da Pátria dos Trabalhadores. A União Soviética acabou em 1989. Sobrevivendo em Portugal, abrigado do transitório desconchavo do Mundo, o PCP tornou-se ferozmente nacionalista, ou, mais exactamente, «soberanista», numa surpreendente comunhão com a extrema-direita europeia. Porém, o «soberanismo» do PCP nada tem a ver com o nacionalismo ou o patriotismo ‘burguês’, um perigoso gerador de egoísmos nacionalistas e ditaduras fascistas. Constitui apenas e tão-só um recurso para a travessia de um compasso de espera histórico, uma muleta para aguardar pelo recomeço da História em direcção ao seu fim último e inexorável, o advento e triunfo universal do Comunismo. O PCP persiste no seu sonho milenarista, o sonho dos pobres por excelência.
“Ora bem, a esquerda poderia ser, ou deveria ser, no mundo, nomeadamente na Europa, a força de contenção e de correcção da globalização, das consequências negativas da globalização. E nunca tenho a impressão de que a esquerda queira fazer isso.” De facto, o que a esquerda mostra querer é acabar com a globalização, como quem quer acabar com a chuva e o mau tempo. A esquerda ‘de António Barreto’ teria um enorme campo de intervenção no contexto do mundo globalizado. “Todo o universo das relações de trabalho, do sindicalismo, das liberdades locais, da descentralização autárquica… Se se levasse a sério [e à prática] uma legislação ultraliberal própria da globalização, em pouco tempo se destruiria a paz social, a paz do trabalho, e os salários cairiam cada vez mais para baixo, cada vez mais… acabar-se-iam as veleidades, as pensões mínimas, os salários mínimos… Eu não tenho dúvidas de que o capitalismo, deixado a si próprio, poderia ir por essas vias todas, e não estou a ser particularmente esquerdista.” A social-democracia pode ser um agente de correcção, um obstáculo a excessos desumanos e perigosos, “mas não tenho a certeza de que a esquerda o queira fazer. É muito frequente ver que os social-democratas e os socialistas querem substituir-se à direita no exercício do poder político para fazer as mesmas coisas, ou quase as mesmas coisas”.

▲ Tony Blair em 1997
BBC News & Current Affairs via Getty Images
Aconteceu, por exemplo, com Tony Blair (1997-2007) e com Gerhard Schröder (1998-2004). Mas terão, de facto, feito exactamente as mesmas coisas que os seus antecessores, John Major e Helmut Kohl? Muitos britânicos e muitos alemães acham que não. Porém, em ambos os casos, ao que em essência assistimos foi a um aggiornamento do Trabalhismo britânico e da Social-Democracia alemã, que transformou estas forças em partidos credíveis de governo e de poder num contexto em que a globalização já estava desencadeada. Num caso como noutro, porém, o Estado Social não foi prejudicado. Em Inglaterra, particularmente, foram eliminados ou moderados os abusos generalizadamente reconhecidos, fonte de relaxamento da responsabilidade individual e origem de incomportável desperdício financeiro. Mais perto de nós, ainda é demasiado cedo para avaliar o que farão Manuel Valls em França ou Matteo Renzi em Itália. Para já e superficialmente, afiguram-se gestores eficazes do capitalismo… A um ‘espectador des-comprometido’, parece hoje em dia certo que a sustentabilidade política e eleitoral da social-democracia está dependente do crescimento económico, o que, a continuar a tendência estagnante das economias europeias, não augura grande futuro. Aliás, o esboço de polarização entre extremos políticos e a previsível rarefacção do Centro reflecte já, porventura, isto mesmo: a infertilidade das grandes ‘visões’ e grandes ‘projectos’ tradicionais num Velho Continente em que a desagregação do antigo sistema de classes abriu caminho a um novo ‘proletariado’ aburguesado, desabituado da pobreza e sedento de destino.
“Considero que as doutrinas não acabaram, nem as ideologias. A minha definição de ideologia é muito clássica e talvez muito conservadora. Ligo muito a ideologia a uma visão do mundo organizado e coerente, de grandes grupos sociais, nomeadamente de classes sociais, mas não necessariamente só isso; também uma visão auto-centrada, isto é, a minha visão dos outros é feita em nome dos meus próprios interesses.” Tal como a vê António Barreto, a ideologia será então qualquer coisa como a transposição da lógica egocêntrica, individual, para o domínio dos grupos ou classes sociais. O traço específico da ideologia, que a distingue de sistemas de pensamento doutrinários per se, seria então esse elemento ‘interesseiro’, não necessariamente em sentido pejorativo mas, pelo contrário, no sentido em que uma ideologia exprime um conjunto de aspirações com que indivíduos ou grupos ou classes se identificam muito legitimamente. Neste sentido, as ideologias têm sempre algo de ‘projectivo’ – um objectivo a conquistar. Na Tradição Marxista, as ideologias estão basicamente ancoradas numa determinada realidade de classe social, e o tal elemento ‘interesseiro’ constitutivo da ideologia é mais do que transparente, é assumido e explícito. (Questão bem diferente, mas que não vem aqui para o caso, é a pretensão marxista de superar a ideologia mediante um pensamento cientificamente certificado, isto é, substituindo-a por uma Teoria da Sociedade e da História acreditada pela Ciência.)
“Tenho dúvidas de que voltemos jamais a fenómenos de ideologia neste sentido, compacto, de grandes classes sociais, porque as «classes médias» deram cabo disto tudo, as classes médias deram cabo da antiga estrutura de classes.” Ainda mesmo no tempo da “antiga estrutura de classes”, no mundo pós-primeira revolução industrial que se prolongou até meados do século XX, ninguém conseguiu produzir um conceito satisfatório de «classe social», que atendesse em simultâneo à situação de classe objectiva, normalmente definida pela profissão ou emprego; ao «estatuto» social, que por mil e um meios pode não coincidir com aquela; com os rendimentos e o poder de compra efectivos, que nem sempre se limitam a salários ou honorários; ao estilo de vida, ao grau de cultura e ao ‘gosto’, e a várias outras dimensões do modo de existir individual e de grupo. É no entanto verdade que, a traço não demasiado grosso, há 50 anos ainda existia um proletariado fabril bem perceptível, já distinto do Lumpenproletariat do século XIX, mas que não se confundia com o estrato inferior da classe média em formação e já desligada do trabalho manual. Também nesse tempo era perceptível, em Portugal, uma ‘grande burguesia’ na qual se amalgamavam a alta finança, o grande comércio, a grande indústria e a grande propriedade rural. Amalgamavam-se, não se diferenciavam enquanto classes sociais bem demarcadas entre si, como tendia a acontecer nos países mais desenvolvidos, devido à elevada concentração social e geográfica do poder económico que se verificava entre nós. A utilização da exclusiva aparelhagem conceptual marxista conduziu a uma caricatura sociológica da sociedade portuguesa sob o Estado Novo: as tais “200 famílias” contrapostas ao universo dos miseráveis explorados e oprimidos. Hoje em dia, o mesmo procedimento conduziria não apenas a uma caricatura, como deixaria inevitavelmente de fora uma grande parte da realidade social por falta de conceitos adequados ao seu tratamento analítico e descritivo. As actuais “classes médias” portuguesas constituem um vasto universo heterogéneo dominado pelo desejo de segurança e consumismo, mas constituído por múltiplas identidades sociais irredutíveis, difíceis ou impossíveis de abarcar por um sistema conceptual herdado do século XIX.
“Há porém sistemas doutrinários não originados especificamente em grupos ou em classes. Há-os que misturam nação, região, sectores de actividade, religião, cimentados por culturas e valores filosóficos. Não estou a prever nada de inédito ou original se disser que vamos assistir ao desenvolvimento, à consolidação de sistemas de pensamento, ou melhor, de organizações doutrinárias e de pensamentos próximas do que se chama ideologias. Por exemplo o mundo islâmico. Pensa-se que é uma coisa compacta, mas o mundo islâmico está actualmente mais em guerra consigo próprio do que connosco. Os xiitas e os sunitas odeiam-se de morte e matam-se uns aos outros… os ismaelitas estão no meio; os da Arábia Saudita, wahabitas, são uma família à parte e estão a matá-los mesmo. Actualmente os sauditas mandam vários esquadrões de F16 e F27 bombardear sunitas e xiitas.” António Barreto vê nestas guerras civis, nestas guerras sectárias entre crentes do mesmo Livro, “sinais evidentes de que há grupos doutrinários, corpos doutrinários que estão a surgir, que se estão a enriquecer”.
Mas serão estes supostos “corpos doutrinários” ideologias? Ideologias sectárias nascidas da inexistência de um único intérprete autorizado do Livro (Alcorão), dogmaticamente infalível? Segundo Ziauddin Sardar, o Estado Islâmico (tal como a Al-Qaeda) tem origem na Arábia Saudita, onde surgiu o que Sardar considera a «ideologia wahabita», uma interpretação literal e em muitos casos literalmente falsa do Alcorão, ao qual se adicionou a suposta divindade da sharia, o que não consta do Livro e é «totalmente ridículo». Ora esta ideologia carece em absoluto de uma base social de classe ou de nacionalidade – recruta adeptos em todas as classes sociais e em várias nacionalidades e até continentes. A base de classe era até ao fim do século XX considerada um requisito de qualquer ‘grande ideologia’. Mais: a difusão geográfica do «wahabismo» operou-se a partir de 1920-25 mediante a multiplicação de mesquitas e madraças pelo mundo, uma estratégia de proselitismo intenso e agressivo financiada pelas «petromonarquias» do Golfo (que aliás financiam actualmente o EI na guerra selvática que este move contra sunitas e xiitas).

▲ O autor paquistanês Ziauddin Sardar
Getty Images
Trata-se de uma ideologia religiosa totalitária, a que não falta um projecto de vida individual e colectivo, social e político organizado em torno de um normativo moral extraído de uma leitura fundamentalista do Alcorão. Em termos laicos diríamos que tal ideologia aspira à absoluta integração espiritual da sociedade, um contexto em que o conceito de «classe» perde relevância ou simples utilidade analítica uma vez que, repescando aqui a revisão althusseriana do marxismo, a instância dominante deixa de ser a económica, que cede a primazia à jurídico-religiosa. Serão deste tipo as ‘grandes ideologias’ do futuro? Para já, parece fazer todo o sentido que António Barreto as procure e entreveja para os lados do mundo islâmico. Mas não parece plausível admitir que venham a prazo a derrubar a muralha do laicismo que protege o pensamento ocidental.
Pondo de parte as armas de arremesso político, não poderemos considerar o neoliberalismo – que em sentido estrito designa um sistema económico – a primeira ideologia, no sentido clássico acima definido, originada numa base sociológica plural, geograficamente dispersa e culturalmente heterogénea? Não estaremos, neste caso, perante a ideologia da globalização por excelência, na medida em que convém (interessa) a uma multiplicidade irredutível de indivíduos, grupos, classes, regiões, continentes e Estados que dela beneficiam? Neoliberalismo não designaria então apenas um determinado regime ou sistema económico, mas também uma filosofia política liberal aggiornada, que, por um lado, recupera com veemência a primazia da liberdade individual, no pressuposto de que dependerá também dela a liberdade colectiva; e, por outro, acrescenta ao liberalismo clássico do século XIX uma componente nova, ‘libertária’, que lhe permite integrar a extrema diversidade cultural e identitária no mundo globalizado. Que lhe permite, inclusive, acolher um individualismo radicalmente antinormativo, que preside a muitos estilos de vida actuais e impera sobretudo nos meios artísticos contemporâneos. Todos os dias nos cruzamos na rua com este desejo de ‘individuação’, manifesto na proliferação de tatuagens e piercings destinados a diferenciar o próprio corpo de cada um como modo de afirmação da identidade pessoal e única.
Enquanto ideologia liberal actualizada, o neoliberalismo fala ao Ocidente; enquanto regime económico, dirige-se ao mundo inteiro.
Serão ‘assim’ as grandes ideologias do futuro, no que parece uma réplica do ‘estilhaçamento’ da realidade operado pelo pós-modernismo? Há já muitos anos, as vanguardas artísticas habituaram-nos a ‘telas’ em que algumas pinceladas de tinta se misturam com pedaços de vidro, de cascalho, de metal, de alcatrão, de pano… possivelmente como expressão da heterogeneidade radical, irredutível, matricial da existência humana num mundo (ocidental) fragmentado por muitas, diversas ou até contraditórias reivindicações identitárias. No campo social, não parece que este continue a ser primordialmente seccionado segundo fronteiras de classe, o que se reflecte de forma transparente na supressão pura e simples das principais categorias analíticas marxistas no discurso da nova extrema-esquerda europeia, que vive precisamente da utilização do populismo como instrumento de superação de clivagens sociais, subalternizadas pelo confronto de ‘todos’ contra ‘um’ – a multidão, o povo, contra a oligarquia, a casta. Em suma, uma visão nada marxista mas muito schmittiana da política.
O que sobra da esquerda e para onde vai a esquerda? “Da esquerda sobram algumas tradições, sobram alguns valores, que eu acho que vão persistir por si próprios ou misturados com outras doutrinas ou outros pensamentos. Sobra o primado do político, outro valor muito forte da esquerda, primado do político sobre o económico ou sobre o religioso também. Não digo que é um valor exclusivo da esquerda, digo que é um valor que alimentou a esquerda. O valor e o papel do Estado vão sobrar, não vão desaparecer, não há liberalismo que acabe com eles nos próximos tempos. E não seria desejável que desaparecessem. A igualdade continuará a ser um valor forte da esquerda, e é também o valor mais amarrado ao Cristianismo. Quem fundou a igualdade ocidental dos últimos dois mil anos foi o Cristianismo, não foi mais ninguém.” A esquerda também continuará a pregar a “devolução e a disseminação” dos poderes, “mas isto é retórica. A via comunista [estalinista ou maoista] está na origem das mais fortes, totais e completas concentrações de poderes, com a excepção do nazismo”.
“A retórica ideológica doutrinária é muito importante, porque, mesmo quando falsa, faz funcionar as ideologias, as doutrinas e as políticas.” A retórica comunista segundo a qual tudo era feito em nome e para bem das classes trabalhadoras, “incluindo a liquidação das classes trabalhadoras”, era falsa, evidentemente. Mas era indispensável ao funcionamento do sistema e era parte integrante do sistema, porque justamente em virtude dessa retórica “é que os grandes dissidentes morriam convencidos de que eram culpados. Grande parte dos dissidentes eram fuzilados na convicção de que tinham agido contra o Estado, contra o Partido…”. A essa falsa mas eficaz retórica se deveu a tragédia de muitos Rubashovs imortalizados na obra de Arthur Koestler Darkness at Noon, em que o jornalista, ensaísta, romancista e dramaturgo, ex-militante comunista, encena os famosos «julgamentos de Moscovo» ocorridos durante a purga estalinista de 1938, que vitimou a primeira geração de dirigentes bolcheviques do tempo de Lenine.

▲ Arthur Koestler, jornalista e escritor Húngaro
Bettmann Archive
Tudo ponderado, o que António Barreto percepciona como essencial na esquerda “é a igualdade e o Estado, as duas coisas”. Barreto nunca, a este respeito, menciona a liberdade. Mas se até Herculano, nos alvores do liberalismo em Portugal, já prevenia que «quanto mais igual for uma sociedade, menos livre ela será»! “A liberdade não consta da lista do que sobra para a esquerda. E não consta por isso mesmo, porque há uma tão forte contradição entre liberdade e igualdade, e a esquerda preferirá sempre a igualdade. Dá-lhe algum valor moderadamente, em tempos de paz e sossego, moderadamente com a social-democracia e com o socialismo democrático, mas também pode ser passageiro. Quando chegar a hora da verdade para escolher entre uma e outra, a esquerda prefere a igualdade à Liberdade, não tenho dúvidas sobre isso.”















