Índice
Índice
“Há um lado deste disco que é brutalmente honesto”, ouvimo-lo dizer já a entrevista vai adiantada. Di-lo sentado num sofá, no interior de um bar-discoteca de Lisboa — Incógnito — que era seu poiso habitual em muitas noites e madrugadas, antes da Covid-19 ter decretado o fim da vida boémia.
Quem nos fala é Luís Nunes, Benjamim quando é hora de assinar os discos ou subir ao palco. O cantor e compositor prepara-se para editar mais um álbum esta sexta-feira, 25 de setembro, o terceiro na sua nova vida como escritor de canções em português.
Ao longo de uma hora e meia de conversa, acaba por falar sobre como a sua vida se mistura com as canções que está prestes a revelar neste novo disco, intitulado Vias de Extinção. Por exemplo, que as escreveu quando vivia “com um ritmo um bocado avassalador — e um bocado ressacado, há um lado de ressaca neste disco”. Ou que as letras e os ritmos dançantes que se ouvem “têm mais a ver com o facto de ter passado por uma separação e ter andado meio perdido, a viver uma vida um bocado desregrada e boémia”.
No meio de um turbilhão existencial, uma fase “até mais triste” em que por vezes “saía à noite, chegava a casa, punha os phones e escrevia” sobre o que o andava a inquietar, Benjamim sentiu a “necessidade de canalizar tudo aquilo para a música que estava a fazer”.
É pela transposição da vida para a escrita, mas também porque anda sempre “em busca de um som e de um formato novo” para as suas canções, que o ouvimos agora com a guitarra praticamente arrumada a um canto e o sintetizador e a maquinaria eletrónica na dianteira, a cantar falsetes sem vergonha, a deixar de lado a melancolia e a essência instrumental das canções (voz e guitarra ou voz e piano) para atirar as canções “para a frente” — e para a pista de dança. É por isso que as canções soam assim, a festa para cantar e dançar fora de horas. Mas é pela transposição da vida para a escrita, se calhar só por isso, que o ouvimos ser “brutalmente honesto”, num disco com “várias coisas que digo e que não tentei suavizar”, em que quis “expor defeitos e não tornar a coisa a poesia, não adornar a coisa”.
Se há dúvidas sobre a clareza das letras, oiça-se o refrão de “Urgência Central”, uma das canções maiores deste novo Vias de Extinção: “Eu de manhã vou dançar para arrancar corações”. Oiça-se o falsete de “Segunda-Feira”, “às vezes mato a emoção / às vezes penso, outras não”, ou mais à frente “inocente, inocente / eu não me lembro de estar”.
Oiça-se a letra de “Vias Extinção”, primeiro single do disco e, suspeitamos, um dos temas que faz Luís Nunes sentir que as suas canções hoje “são melhores”, que o faz acreditar que tem conseguido de álbum para álbum “um lado de desenvolvimento da canção” que chega agora mais longe:
“Tu mataste-me um bocado e eu
fiz metade da cidade.
No buraco que escavámos
passei uns dias ressacado.
Vou só espreitar do outro lado para ver
se estou perdido ou encontrado.
Em dias longos por viver
eu vou de mártir a soldado.
Amanhã vou continuar
a ver as horas a passar,
que hoje deu-me para ficar à procura
de salvação”
[“Vias de Extinção”, a canção que dá título ao novo álbum de Benjamim:]
O que sabemos é que, por Covid-19 ou outro motivo qualquer, Benjamim tem a vida que canta neste disco no passado. Ou seja: quando o disco da noite e da ressaca nos chega, a noite e a ressaca já ficaram para trás.
“Aquele mundo já pertence a outra fase da vida. Tudo o que vivi e escrevi nestas canções morreu, acabou”, diz-nos a certa altura. Mais à frente, é ainda mais claro: “Isso do ‘arrancar corações’ é uma fase perdida em que estava solteiro e em que a vida era todo um bocado uma loucura. Escolhi falar dessa fase abertamente, acho que me fez bem também. Já disse isto muitas vezes, mas para mim a verdade na música também é importante. Tive um período da minha vida em que me separei e tive o meu lost weekend, vá lá, que é um bocado este disco. E agora estou numa fase estável outra vez. Gosto da ideia de família, sou uma pessoa próxima da família. Não pretendo passar a minha vida perdido, se é essa a questão”.
Esqueça-se agora por um momento a vida pessoal e a relação da escrita com ela, clique-se no play e oiça-se Vias de Extinção: Benjamim mudou o jogo, deixou a imagem de cantautor definitivamente para trás e é agora um outro. Não se tente adivinhar o que vem depois, porque a vontade é a de fazer sempre diferente, ir à procura da canção ainda por escrever e dos ritmos de música ainda por compor. “É o grande desafio, a grande piada, aquilo que me dá pica e me motiva a fazer música”, explica-nos. Está claro.
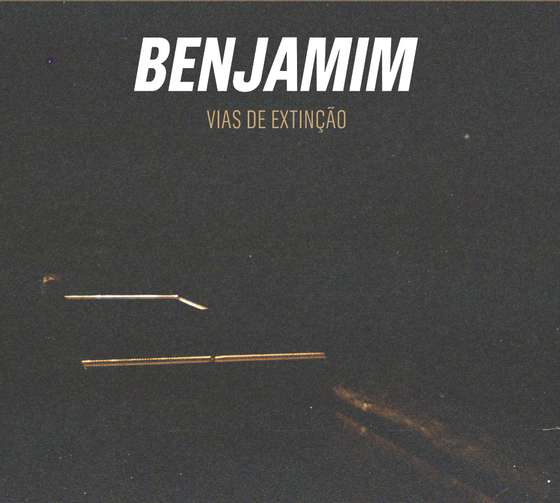
A capa do novo álbum de Benjamim, que será editado esta sexta-feira
“Há um lado de ressaca neste disco. Andei meio perdido”
Este disco tem algo do Berlengas?
É um filho desse disco perdido.
Mas pegaste nos sons que tinhas feito para esse disco?
Não, é totalmente novo. E o processo é novo. O Berlengas é um disco essencialmente instrumental, eletrónico, de uma fase em que estava muito farto do formato canção e de escrever canções e de escrever letras, de toda a ansiedade que as letras me causam. Este é aquele meio termo, que é partir de sons e ideias musicais [próximas], mas já com vontade de voltar a fazer canções.
Com um cenário eletrónico em pano de fundo.
Isso.
Quando começaste o projeto Benjamim ou até antes disso, com o alter ego Walter Benjamin, mesmo gostando muito de sintetizadores e maquinaria, quão possível ou impossível te parecia fazeres canções deste tipo? E teres um disco a começar com a tua voz como ela soa aqui logo ao início, a maneira como a usas, por exemplo no “Dava a minha escuridão para me encontrar”?
Já podia ter acontecido há algum tempo. Sempre estive ligado a vários tipos de música, até como produtor, em colaborações informais. Tenho muitas coisas no computador, coisas que vou fazendo, ideias, e muitas têm um pendor mais eletrónico ou vão para sítios menos óbvios. Acho que tem um bocadinho a ver com o tempo das coisas. Este disco não seria possível quando fiz o Auto Rádio só porque não estava preparado para o fazer desta maneira. O contexto em que os discos aparecem é muito importante. Nesta fase da minha vida acho que este disco faz sentido e provavelmente não fazia sentido noutra fase. Mas em termos musicais puros, de fazer música, acho que já podia ter feito. Não tem a ver com de repente eu ter descoberto os sintetizadores ou a música eletrónica…
Ou o cantar de outra maneira…
O cantar de outra maneira tem a ver com o tempo a cantar. O primeiro disco [como Benjamim], o Auto Rádio, sou eu claramente a tentar descobrir a minha voz em português. Não conseguia cantar como canto hoje. Hoje, por vezes, ouço o Auto Rádio e dá-me um cringezinho. Mesmo no disco seguinte, o 1986, há ali momentos… é a descoberta da voz, obviamente.
Nos outros discos, nunca teria conseguido cantar da maneira que canto neste. Até porque aqui há uma opção muito clara e consciente de tentar cantar de outra maneira, de tentar explorar mais o falsete, o registo mais agudo da minha voz. Sempre usei muito o falsete nos coros e às vezes as pessoas nem percebem bem que sou eu a cantar. Neste disco resolvi atirar isso mais para a frente. Este disco é um bocado o equilíbrio entre a experimentação na música naquele lado mais eletrónico e a exploração sónica e ao mesmo tempo a exploração da minha voz nas canções. Tentei fazer com que as canções puxassem pela minha voz e que a minha voz puxasse pelas canções. Quis levar a escrita das canções mais para cima.
Parece-me que há geralmente algum apreço especial — da crítica especializada mas não só — por um tipo de música mais melancólica, com arranjos mais simples. Esse é o cânone da grande canção, mais sofrida, digamos. O que aconteceu no teu caso foi uma libertação gradual dessa estética, desse universo do cantautor?
Quando comecei a fazer música era obviamente mais simples, mais na essência. Começamos com uma guitarra, com um piano, de repente grava-se e surgem mais umas coisas… mas a essência da canção é a regra. À medida que me vou fartando e que vou percebendo que não quero fazer a mesma coisa outra vez, começo a procurar outras soluções para as música. E se calhar até crio algum desapego à própria noção da canção na sua forma mais básica e mais simples. E pergunto: o que é que posso fazer para que isto seja diferente? É um bocado por aí, é resultado de insatisfação.
O processo tem sido gradual. Apesar de, curiosamente, se for ouvir o primeiro álbum de Walter Benjamin, que se chama The National Crisis — um disco que não aconselho a ninguém —, já existia um lado eletrónico: tem muitas programações, tem pedais de delay, tem ruídos, esse lado da procura sónica já existia. Acho é que a mudança também tem a ver com a sofisticação da própria maneira de escrever, ter ido à procura de outras harmonias e outros acordes. Este disco tem uma particularidade: fiz um bocado as pazes com o piano, com os teclados. Estou muito mais à vontade a tocar piano do que guitarra. Na guitarra sou completamente auto didata, no piano não. E acho que o piano abre oportunidades e opções harmónicas que a guitarra não oferece.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Cantas, a dada altura: “Dava a minha escuridão para me encontrar”. Tem alguma coisa a ver com o teor deste disco, com um lado mais noturno, com uma outra forma de apresentar as canções?
A escuridão tem um duplo significado. Este disco é muito noturno, foi feito à noite, mas também tem a ver com a escuridão interior… este disco aparece numa fase da minha vida em que eu realmente me senti um bocado perdido e foi uma tentativa de encontrar alguns significados para algumas coisas.
E correu bem?
Acho que sim.
Gravaste um vídeo aqui no Incógnito, tens uma canção chamada “Incógnito”. É uma homenagem?
O disco foi muito feito aqui, houve muitas coisas feitas aqui. Não foi só aqui, foi também no Lounge, no Lux, no Cais do Sodré, numa fase em que a noite era uma coisa muito presente na minha vida, muito constante. A pandemia tirou-nos o tapete e obrigou-nos de repente a ter outro modo de vida. O que até pode ter sido bom para acalmar o pessoal um bocadinho. Mas este sítio é muito importante para mim, desde há muito tempo. De certa forma, o que aconteceu foi que, quando fomos para confinamento, eu não tinha o disco totalmente fechado. As letras não estavam todas absolutamente fechadas, não tinha gravado as vozes.
De repente comecei a pensar no título do disco e a aperceber-me também que, de uma forma um bocado cínica, o meu gatilho a fazer o disco, a cantar as letras, já não era o mesmo. Estava a escrever com um certo estado de espírito e com um ritmo de vida um bocado avassalador. E um bocado sempre ressacado, há um lado de ressaca no disco.
E de repente a ficha é desligada da tomada. Que efeito tem isso?
De repente a ficha é desligada e aquele mundo já pertence a outra fase da vida. Uma fase em que podia sair à noite e dançar e em que suávamos, passávamos pelas pessoas e não havia esta ideia de distanciamento. E comecei a pensar um bocado nesta ideia das Vias de Extinção. Tudo o que vivi e escrevi nestas canções morreu, acabou.
Dizias que depois da pandemia já cantaste estas letras de forma diferente. Consegues notar o que mudou na voz? Algum desencanto? Menos euforia e entusiasmo?
A primeira canção já tinha sido gravada em estúdio, voz incluída, mas houve algumas canções em particular em que olhei paras letras e para a música de outra maneira, com um olhar mais cínico. Não sei dizer como é que isso se reflete na voz, sei que é um processo de transformação que torna a minha interpretação diferente. A partir do momento em que olho para aquilo de outra maneira, vou cantar de outra maneira. Agora, exatamente em que partes da interpretação é que algo muda? Não sei, é ainda a mesma canção e a mesma melodia, mas trouxe algo que não é só espontâneo, que traz consigo uma camada de distanciamento em relação àquilo que estou a cantar.
Na altura do Auto Rádio falavas muito do desafio que foi aprender a escrever canções em português, como um processo longo e exigente. Aqui, qual foi o grande desafio?
Sinto-me mais à vontade a escrever em português, um bocadinho, pelo menos. Os medos passam a ser outros. No Auto Rádio tinha medo de ser ridículo. A ansiedade que as letras me trouxeram não é igual, mas esse lado continua a existir. Acho que tem a ver com o processo de escrita. De certa forma, o facto de não querer repetir as mesmas fórmulas e as mesmas canções… não queria repetir uma “Terra Firme”, não queria que as pessoas esperassem de mim uma coisa vagamente parecida e isso obriga a procurar novas formas de escrever. Esse desafio faz com que o processo seja sempre complicado. Há sempre a busca da canção, de um som, de um formato novo. Mas isso também é o grande desafio, a grande piada, aquilo que me dá pica e me motiva a fazer música.
[“Terra Firme”, do álbum de Benjamim com Barnaby Keen:]
Era por isso que falava na questão do cânone: normalmente quando vamos crescendo como ouvintes ou músicos, tudo o que tiver sintetizadores mais brilhantes ou falsetes até dada altura é algo de que muitas pessoas fogem, que acham foleiro. Por isso perguntava-te se tiveste de te libertar dessa ideia de música, não só agora mas em todo o teu percurso.
Sim, tive, claro. Comecei a ouvir The Doors e Bob Dylan e Neil Young e de repente há uma fase da vida em que aquilo é a verdade e o resto é foleiro. Faço parte de uma geração que nos anos 90 encarava a verdade da música como uma coisa com fronteiras muito distintas. Por exemplo, com a mania de achar que a música eletrónica não é feita por pessoas.
Mesmo enquanto ouvinte consegui perceber que essa era uma ideia muito redutora da música e obviamente alarguei muito o meu espectro de audição e fui descobrindo coisas maravilhosas em vários estilos. Comecei a perder o preconceito. Com isso fui tentando sempre integrar essa música, esses sons, essas novas verdades na minha própria música, sem medo. Rapidamente deixei de querer só fazer música com quatro acordes à guitarra. Gosto de teclados desde muito cedo. Tenho esse bichinho há muitos anos. Percebi como é que conseguia encaixar estes sons, que associava a uma cena diferente, à minha própria música. A diferença é o processo da descoberta.
Ia perguntar-te se as nuances que vais introduzindo na tua música, as estéticas diferentes, acompanharam temporalmente as mudanças de gosto como ouvinte. Ou seja: o teu gosto mudou? E isso é uma espécie de mote para fazeres música diferente?
Não, é uma coisa que já vem de há muito tempo. Toquei numa banda chamada Goodbye Toulouse, tinha aí uns 18 ou 19 anos… Lembro-me de tocar no OutFest, no Barreiro, e de só tocar noise no teclado. Tocámos na ZDB tinha eu uns 19 anos… não é uma descoberta recente. Há muito que gosto dos Velvet Undergorund, como gosto dos LCD Soundsystem ou dos Kraftwerk ou do Arthur Russell ou dos Daft Punk.
A integração disso na minha música tem a ver com o meu contexto pessoal. Não estou atrás da moda e da cena que está a sair agora, a tentar incorporar a novidade, tento até distanciar-me disso e blindar-me. Este disco é o que é porque mandei arranjar o meu sintetizador, que estava estragado e quando voltou do arranjo de repente fiquei “uau”. Por isso é que este disco tem os sons que tem e a direção que tem. Tem um lado de contexto específico desta altura. E há outro lado. Enquanto produtor estou sempre a lidar com músicos completamente diferentes, sempre a levar com música. Estou sempre a lidar com músicos com visões diferentes da minha. Portanto, nada disto é novidade. Tem mais a ver com o facto de eu ter passado por uma separação e ter passado quatro anos da minha vida assim meio perdido e a viver uma vida um bocado meio desregrada e boémia. E acho que isso aí motivou muito mais para estar a fazer uma coisa que é quase uma banda sonora da minha vida. Porque no fundo é o que fazemos, quase um diário sonoro, que depois decido editar ou não. A partir do momento em que a coisa começa a ganhar uma forma mais séria, passa a ser trabalho.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
“Muitas vezes saía à noite, chegava a casa e escrevia sobre o que me inquietava”
Face ao Auto Rádio e a 2015, há um contexto coletivo e social que mudou. Esse disco era muito marcado pela questão do teu regresso ao país e por tudo o que estava a acontecer naquele momento na Europa. Desta vez foi uma coisa mais pessoal?
O contexto político continua a preocupar me. Naquela altura, o disco exprimia uma fase da minha vida em que me mudei de Londres para o Alentejo e isso teve um impacto muito grande. Mudei a minha vida para fazer esse disco. Toda essa bagagem, tudo o que aconteceu nesse período formou o disco e foi avassalador na forma como se impôs na escrita das canções. E depois tento procurar uma ligação entre as várias coisas que forma acontecendo. O [disco] 1986 foi uma espécie de resposta: passei a escrever em português, mas queria continuar a fazer música com outros contextos. Pensei: será que um disco em português consegue colar com alguém em inglês? Queria provar a mim próprio que era possível colar as duas coisas. E odeio discos bilingues. Aquilo para mim era uma experiência desafiante.
Na altura do Auto Rádio sabias que querias escrever em português, essa era a base da qual partias. Neste disco, qual era a base sobre a qual partiste? Tinhas temas que querias abordar, por exemplo?
O tema não é independente do som, mas foi muito natural. Sabia sobre o que queria falar porque era o que estava a sentir naquele momento. A minha inquietação, a minha ansiedade, que era grande, não foi constante durante dois anos, mas… comecei a fazer este disco no verão de 2018. Agarrei num gravador de quatro pistas, em dois sintetizadores e comecei a pensar “vou começar a fazer canções em quatro pistas em cassetes”. Tinha uma pista para o baixo, para caixa de ritmos, etc. Comecei a fazer umas experiências. Muitas vezes saía à noite, chegava a casa, punha os phones e escrevia sobre coisas que me inquietavam. Era uma fase até mais triste. Sentia necessidade de canalizar aquilo que estava a sentir para a música que estava a fazer. Isto foi durante um mês e tal.
Que levante a mão quem nunca usou a noite para responder a inquietações pessoais.
Claro, claro.
És um tipo que gosta de “dançar de manhã”, como cantas no tema “Urgência Central”? E que gosta de “dançar de manhã para arrancar corações”?
[gargalhadas] Na fase em que estava… não sei se é gostar. Eu dançava até de manhã. [risos]. Não começava a dançar de manhã, mas dava por mim a chegar a casa muito tarde, sim.
[Benjamim ao vivo:]
E o resto fica para estas quatro paredes [Incógnito]?
O resto fica para a imaginação. [pausa] Há um lado deste disco que é brutalmente honesto. Essa frase é um bocado crua e há várias frases e várias coisas que digo no disco que não tentei suavizar. OK, aconteceu. Há uma vontade de expor os meus defeitos no disco, mesmo que possa ser mais ou menos subtil sobre eles. Uma das tentativas líricas do disco foi não tornar a coisa em poesia, não tentar adornar as coisas. A verdade é que há coisas que aconteceram e curti poder deixar isso diretamente nas canções.
Assustava-te mais, ou deixava-te mais inquieto fazeres isso escrevendo em português? Essa exposição, vertendo coisas mais experienciais, é maior quando se escreve e canta numa língua que as pessoas que estão a ouvir dominam muito bem, em que percebem cada palavra que estás a cantar? As palavras não se diluem tanto na música como aconteceria se fosse em inglês.
Acho que é mais interessante poder fazer isso de uma maneira que as pessoas percebam. Em inglês consegues ser muito direto, obviamente, mas lá está: as pessoas não vão compreender da mesma maneira e se calhar acabas por adornar a coisa de outra maneira. Não sei se pelo menos consigo escrever diretamente da mesma maneira em português e em inglês. O que é direto em português, para mim é muito mais direto. Também é a minha língua materna, é a forma como eu próprio compreendo as coisas.
Isso podia ser fonte de alguma preocupação. Tens a tua vida pessoal e poderias ter algum receio de a determinada altura estares a expor-te.
Tu escolhes o que queres expor, também.
Em inglês poderia ficar um bocadinho mais disfarçado.
Sim. Bom, se quisesse ter tornado aquilo um bocadinho… eu podia tentar fazer-me sempre de vítima nas minhas canções. Até em português podia fazê-lo, podia tentar esconder coisas que são defeitos. Isso do ‘arrancar corações’ é uma fase perdida em que estava solteiro e em que a vida era toda um bocado uma loucura. Eu também estar a falar sobre isto é uma opção. Escolhi falar dessa fase abertamente, acho que me fez bem também. Já disse isto muitas vezes mas para mim a verdade na música também é importante. O meu impulso criativo também é de fazer alguma coisa…
… que te diga respeito?
Sim, que não seja só genérica. Se não puseres os defeitos e as qualidades ao mesmo nível, é genérico. É muito fácil fazeres uma canção que é só bonita ou que só dá primazia à beleza nas coisas. É fixe quando as coisas também têm um lado cru, quando consegues exorcizar o lado mais negro das coisas na música. Acho que as próprias pessoas podem identificar-se com ela de outra maneira.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Há tempos falava com o Kevin Morby [músico norte-americano] a propósito da morte do [produtor e músico] Richard Swift e ele dizia-me que as pessoas não têm presente que um músico anda nos palcos a cantar sobre a sua vida e os seus problemas. E que um músico faz isso muito tempo e se muitas vezes pode ser libertador, também pode convocar fantasmas. Não sei se sentes isso.
Não, lido bem. Há aqui um lado cínico com estas canções: já fazerem parte de um universo um bocado distante. Até pelas circunstâncias em que vivemos hoje em dia, olho para elas apenas como canções. Foi absolutamente libertador escrevê-las e é absolutamente libertador cantá-las, mas quando as canto hoje em dia não as encaro como a verdade do meu momento. Consigo separar-me disso.
Falavas há pouco da tentativa de não te repetires. Tiveste um primeiro disco em português que foi um êxito da crítica e que para disco de estreia de um projeto teve bastante impacto. Tiveste depois o disco 1986, que tinha a canção “Terra Firme”, que se tornou a tua canção mais popular. Chega esta fase e fazes um disco em que procuras um lugar novo. Deste por ti a pensar sobre o que se segue e como as pessoas vão receber isto, como vão reagir a este disco? Foi uma preocupação?
Acho que não estaria a ser honesto com o público se não procurasse sempre fazer uma coisa diferente. Artisticamente acho que é isso que procuro, sempre. Tenho tido uma grande vantagem, uma grande sorte, com o facto de este projeto andar sempre devagarinho e ser uma coisa que tento fazer com alguma calma. O facto de ter uma carreira enquanto produtor — e toco ao vivo com a Lena d’Água, por exemplo — permite que a minha sobrevivência não dependa de Benjamim. Isto apesar de hoje em dia este projeto ser cada vez mais o centro da minha vida.
Mas não tens todas as fichas aqui?
Não tenho. Nunca precisei de agir para tentar agradar, nunca tentei agradar. Consigo manter a minha verdade e a minha integridade artística neste projeto. Acho que isso tem um efeito positivo até junto do público, que é: as pessoas que vão ouvir percebem que não estou a tentar só agradar. Acho que é muito interessante quando consegues desafiar as pessoas que estão ali, fazer com que de repente pensem: uau, o que é isto? Obviamente corres o risco de as pessoas não gostarem, mas foi essa a minha procura musical, intensa, durante dois anos em que estive fechado muitos dias dentro de um estúdio. Pude, por exemplo, passar um dia todo à procura de um som de tarola e bateria, porque queria e porque sentia que não conseguia dormir ou relaxar enquanto aquele som que estava na minha cabeça não existisse. Esse processo é egoísta, é a minha procura artística do que quero fazer a seguir.
Há, claro, um lado depois que joga com esse lado solitário, que é o do público que vais tendo ao longo dos concertos. Aí começas a tentar “lixar” a cabeça das pessoas, brincar com a perceção das pessoas — tentei fazer isso ao longo deste disco. O disco é uma viagem: na forma como se colam as músicas, como se usam certos sons. Se formos atrás, a primeira canção do Auto Rádio, “Eu quero ser o que tu quiseres”, sou eu a dizer: isto é para os fortes. Eram quatro minutos com aquilo sempre em loop, para ver se quem ouvia chegava à segunda música, quando é que passaria à frente. É um bocado a minha própria maneira de interagir com o público. Obviamente que estou a fazer música e sei que a música que estou a fazer vai ser ouvida — e eu quero que seja ouvida. Mas o caminho que procuro tem sempre a ver com a música que quero fazer e que quero explorar.
Há um desejo de não cair num vício? Na “Terra Firme” houve um modelo de canção que funcionou muito bem, podia haver uma tentativa de o replicar.
Isso ia ser um erro tremendo, a todos os títulos. A título musical porque não ia fazer uma canção igualmente boa. Depois, as pessoas iam perceber: OK, ele só faz esta música.
Iam-se cansar?
Sim. Acho que não tem grande interesse. Se fosse um fã que ouvisse o Terra Firme, ia pensar depois: qual é a próxima? Obviamente chegas a um ponto… o Tarantino fala um bocado disso, dos medos de quando começas a repetir-te e quando acabam as tuas ideias. Obviamente tenho esses medos.
Todos os criadores terão.
Todos terão. Neste momento, estou numa fase em que quero andar a procurar o máximo possível. Na minha banda [ao vivo] falamos sobre isso, sobre o entusiasmo que temos na procura da maneira como tocamos as novas músicas. Sobre o entusiasmo em os concertos poderem ir para lados completamente diferentes, permitindo-nos explorar outras coisas. Isso tudo faz parte do processo de crescer.
Quando lancei o Auto Rádio, um amigo meu, muito entusiasmado com aquele disco, disse-me: pá, “Os Teus Passos” bateu imenso, agora tens de fazer uma coisa nessa onda. Disse-lhe: meu, a última coisa que quero fazer é uma canção parecida com esta. Foi uma discussão que tivemos no Bons Sons [em 2015]: ele dizia-me que tinha encontrado ali o meu espaço, eu achava que o pior erro que poderia cometer era prender-me ali. Meu Deus, se tivesse ficado preso naquela canção o que estaria a fazer hoje em dia… é uma canção que já nem consigo ouvir.
[“Os Teus Passos”:]
A pandemia e o disco: “De repente sentes: isto não faz sentido nenhum, esta música não serve para nada”
Existiram algumas dúvidas quanto às datas de edição e apresentação do disco, por causa da Covid-19. Estando o disco inserido neste universo mais noturno e de música eletrónica — e sendo o disco inspirado na fase mais noturna que viveste — foi-te fácil manteres a calma quando tivemos todos de nos isolar?
Acho que foi complicado para todos. Obriguei-me a trabalhar. O disco já ia sair em setembro e os concertos já eram nesta altura [outubro].
Ah, exatamente. Dizias era, a dada altura do confinamento, que tinhas dúvidas de que em outubro os concertos fossem possíveis.
E uma das razões para dizer isso era que tínhamos o Lux marcado. O concerto de lançamento do disco em Lisboa ia ser feito no Lux. Cada vez mais fui-me apercebendo que isso ia ser impossível. Conseguimos arranjar um plano B, o Teatro Maria Matos. Felizmente foi possível e vamos fazer o concerto lá. Mas aquilo que me motivou a viver durante a pandemia foi mesmo pensar no futuro. Houve uma altura em que o meu técnico de som ligou e disse-me: pá, estou a pensar desistir da música e ir fazer outra coisa. Lá lhe disse: se calhar agora tens de fazer outra coisa, mas só até conseguirmos voltar. Aquilo que me guiou, a minha preocupação foi: vou manter a minha banda, ninguém vai desistir de nada, vamos fazer música, vamos fazer os concertos, vamos preparar o futuro e vamos tentar estar o mais fortes possível quando voltarmos. Exigiu abstrair-nos do resto do mundo quando estava tudo a cair, por instinto de sobrevivência, e tentarmos proteger os nossos interesses comuns. Foi preciso pensar nas pessoas que tocam comigo, no meu agente, nos técnicos, nos roadies.
De repente estava tudo com as mãos na cabeça, o meu papel ali foi de dizer: vamos fazer isto acontecer, vamos tocar e quando isto tudo voltar vamos ter um disco novo e vamos estar preparados para ir tocar. Agora, digo-te: comecei a gravar, passava um dia inteiro no estúdio e gravava se calhar uma única coisa. Estava muito deprimido. Carregava play e ouvia por exemplo a “Incógnito”, aquela música pulsante, quando estava num mundo em que não podia sair de casa, em que tinha a minha avó na sala a ver os programas de televisão dela… de repente sentes: isto não faz sentido nenhum, esta música não serve para nada, isto que estou a fazer não interessa.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Nesse período de pico da pandemia, era muito difícil pensar noutra coisa?
Acho que toda a gente sentiu um bocado isso. Todos os meus amigos músicos com quem falei sentiram-se absolutamente desmotivados criativamente. Não houve vontade de escrever sobre isto. Se calhar vai haver mais tarde, se calhar já se conseguirá refletir sobre isto com alguma distância, mas naquele momento a minha motivação era o meu instinto de sobrevivência, era o futuro, era estarmos preparados para não perdermos um ano ou dois de trabalho por causa disto. Foi o que me motivou.
É curioso que mesmo os ouvintes podem ter sentido isso — houve uma altura na fase de confinamento mais duro em que houve uma quebra estatística nítida na audição de música por streaming.
Baixou muito.
Mesmo estando as pessoas em casa e com mais tempo livre. Talvez a ficção, o escape, não fossem opções ali — como se não fosse possível à maioria das pessoas abstrair-se daquilo.
Não sei se queres voltar a ouvir canções sobre sair à noite ou dançar naquele momento específico. Obviamente depois isso volta. Houve um choque coletivo, uma depressão coletiva. É completamente compreensível. De repente o nosso mundo como o conhecíamos desapareceu.
Há uma grande frase, importante, neste teu disco novo: “Eu não esqueço que o apego é melhor que a solidão”. É tão relevante que a cantas várias vezes numa das canções. Há um bocadinho o cliché do artista genial como alguém solitário, atormentado, melancólico, com um lado meio trágico até. Essa imagem seduziu-te em algum período?
Acho que seduz sempre. É um bocado fascinante, não é? Quando cresces… todos os músicos têm os seus ídolos como toda a gente tem os seus ídolos. Antes de eu fazer música, era um fã de música. Portanto, sentes-te sempre fascinado com esses modelos. Para mim, naturalmente, é só um catalisador. Uso a música como um sítio onde exponho o melhor e o pior.
É normal escreveres quando estás triste ou quando estás a sentir uma coisa que toma conta de ti e que é um sentimento que se arrasta durante semanas, se calhar; quando aconteceu alguma coisa na tua vida, ou porque te separaste, ou porque estás apaixonado, não interessa. Todos já nos sentimos assim e para mim esses momentos em que as coisas batem mais forte e são mais duras são as coisas sobre as quais quero mais escrever. São os momentos mais excecionais da existência, porque habitualmente estás num equilíbrio: estás bem ou estás mal, mas não estás sempre lá em cima ou sempre lá em baixo. Quando estás lá em cima ou quando estás lá em baixo… esses extremos potenciam a criação e tento um bocado aproveitar isso. Digo aproveitar, mas não é algo que faça de forma absolutamente consciente, é uma vontade.
“Quando fiz o Auto Rádio, pensei: é a minha última oportunidade, make it or break it’”
Vais contactando com as pessoas que te ouvem. Que imagem achas que as pessoas têm de ti, a partir da música que fazes, e quão próxima ou distante estará da realidade? Tens essa impressão?
Não sei… a impressão que tenho da imagem que as pessoas têm de mim tem a ver apenas com as pessoas que encontro nos concertos ou neste sítio [Incógnito], por exemplo. Essas pessoas vêm falar comigo e dizem que gostam. A experiência que tenho é sempre positiva. Tenho sorte porque quando sou abordado, normalmente as pessoas são sempre super abertas. Acho que passo uma imagem um bocado próxima das pessoas e as pessoas aproximam-se de uma forma natural. É sempre fixe. É a única perceção que tenho, não faço ideia do que as pessoas acham de mim a partir da canção. Não sei se sou uma desilusão a partir do momento em que conhecem a pessoa, não faço ideia.
A paixão e as relações amorosas são temas que tratas muito na escrita. Há muitas canções em que estás a cantar para um “tu”, para um interlocutor, sobre amor e desamor, encontro e desencontro. É só um interesse estético, artístico, ou és dado a paixões, a encantar-te e desencantar-te com as coisas?
Acho que depende da fase. Vivi um período da minha vida em que tinha relações estáveis. Depois tive um período da minha vida em que me separei e tive o meu lost weekend, vá lá, que é um bocado este disco. E agora estou numa fase estável outra vez. No fundo sou uma pessoa… gosto da ideia de família, sou uma pessoa próxima da família. Não pretendo passar a minha vida perdido, se é essa a questão. Acho que há fases para tudo. Tenho muita dificuldade em dizer que a vida tem uma verdade. Isto também um lado antropólogo: aproveitei uma fase da minha vida para conhecer muitas pessoas e para observar. À medida que vou tendo cada vez mais amigos — e sou uma pessoa que gosta de ter amigos, cultivar amizades e conhecer pessoas — vou percebendo que as pessoas vivem todas de uma maneira diferente. A vida é um bocado uma aventura de ires experimentando viver de maneiras diferentes e descobrir como te sentes bem no mundo, como te relacionas bem no mundo.
A antropologia pode ser uma boa muleta também para a escrita de canções?
É, acho que é.
Ires estudar antropologia na faculdade já revelava uma intenção próxima deste universo artístico: perceber o mundo, perceber as pessoas, ler as pessoas e refletir sobre elas, perceber-te a ti também no mundo?
Antropologia obviamente esteve nas minhas opções quando me inscrevi, mas foi um bocado um acidente muito feliz. Isso é tudo verdade mas não sei se foi assim tão consciente quando tinha 18 anos e entrei na faculdade. Não foi a minha primeira opção…
“Xô”, direito, não?
Xô direito [risos]. Quando entro no curso, essas oportunidades estão à minha frente e percebo: isto pode ser ótimo. Sou uma pessoa muito curiosa com o mundo, gosto de perceber como as coisas funcionam e a antropologia tem esse lado: analisas a sociedade de vários pontos de vista, do sociológico, do económico, do biológico até. Há várias vertentes e tens uma visão um bocado generalista sobre o mundo. Acho que isso acabou por abrir imensas portas e ajudou-me a compreender montes de coisas sobre o mundo que sinto que foram essenciais para a maneira como escrevo e observo. Adoro observar. Uma das minhas coisas favoritas é ir sair sozinho à noite. Às vezes és só um voyeur, estás só a observar, vagueias de bar em bar, bebes um copo, encontras um amigo.
Começas a imaginar histórias?
Sim. E muitas noites improváveis… é importante salientar isto: nem tudo o que está no meu disco é uma verdade. Obviamente que há um lado em que ficciono, também. Há um lado de escrita que passa por romancear a vida e as coisas. Nem tudo tem de ser sobre mim, atenção. Mas muitas vezes acabo a noite com alguém completamente improvável e aquela pessoa fascina-me, porque é uma pessoa que à partida não seria um amigo que eu teria à mão, mas de repente crias ali uma relação, nem que seja muito pouco duradoura.
[“Domingo”, do novo “Vias de Extinção”:]
Já voltaste a Portugal há alguns anos…
Já voltei há muito mais tempo do que aquele que estive fora. Às vezes ainda vejo escrito “esteve em Londres”. Já foi há tanto tempo.
A minha dúvida é: vinhas com uma intenção de fazer um disco em português e fazer canções em português. Era pelo menos uma das intenções…
Era a principal, sim.
Isso foi conseguido e trouxe-te ouvintes, reconhecimento, um público. Ainda assim, seja pela música ou outra coisa qualquer, houve algum período em que tenhas dado por ti a pensar: e se tivesse ficado em Londres, o que poderia estar a fazer agora?
Penso nisso como a melhor decisão que tomei na vida. Tenho a certeza absoluta — e tenho essa experiência até por amigos que lá ficaram — que teria sido muito pior. Acho que isto foi um bocado à boleia da antropologia: na altura analisei um bocado o cenário macro em que estava inserido e comecei a pensar no que seria o futuro, em como estaria dali a três ou quatro anos. Pensei: se ficar aqui, daqui a três ou quatro anos tenho 30 anos e depois voltar a Portugal para começar uma carreira nova já seria um bocado ridículo. O Leonard Cohen fez isso, mas era o Leonard Cohen…
Se tivesse feito a digressão que fiz em 2015, a do Auto Rádio [um mês a dar concertos todos os dias], com 34 anos… nem aguentaria. Tinha 27, 28 anos. Foi violento, aquilo só dá para viver naquela altura da vida. O que pensei quando estava a fazer o [disco] Auto Rádio foi: esta é a última oportunidade que tenho de me afirmar em nome próprio, seriamente. Ponderei: se calhar o meu papel na vida é ser produtor, ser músico e tocar com outras pessoas mas pondo de lado a escrita das canções. Pensei que era aquela coisa de ‘make it or break it’.
Ou sim ou sopas.
Sim. Isso pensei. Mas a ideia de voltar para Londres, até do ponto de vista pessoal e de família… começas a perceber que as pessoas não estão a ficar mais novas, que não queres viver a tua vida longe das pessoas de quem mais gostas. E Londres é uma cidade super cruel para envelhecer, não queria de todo envelhecer ali.
Porque dizes isso?
Uma casa custa um milhão. Vais ter filhos numa cidade onde uma casa custa um milhão, onde a creche custa 500 libras por semana, ou lá o que é? Tens de viver num estilo de vida em que ganhas muito dinheiro. Não quero isso para mim, a vida não pode ser isso. Prefiro um estilo de vida em que precisas de menos recursos. Como diz o Jorge Palma, “reduz a tua necessidade, se queres passar bem”. Acho que isso é uma grande verdade, mesmo. Vivo bem com o que é essencial, sou uma pessoa que não precisa de grandes luxos. Vivo bem com um carro mau… preciso do essencial para viver. Prefiro ter menos posses e poder ir à praia quando quiser, ir sentar-me numa esplanada a beber um café e estar sol — e não ter de gastar cinco libras a beber um café, a chover. Atenção, não estou a dizer isto como uma crítica. Acho que há pessoas que vivem bem desse modo, o pessoal que trabalha na banca por exemplo. Agora para um músico, estar a viver numa cidade que te afasta cada vez mais do centro?
É engraçado, quando quis mudar-me para Portugal houve uma série de malta na minha família que me dizia: que grande erro, tens essas grandes oportunidades da música em Inglaterra e vens para Portugal onde nada se passa. Eu limpei armazéns para pagar renda, cheguei a levantar-me às quatro da manhã para carregar camiões com material de som para pagar a renda. Sei bem quais são as oportunidades da música em Londres [risos], eu vivi-as. Fiz trabalhos muito duros, passei tempos complicados do ponto de vista económico. Não me vou fazer de vítima, não é que se estivesse a morrer a fome não fosse ter ajuda. Mas quero viver a minha vida de uma forma em que os meus privilégios não sejam condição para eu fazer as coisas, tenho de as conseguir fazer por mim para que as coisas sejam reais. Não quero ser músico à conta de outras pessoas, quero ser músico pelo meu valor e por aquilo que consigo fazer. Às tantas, as mesmas pessoas da minha família já me diziam: ‘tinhas razão, fizeste bem em voltar’. Não, nunca tive arrependimento de ter voltado.
Cantar em inglês: “Estava em Londres a pensar: isto é uma fraude, a minha música não é de lado nenhum”
Falas muito da vontade que sentiste de começar a escrever em português, de procurares um lugar próprio e de cantar sobre coisas que te são próximas e das quais não falarias em inglês. Olhando hoje em retrospetiva, com toda a experiência acumulada, porque é que achas que antes escreveste em inglês? Há uma fase em que a música cantada em português não predomina de todo, depois há uma explosão da música independente com a Flor Caveira e a Amor Fúria…
Sim, com o Fachada, o Samuel Úria… Vivi isso na primeira pessoa.
Precisamente. Daí perguntar: na altura isso não foi suficiente para te motivar a escrever em português?
Motivou, motivou. Até houve um lado — vou dizer isto com muitas aspas — quase de inveja. Não era inveja, na verdade, era admiração. O Fachada quando começa a fazer os primeiros EPs é numa altura em que estou muito próximo dele, ele tocava comigo na altura. De repente ele passa de tocar comigo, quando eu ainda tinha um mini-hype com Walter Benjamin, para de ser “o B Fachada”. Isto acontece ao meu lado e fico: uau, este gajo… Há um lado em que tens de acomodar o ego a esse tipo de mudanças. Depois aparece o boom da Flor Caveira, etc. Obviamente isso foi uma grande inspiração para mim, mas claramente passei ao lado de estar na frente da grande mudança que aconteceu na música portuguesa.
Há aquela capa do Ípsilon [suplemento cultural do jornal Público], por exemplo: se estivesses a escrever em português, provavelmente estarias ali, não?
Acho que não, porque acho que as coisas também têm o seu tempo para acontecerem. Hoje em dia olho para trás e penso ‘bolas, que pena’. Não é por causa dessa capa, claro, mas penso: que pena que quando era pequeno não me deu para tentar escrever em português, que pena que eu não tivesse percebido que isso era um caminho muito mais interessante. Não percebi e demorei tempo a perceber. Isso é uma “falha”, mas ao mesmo tempo é o que é.
O que é fixe é quando percebes… não é assim tão fácil perceberes que estás no caminho errado e que tens de mudar tudo o que fizeste até ali para fazer uma coisa completamente diferente. Isto teve imensos anticorpos junto da minha banda, junto do pessoal que andava comigo. Toda a gente estava com medo do que ia sair dessa mudança, achavam que este novo começo seria horrível. Dei uma volta de 180 graus. Há um lado de mim que foi crescendo cada vez mais. O que achei foi: se continuar a fazer música em inglês, a minha música não vai perdurar, isto não vai ter um significado. Atenção, estava em Inglaterra mas nunca tive a ilusão de que iria ser grande em Inglaterra.
Nem que irias fazer grandes digressões internacionais?
Nunca. O que pensava que poderia fazer em Inglaterra era: ter alguns concertos e ter uma cenazinha a acontecer. Foi aí que percebi que a minha música não era dali e não era de lado nenhum. De repente tinha um público inglês à minha frente e estava a cantar as minhas canções com um sotaque mais ou menos americano, mais ou menos inglês e mais ou menos português… Não é que achasse que as minhas letras fossem más, mas de repente estou a cantar em frente àquelas pessoas e estou a pensar: epá, isto é uma fraude. De certa forma, era. Atenção, tenho imensos amigos que cantam em inglês e não estou a dizer que isso se aplica a eles. No meu caso é que senti isso. Comecei a perceber que tinha de escrever em português, na minha língua, e que isso é que me iria diferenciar enquanto autor. A minha consciência enquanto autor nasce tardiamente, se calhar nasce aos 27 anos em vez de ter nascido aos 17.
Ao mesmo tempo, acho que aprendi imensas coisas a cantar em inglês e acho que tive muita sorte. Aprendi montes de coisas com o Fachada e com o Samuel Úria, toquei com o Noiserv, produzi o primeiro disco da Márcia. O que é curioso é: eu, que cantava em inglês, de repente estou a produzir discos de música portuguesa cantados em português. Começo a perceber melhor, a ouvir de outra maneira. Portanto acho que dei muito de mim a essas pessoas mas essas pessoas se calhar também me deram a mim a força e o exemplo para perceber que o caminho estava aqui.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Benjamim, o produtor: “Não vais dizer ao João Pedro Pais como fazer um sucesso”
Ainda te lembras da primeira canção que tentaste escrever?
Em português?
A primeira de todas.
Tenho umas cassetes absurdas, que nunca na vida poderiam sair para lado nenhum. Sou eu com 14 ou 15 anos… bom, eu tive uma banda de heavy metal, os Requiem. Nessa fase comecei a escrever algumas canções muito embaraçosas. Era um pré-adolescente a escrever canções de amor tendo zero experiência no assunto, zero experiência na vida. Tinha de decalcar as experiências que me chegavam das outras canções, dos filmes, das histórias que lia, dos outros. Acho que é isso que toda a gente faz quando começa a escrever canções, a fazer voz grossa para o microfone para parecer que não se tem 14 anos, que se tem 17.
Mas lembro-me da primeira canção que lancei… aliás, saiu e existe no mundo da internet. Não vou dizer como se chama, mas lancei-a num EP da primeira banda que fiz, aos 18 anos.
Era sobre quê, a canção?
Era uma canção de amor.
Já aí…
Era um desgosto qualquer que tinha na altura.
Como é que normalmente fazes uma canção? Há coisas que se repetem de canção para canção?
Tento variar muito. Tanto pode nascer à guitarra, comigo de férias a fazer uns acordes na guitarra e ela começa a desenvolver-se, como pode nascer ao piano. Pode nascer também de estar no estúdio a jammar com um sintetizador ou com uma caixa de ritmos. É muito variado e tento diversificar ao máximo possível a origem das canções, para tentar quebrar certos vícios. Este disco, por exemplo, quase não tem guitarra. Há lá duas guitarras mas tentei fugir o máximo possível da guitarra, porque se não as canções acabavam por ir parar aos mesmos sítios.
Enquanto produtor, o trabalho com a Lena d’Água, por ser a Lena d’Água, foi especialmente especial? Por ter sido o regresso dela, quase o renascimento artístico dela?
Foi super entusiasmante. Enquanto produtor foi um trabalho muito dividido com mais pessoas. Portanto, de certa forma há um distanciamento meu relativamente ao trabalho. Foi um trabalho muito partilhado com uma banda [They’re Heading West], portanto é um processo colaborativo que não dependeu tanto só de mim. Muitas vezes vi até críticas que injustamente creditavam-me como “O” produtor do disco e não é verdade, foi feito com a Mariana Ricardo, com a Francisca Cortesão, com o Sérgio Nascimento. O João Correia e o António Vasconcelos Dias também tocaram no disco e contribuíram com muitas ideias. Portanto há um processo muito colaborativo. Nesse sentido foi muito fixe porque estou a trabalhar com os meus amigos, também foi difícil por outro lado porque tens de lidar com muitas opiniões. Não vou dizer que foi o processo mais fácil em termos de produção, mas em termos da história e do que aquilo representava foi muito entusiasmante.

▲ Benjamim, Lena d'Água e Mariana Ricardo na Valentim de Carvalho, no estúdio em que gravaram o disco do regresso da cantora
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
De repente entrámos na Valentim de Carvalho, estamos a subir as escadas pela primeira vez e a Lena vira-se e diz: “aqui foi a última vez que vi o António Variações. Estava magrinho, disse-lhe: estás magrinho, António, o que se passa? E ele morreu a seguir, estava a gravar o último disco”. Acho que ele saiu do estúdio e a Lena entrou para gravar o disco dela. Obviamente estes contactos com outras gerações — e também tive isso com o Flak, que esteve nos Rádio Macau e Microwaves, quando produzi o disco dele — contribuem muito para a sensação que tens de estares a meter-te um bocado nesta linhagem. E há uma coisa muito especial que sinto, ao tocar ao vivo com ela: toco piano e teclado, que era o lugar do Luís Pedro da Fonseca na banda dela. Sente-se uma responsabilidade. Algumas músicas são dele, porque também tocamos muitas canções antigas da Lena d’Água, e estou ali um bocado num lugar de responsabilidade por estar no papel de um tipo absolutamente pioneiro e revolucionário na música portuguesa. Ele também era produtor, também era pianista… sentes um bocado a responsabilidade a herdar um bocadinho aquele lugar e isso tem a sua mística. Não vou mentir e dizer que não sinto o orgulho e a responsabilidade de ter esse espaço.
Como traduzirias o papel de produtor, a função de produtor, a quem não estiver por dentro do que é trabalhar num disco e num estúdio?
É um realizador. Como um realizador de um filme. Sendo que o papel de produtor de música é mais centralizado. Num filme, o papel é distribuído por uma equipa — o realizador pode ser muito ou pouco interventivo. No caso da música e no meu caso, acho que passa um bocadinho por realização prática, técnica, de traduzir a música que existe no ar para duas colunas. É pensar em como se põe aquilo a soar bem, perceber qual é a melhor versão, porque pode haver mil e um caminhos. Esteticamente, podes puxar mais a música para um lado, podes puxar para o outro, tens de tentar perceber como vai soar na aparelhagem. Depois há o lado de perceber quem é o autor e artista que se tem à frente, para onde ele quer ir e para onde o vais levar, qual é a melhor opção de carreira para essa pessoa.
Como produtor trabalhaste com muita gente ao longo destes anos. A pessoa com quem trabalhaste e que estará mais distanciada do teu universo musical e estético é o João Pedro Pais. Qual foi o teu papel ali e a tua função? O que é que podias acrescentar ali?
Foi um grande desafio, obviamente. Primeiro, o João Pedro Pais é uma figura histórica da música, andas com ele na rua e todas as pessoas vão falar com ele, sentes que é uma pop star. Uma vez ia ter comigo a minha casa e ligou-me, estava no supermercado ao lado e disse: pá, estou só aqui no supermercado a comprar café, passa só aqui, vem aqui ter e já vamos. Entrei no supermercado e as senhoras do supermercado estavam maravilhadas. É uma pessoa realmente popular. Obviamente que isso tem imensas implicações: não vais dizer ao João Pedro Pais como é que ele vai fazer um sucesso, porque já fez muitos.
Obviamente enquanto produtor lidar com esses factos é um grande desafio. Trabalhei com ele duas vezes, uma foi em dois singles que trabalhámos para a Valentim de Carvalho e a seguinte foi o álbum em que trabalhámos para a Sony. A primeira vez que trabalhei com ele o objetivo era um bocado renovar o som dele. Pondo isto de uma forma simples, o cenário era este: está aqui este puto que anda a fazer aí umas coisas mais indie e se calhar vamos aqui ver como isto corre, vamos pôr este artista num contexto completamente diferente para renovar o som dele. Foi um bocado esse o desafio. No disco dele toquei quase tudo. O guitarrista dele, o Sérgio Mendes, tocou muitas guitarras, o João Pedro tocou algumas guitarras, eu toquei outras, mas de resto toquei tudo: baixo, bateria, piano, teclados. Foi um processo muito intenso.
Quando ouviste, sentiste que estava…?
Senti que tinha a missão cumprida, sim.
O que tinhas a fazer ali, conseguiste?
Sim. O meu grande objetivo enquanto produtor é que o artista com quem estou a trabalhar se reveja no disco que foi feito, na obra. Quero que fique absolutamente satisfeito. Isso para mim é a coisa mais importante.
[“Santo Domingo”, de João Pedro Pais:]
Não te queres sobrepor ao artista?
Não, aquilo não é um disco meu. Não é uma questão de ego, de fazer a coisa à minha maneira e tentar impor. Obviamente tentas impor um bocado e tentas levar a coisa para um lado. É verdade que é um tipo de som e um tipo de canção que é muito diferente daquilo que costumo fazer e do que faço, mas esses desafios para mim enquanto produtor também são o que me fazem crescer.
Por exemplo, o Brian Eno. Não me estou a comparar ao Brian Eno, mas ele trabalha com os U2 e com os Coldplay e faz os discos com o David Byrne. Até se for ao Festival da Canção… na altura em que participei [como compositor], estava a investigar um bocadinho e o Serge Gainsbourg ganhou o Festival da Canção. E tu pensas um bocado: estes gajos que admiras, todos fazem trabalhos que fogem um bocado daquilo que é a essência da música deles. Isso enquanto produtor é o meu trabalho.
“O meu objetivo é a rádio adaptar-se a mim e não eu adaptar-me à rádio. Isto não cabe na rádio? Mudem a rádio!”
Gostas mais de estar em estúdio ou em cima do palco?
Gosto das duas coisas porque acho que são um equilíbrio perfeito. Adoro estar no palco e gosto cada vez mais, acho que foi uma coisa que foi crescendo em mim. Cada vez mais gosto mais e acho que tem a ver com o facto de cada vez gostar mais da música que faço. Acho que o 1986 é um disco muito melhor do que o Auto Rádio. E acho que o Vias de Extinção… para já é um disco diferente, todas as músicas são minhas, portanto não vou dizer que é melhor do que o 1986 porque há ali um lado partilhado e é um disco do qual me orgulho muito. Mas sinto que as minhas canções são melhores, que há um lado de desenvolvimento da canção. E o tal desafio, a própria banda… o disco que fizemos agora envolve muito mais a banda.
Sinto um prazer especial nesta altura. Ainda agora tocámos em Viseu e houve ali momentos em que me senti a viajar de uma maneira que já não me sentia há muito tempo a tocar ao vivo. Mas a vida de estrada também é muito dura, portanto acho que é preciso o estúdio para te fartares do estúdio e depois ires para a estrada.
Olhando para o panorama do meio musical português, que conheces como músico e produtor — e tendo o meio musical inglês, que conheceste, para comparação — o que mudarias na indústria musical portuguesa? E no público?
Vou contar um caso. Uma vez tive uma conversa com o dono de uma editora, grande. Queriam que fizesse um radio edit de uma música de um artista que estava a produzir. Estava também na conversa uma pessoa de uma rádio mais conservadora e diziam-me: tens de fazer um radio edit daquela música. Respondi-lhes: se quiserem façam, não vou fazer nenhum radio edit porque não acho graça nenhuma a isso. Essa pessoa da rádio disse-me assim: ah, mas vocês têm de fazer radio edit para passar na rádio… O meu objetivo, enquanto músico e artista, é a rádio adaptar-se a mim e não eu adaptar-me à rádio. Isto é a coisa mais presunçosa que eu podia ter dito a um dono de uma editora e a uma pessoa de rádio, mas na verdade é aquilo que sinto e não tenho nenhum problema em dizer isto. Eu enquanto artista quero mudar o mundo — e espero o mesmo de qualquer artista enquanto artista. Porque não podem os artistas querer mudar o panorama? Se eu quiser lançar um single de 6 minutos, ou 5 minutos e 40 segundos, o “Vias de Extinção”, quero lançar. Isto não cabe na rádio? Mudem a rádio. Eu enquanto artista é que tenho de fazer o plano de quanto tempo é que tem a música? Eu faço música!
Obviamente isto tem dois lados e não é uma coisa a preto e branco, mas é a minha missão. A minha missão é não facilitar. Há muitas coisas nas quais sou muito… é quase uma ética política, há um lado ideológico nisso. Hoje em dia as coisas talvez já estejam a mudar, mas houve uma altura em que a ideologia era vista como uma coisa que era um empecilho à vida. Não é nada disso, a ideologia é uma coisa muito importante. Se tiveres valores fortes, provavelmente vais fazer coisas melhores. Se o mundo não tiver valores e não for guiado por valores, não há nada, tudo é uma anarquia, tudo é random, tudo é ao calhas. Vejo-me como um artista e portanto há muitas coisas que quero mudar na [indústria da] música. Quanto ao público, acho que os músicos, se o querem conquistar, têm de fazer o trabalho de ir junto do público. A minha tour “Volta a Portugal em Auto Rádio” foi uma tentativa minha de mudar alguma coisa, não fizemos nenhum concerto em Lisboa e no Porto de propósito. Aquilo foi um bocado aquele fuck you de… existe muita gente em Portugal que não vive em Lisboa e no Porto e não tem acesso a música.
Não apenas a música…
Certo, a arte, a cultura. Mas no meu caso só tenho isto para dar. Claro que aquilo se virou contra nós muitas vezes, porque fomos tocar a montes de sítios desertos. Mas também fomos tocar a sítios e foi altamente. Fomos tocar nas festas populares de Vizela, onde estava o Augusto Canário a tocar no palco principal, e tivemos putos a ir lá ver porque viram na Antena 3 que íamos ali tocar. Tivemos putos a ir lá ver o concerto. Acho que isso é criar público, ir junto do público. Preguei muito no deserto, porque entre o Auto Rádio e o 1986 passámos dois anos a pregar no concerto e a dar concertos com meias salas. Tenho a certeza que se as pessoas gostarem do concerto e tiverem uma ligação com a música, vão voltar e se calhar vão trazer uns amigos.
Essa última expressão é engraçada, porque isso era uma ideia muito presente para os cantores de intervenção, que iam desbravar o país e levar música a sítios mais recônditos. “Traz outro amigo também”.
Sim, sim, completamente. O modelo Zeca Afonso e o modelo dessa altura das coletividades é um modelo no qual também me inspirei muito.
Falávamos há pouco da indústria. Este disco é editado pela Sony Music Portugal. Editar por uma major era um passo natural? Tinha de ser assim?
Era um passo natural e um passo que passei a desejar. Estou em editoras independentes desde os 18 anos e estive ligado à fundação de duas editoras independentes, não fui eu que as fundei mas estive presente no arranque. Foi o caso da Merzbau, que é uma editora de que já ninguém se lembra mas que teve um mini-impacto porque lançou por exemplo Noiserv, B Fachada e lançou-me enquanto Walter Benjamin. A Pataca Discos surge com o Real Combo Lisbonense, é certo, mas também com o disco da Márcia, que eu produzi.
Esta opção tem a ver com a minha música tornar-se cada vez mais o centro da minha atividade pessoal e económica. Toda a minha vida neste momento gira muito mais à volta de eu ser Benjamim do que outra coisa qualquer — e eu quero que seja assim. Chego a um momento em que a Pataca está num processo um bocado de auto gestão, a editora não está propriamente muito ativa por opção própria, e comecei a perceber que precisava de uma estrutura para me acompanhar. E é muito interessante, porque a maneira como estou na Sony é perfeita: estou como artista independente e o que tenho basicamente é uma estrutura que me apoia e que me tem dado todo o apoio de uma forma absolutamente livre, sem pedir grandes satisfações.
Sem imposições?
Não houve nenhuma tentativa de me meterem no que quer que seja do ponto de vista artístico e todos os conselhos e todas as sugestões que recebo são construtivas naquilo que quero fazer. Era o que precisava mesmo, porque às tantas a energia que gastas em tentar ser a tua própria editora das tuas próprias coisas só faz com que percas dinheiro. Neste momento estou concentrado na minha música, a pensar em como o disco pode sair, a pensar no grafismo do disco com as pessoas com quem trabalhei. De repente, tenho uma equipa que me pode ajudar a concretizar isso.
Mesmo a questão de não ser uma balbúrdia do ponto de vista de gestão dos direitos — as editoras independentes às vezes fazem isso pessimamente —, o facto de teres isso organizado de forma profissional e séria é muito importante para que consiga criar melhores condições para a banda tocar, para que consigas pagar-lhes melhor, para que o próprio projeto seja sustentável. Como disse, estive mais de dez anos em editoras independentes e de certa forma quando era puto olhava para as majors como o demónio e deixei cada vez mais de olhar. Tive uma reunião com a Paula Homem em que disse que estava à procura de uma editora e que gostava de trabalhar com a Sony e ela abriu-me os braços e disse: adorava trabalhar contigo, és muito bem-vindo aqui, podes fazer o que quiseres.
Dizias que a tua vida profissional está muito mais centrada no teu trabalho enquanto autor. Isso muda desde logo o tempo que podes dedicar ao teu projeto musical e às tuas canções. Muda mais alguma coisa, na tua relação com a música?
Sim. Por exemplo, comecei a fazer os meus vídeos de uma forma um bocado mais séria. Cada vez mais, o último que fizemos sinto que foi o mais sério. Quero continuar a explorar isso porque criar nesse meio é uma coisa que mesmo artisticamente sinto que me dá prazer e que acho que faz sentido. Obviamente se tens muita coisa para fazer não podes dedicar muito tempo nem alocar recursos a fazer vídeos, portanto é um exemplo de algo que muda. Continuo a trabalhar como produtor e vou começar agora aquele que será o meu último trabalho como produtor durante algum tempo. Vou fechar essa porta durante algum tempo. Agora que vou ter tempo para me dedicar exclusivamente a ser o Benjamim. Quero fazer colaborações, colaborar com outros músicos. Em vez de colaborar sendo o produtor e estando nesse papel, quero fazer música com outras pessoas. Isso é uma das coisas que quero muito fazer. E quero ter um bocado mais tempo para mim pessoalmente. Gosto de tocar ao vivo com a Lena d’Água, quero tocar ao vivo com a minha banda e quero ter tempo também para mim. Em dois anos, produzi Joana Espadinha, Flak, Cassete Pirata e Lena d’Água e deu cabo de mim. Não tive tempo para nada.
Junta-se Festival da Canção…
Junta-se uma série de coisas… sinto mesmo que fisicamente deu um bocado cabo de mim. Tenho um eczema na mão desde o Festival da Canção. Agora está um bocadinho melhor, mas o Festival da Canção foi há três anos. Isto surgiu do stress todo dessa fase da minha vida. Tenho a certeza que isto é uma marca para me lembrar: abranda. E uma das coisas que tenho de fazer é ganhar espaço para a minha vida pessoal.


















