Índice
Índice
Em Portugal, o ensino superior tornou-se um dos magnos temas nacionais e, embora não tenha tanto tempo de antena nos media quanto o ensino básico e secundário (que contam com as insistentes reivindicações e as frequentes greves, protestos e passeatas dos professores da escola pública), passou a ter lugar cativo nas notícias pelo menos em três ocasiões: quando são divulgados os rankings internacionais dos estabelecimentos de ensino superior; quando são divulgados os números de candidatos ao ensino superior e (umas semanas depois) as respectivas colocações; e quando os inscritos que ficaram colocados num estabelecimento de ensino longe de casa descobrem que os preços dos alojamentos oscilam entre o exorbitante e o ultrajante.
A segunda ocasião costuma ocorrer em plena “silly season”, pelo que goza de muito mais atenção do que mereceria. Este ano, a divulgação do número de candidatos constituiu pretexto para que, a 12 de Agosto, a CNN Portugal fizesse uma entrevista a Elvira Fortunato, Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Após uma pergunta inicial sobre o não-assunto do número total de candidatos na 1.ª fase (à volta de 60.000), que a ministra considerou estar “em linha com os dados dos últimos anos”, o jornalista deixou o campo das “amenidades” e passou a assuntos mais incómodos: evocou os dados sobre emprego recentemente divulgados pelo INE, que registaram uma diminuição de 128.000 pessoas empregadas com diploma superior entre o 2.º trimestre de 2022 e o 2.º trimestre de 2023 e perguntou “Isto significa que Portugal não está com capacidade real de fixar aquilo que, muitas vezes, se diz que são os cérebros portugueses e que vão para o estrangeiro porque sentem-se mais reconhecidos lá fora, têm outras condições salariais e outras condições de trabalho?”.
O senhor tem uns dados mas eu prefiro falar sobre outros dados
A questão da “fuga dos diplomados portugueses” não é nova e é de extrema pertinência, pois está imbricada em problemas profundos da sociedade, do sistema de ensino e do tecido económico de Portugal. Compreende-se que o jornalista da CNN tenha tentado fazer dele o tema da parte da entrevista – sem, no entanto, conseguir obter respostas satisfatórias. Recorrendo à gíria académica, pode dizer-se que Elvira Fortunato “chumbou na oral”.
A sua primeira reacção foi ignorar os dados concretos apresentados pelo jornalista e mencionar dados vagos sobre um fenómeno afim: “Pronto. Esses dados foram os dados que vieram agora a público. De qualquer das maneiras, aquilo que eu também gostaria de mencionar, e também com relatórios do mês de Março deste ano, o Boletim Económico do Banco de Portugal, aquilo que também mostra é que os indivíduos que tenham o ensino superior relativamente a quem não tenha o ensino superior têm um salário muito mais elevado do que quem não tem. Portanto, esses dados penso que são extremamente importantes porque no fundo há uma valorização exactamente das qualificações”.
Embora seja uma cientista e recorra amiúde ao advérbio de modo “exactamente”, Fortunato não consubstanciou a “valorização das qualificações” com números, talvez porque estes não apoiam a sua argumentação. Tome-se, por exemplo, a terceira edição do relatório Estado da nação: Educação, emprego e competências em Portugal, promovido pela Fundação José Neves, divulgado a 15 de Junho, com ampla (e justificada) repercussão mediática e cuja existência certamente não passou despercebida à ministra. O título e o pós-título do artigo sobre o relatório no Observador sintetizam as suas conclusões: “Diferença salarial entre jovens com ensino superior e secundário cai para metade numa década e está em ‘mínimos históricos’: Fundação José Neves concluiu que, entre 2011 e 2022, o prémio salarial dos licenciados face a quem tem o secundário encolheu de 50% para 27%. Perda de poder de compra foi maior entre jovens qualificados” (para mais detalhes pode consultar o relatório aqui). Com base nestes dados, o presidente da Fundação José Neves, Carlos Oliveira, citado no Público de 15.05.2023, concluiu que a quebra no “prémio salarial” é um “convite à imigração”.
Em 2020, Portugal superou, pela primeira vez, a média da UE no indicador “percentagem de jovens adultos com ensino superior completo”, o que tem servido para reforçar a ideia de que estes jovens constituem a “geração mais bem preparada de sempre”. Mesmo que fosse verdade, de que serve essa “preparação” se não lhes permite encontrar emprego? Ora, em 2022 a taxa de emprego dos jovens recém-formados portugueses foi de 78%, enquanto a média da UE foi de 81%, um desfasamento que dura, pelo menos, desde 2011 (só em 2017 os valores em Portugal e na UE coincidiram).
Mas o tema do emprego dos recém-diplomados tem outra faceta pertinente: dos recém-formados portugueses que encontraram emprego em 2022, 22% fizeram-no em áreas sem relação com a sua formação e o que é mais preocupante é que esta tendência tem vindo a agravar-se, pois foi de 17% em 2011. O que este desacerto entre área de formação e área de emprego significa não é que arquitectos e engenheiros recém-diplomados estão a trabalhar como veterinários e juristas, mas antes como caixas de supermercado e operadores de call center. E mesmo quem encontra emprego como arquitecto e engenheiro é confrontado com salários de entrada que ficam pouco acima do salário mínimo.
Em resumo: possuir um curso superior ainda proporciona uma vantagem salarial, mas esta tem vindo a diminuir muito rapidamente, o que levará muitos estudantes e famílias a perguntar-se se valerá a pena investir tempo, dinheiro e energia num curso superior.

Pátio interior do Palazzo dell’Archiginnasio, construído em 1562-63 e que, entre 1563 e 1803, foi a sede da Universidade de Bolonha, que foi fundada em 1088 e é considerada a universidade mais antiga do Ocidente
Saídas e entradas: Introdução à Contabilidade Criativa
Na entrevista mencionada, Fortunato tentou desvalorizar a “fuga de diplomados”, dando a ideia de que esta é uma manifestação natural da livre circulação de talento no mundo globalizado: “Relativamente a termos fugas, temos fugas, mas também temos entradas, portanto, eu penso que nestas áreas temos licenciados, ou temos indivíduos nacionais que optam por ir para o estrangeiro, mas por outro lado também temos as portas abertas e recebemos indivíduos com qualificações que escolhem Portugal para viver porque, para além também dos salários, eu penso que o país oferece condições até talvez únicas comparativamente com outros países, nomeadamente em termos de segurança, em termos também de nível de vida, que, se calhar, é uma alternativa e também é qualquer coisa de positivo e que faz com que tenhamos também indivíduos a vir para Portugal também com qualificações mais elevadas”.
Fortunato não quantificou as “entradas” (dificilmente o faria, mesmo que estivesse na posse do número, pois são seguramente insignificantes face às 128.000 saídas) e, perante resposta tão insatisfatória, o jornalista voltou à carga e Fortunato tentou escapulir-se novamente: “De certeza que todas essas pessoas não resolveram sair de Portugal somente por questões económicas, porque, como acabei de referir, os dados a nível nacional, nomeadamente o Boletim Económico de Março deste ano, do Banco de Portugal, mostra que um indivíduo com qualificações, nomeadamente com o ensino superior ou simplesmente com uma licenciatura tem um salário bem mais superior, portanto, em termos, os prémios salariais são muito superiores relativamente a quem não tem. Eu penso que também existirão outras razões para além das económicas que fazem com que jovens com qualificações optem por sair do país”.
Ou seja: segundo Fortunato, como os diplomados portugueses ganham muito bem em Portugal, se saem do país, fazem-no por razões extra-económicas – que Fortunato não nomeou.
Perante nova insistência do jornalista, Fortunato apresentou, por fim, alguns números: “mais de 50% dos cientistas que trabalham em Braga no Laboratório de Nanotecnologias não têm nacionalidade portuguesa” e “no I3S, no Porto, 32% dos cientistas que lá trabalham não têm nacionalidade portuguesa”. E explicou: “Se não tivermos esta mobilidade também não mostramos o que de bom e de muito bom se faz em termos científicos a nível nacional”.
Obviamente que nem o jornalista da CNN nem ninguém no seu juízo contestará os benefícios do cosmopolitismo nos centros de investigação e da livre circulação internacional de investigadores; só que aquilo com que Fortunato estava a ser confrontada é completamente diverso: é uma hemorragia avassaladora de diplomados, a ponto de num ano se perderem mais do que todos os que o ensino superior português forma em dois anos. Para mais, a fracção de diplomados – em Portugal ou em qualquer país do mundo – que segue carreira de investigação é uma fracção ínfima do total, pelo que tentar explicar a saída de 128.000 diplomados/ano com a mobilidade internacional de investigadores é um malabarismo inepto.

A fundação da Universidade de Oxford costuma ser situada em 1096, o que faz dela a mais antiga das Ilhas Britânicas. Das faculdades que a compõem, o Merton College (na foto), fundado em 1264, disputa com o Balliol College e o University College a primazia na antiguidade
Mas se as justificações de Fortunato são inválidas, também a adopção do termo “fuga de cérebros” para designar a saída para o estrangeiros de diplomados portugueses é inadequada: a maior parte deles não são “cérebros”, são meramente jovens que cumpriram, sem gosto, dedicação ou brilho, o seu percurso académico e receberam de uma instituição de ensino superior um diploma que o comprova. No estrangeiro, a maior parte deles não conseguirá ser aceite em empregos correspondentes às suas áreas de formação e habilitações e resignar-se-á a preencher postos de trabalho não-especializados e com baixas remunerações (para o padrão do país de destino, mas razoáveis para o padrão salarial português), frequentemente na área da restauração ou da agricultura. Outros, mais talentosos, empenhados e afortunados, irão encontrar trabalho condizente com as suas habilitações e receber condignamente por isso (é o caso dos muitos enfermeiros portugueses no Sistema Nacional de Saúde britânico). Finalmente, uma pequena minoria correspondente, esta sim, aos famigerados “cérebros”, será acolhida em institutos de investigação e de ensino superior pelo mundo fora. Elvira Fortunato, por ter consagrado a sua vida à investigação, terá ficado tão alheada da realidade que julgará que – em Portugal ou em países mais desenvolvidos – é essa a saída profissional da maioria dos diplomados?
Perante a obstinação do jornalista em rebater os seus pífios argumentos sobre o presente, Fortunato acabou por fugir para o futuro: “Eu penso que o país tem condições únicas, nomeadamente com o PRR, nós temos vários projectos, nomeadamente, por exemplo, as Agendas Mobilizadoras, que estão a empregar uma série de indivíduos com qualificações mais elevadas e é uma oportunidade única, exactamente para nós retermos estes licenciados e estes indivíduos, sejam nacionais ou tenham optado por vir para Portugal trabalhar, e que neste momento têm oportunidades únicas, aliás, neste momento, até 2026, pelo menos, temos em Portugal uma oportunidade única, como nunca tivemos, porque temos fundos acessíveis, temos um dinamismo muito grande das nossas economias, como já disse, temos cinquenta e uma Agendas Mobilizadoras, que vão dinamizar a economia, as indústrias nacionais, e estou muito esperançada que parte desses cérebros, ou dessas pessoas que saíram para fora de Portugal, num futuro próximo elas vão regressar. Ou outras, irão regressar também”.
Já cá faltava o mirífico Plano de Recuperação e Resiliência, as especiarias da Índia e o ouro do Brasil da terceira década do século XXI, a panaceia para todos os estrangulamentos e vícios crónicos da sociedade, do Estado e da economia de Portugal. Desta vez é que vamos começar a “convergir” a sério, desta é que vamos dar o golpe de rins que permitirá que deixemos a “cauda da Europa”, como se, desde 1985, não tenhamos depositado esperanças similares em cada novo pacote de financiamento vindo da Europa “rica”, saudado sempre como “oportunidade única” e sempre ingloriamente dissipado, sem gerar as almejadas “reformas estruturais”.

Lisboa, Pavilhão do Conhecimento, 16 de Junho de 2021: António Costa recebe de Ursula von der Leyen o primeiro “cheque” (2200 milhões de euros) do PRR e pergunta “Já posso ir ao banco?”, uma frase reveladora do entendimento que Portugal tem da UE e dos fundos europeus
A síndrome de Pangloss
A nomeação de Elvira Fortunato e de Helena Carreiras para os cargos ministeriais no Ensino Superior e Ciência e na Defesa, respectivamente, foi bem acolhida e gerou expectativas positivas, por se tratarem de duas investigadoras com uma carreira brilhante e reconhecimento internacional, como se houvesse alguma relação entre as qualidades necessárias para se ser um bom académico e as qualidades necessárias para se ser um bom governante. Para mais, as avaliações a priori de nomeações ministeriais não levam em conta o forte constrangimento a que o desempenho de tais cargos está sujeito face às regras (não-escritas) do moderno debate político: estas atribuem a todos os governantes a obrigação de espalhar aos quatro ventos de que vivemos no melhor dos mundos (como o Dr. Pangloss do Candide, de Voltaire), tudo corre às mil maravilhas, ou, pelo menos, está bem encaminhado e que o país só não entrou ainda numa Era de Ouro devido aos desmandos cometidos pela presente oposição quando foi Governo e a uma aziaga sucessão de calamidades de âmbito global a que o Governo é alheio. Por outro lado, cabe à oposição a tarefa de pintar a Nação como se estivesse à beira do precipício, de agitar indicadores socio-económicos que só têm par na província mais desvalida do Afeganistão ou do Haiti e de reprovar (“arrasar”, como agora soi dizer-se) todas as medidas tomadas pelo Governo, ainda que algumas sejam sensatas e que alguns desses opositores tivessem tomado medidas análogas quando foram Governo e não se coíbam de voltar a tomá-las se regressarem ao poder.
Que expectativas envolvem o convite de um brilhante e multipremiado académico para um alto cargo governamental? Quem convida não ambiciona operar uma revolução naquela área de governação, apenas quer uma pluma vistosa para adornar a sua equipa e, ao mesmo tempo, dar a ideia de que o Governo tem composição diversificada, está aberto à “sociedade civil” e não é um clube exclusivo de “boys e “girls” do partido. Quem aceita o convite, fá-lo, na maior parte das vezes, não por vaidade nem por contar com as mordomias inerentes ou com ganhos de influência (sejamos generosos), mas por julgar ser capaz de implementar medidas inovadoras e meritórias que irão melhorar decisivamente a área sob a sua tutela. Não conta que boa parte dessas boas intenções ficarão enredadas nos obstáculos, empecilhos e compromissos inerentes ao mundo da política e da burocracia estatal, que se rege por regras diversas das do mundo da ciência e da investigação académica. E também não é capaz de antever que as leis de aço da comunicação política requerem – a bem da preservação do Governo contra os encarniçados assaltos da oposição, que está sempre em busca de uma fissura na muralha e não conhece gáudio maior do que exibir cabeças de governantes na ponta de um chuço – que nunca se reconheça um erro, um equívoco, um lapso, uma distracção, uma inoperância, uma incompetência, uma impotência, um fracasso, um objectivo não alcançado; que se esquive a perguntas incómodas; que responda a alhos com bugalhos; que recorra a argumentação falaciosa; que use os dados estatísticos segundo as suas conveniências; e que irradie constantemente um “optimismo irritante”.
Terminado o mandato, os comentadores e analistas políticos concluirão, com alguma surpresa, que as luminárias do mundo académico em quem se depositavam tão altas esperanças acabaram por não ter prestação muito melhor da que teria um qualquer “boy” ou “girl” de modestas capacidades intelectuais, com carreira iniciada nas juventudes partidárias, sem curriculum fora da política e a quem nunca se ouviu a sombra de uma ideia ou de um desígnio para o país, mas que tem a seu favor a desenvoltura, a prosápia e o “jogo de cintura” ganhos no “roteiro da carne assada” e nas tricas das concelhias e distritais. Compreende-se que os académicos-convertidos-em-políticos falhem num meio para o qual não foram talhados e de cujas engrenagens pouco sabiam no dia da tomada de posse; mas é mais difícil aceitar que se entreguem aos mesmos jogos de contorcionismo e mistificação verbal dos políticos de carreira.
A frouxa entrevista de Fortunato à CNN poderia funcionar como advertência a todos os académicos de sucesso e sem experiência política que sejam convidados para ministros ou secretários de Estado: num prato da balança estão quatro anos de afastamento daquilo que sabem fazer bem; no outro prato, estão, com elevada probabilidade, um farfalhudo ramalhete de frustrações e o empanamento da aura de discernimento e probidade conquistada em décadas de carreira académica.

O King’s College, fundado em 1441 por Henrique VI, é uma das mais conhecidas faculdades da Universidade de Cambridge, que foi fundada em 1209 e mantém uma longa rivalidade com a Universidade de Oxford
Desfasamentos entre oferta e procura
Se é óbvio – excepto para quem esteja amarrado às obrigações da propaganda política – que a quebra acentuada do “prémio salarial” pago em Portugal aos diplomados é um “convite à imigração”, impõe-se que nos questionemos sobre as razões dessa quebra.
● Uma delas decorre do mais elementar aspecto das leis da oferta e da procura: no tempo em que os licenciados eram raros, os empregadores tinham de os disputar entre si e estavam dispostos a pagar bem para os cativar; a massificação do ensino superior inundou o mercado de diplomados (o número de alunos matriculados no ensino superior em Portugal passou de 81.500 em 1978 para 433.000 em 2022), portanto os empregadores já não precisam de se esforçar para os aliciar.
● A massificação do ensino superior processou-se a um ritmo muito mais rápido do que a modernização e sofisticação do tecido económico português. Portugal passou a produzir mais diplomados mas o país só criou postos de trabalho para alguns deles; em contrapartida, tem muitas vagas para empregados de mesa, nadadores-salvadores, trabalhadores agrícolas, jardineiros, entregadores de pizzas e motoristas de autocarro.
● Os empresários portugueses são, eles mesmo, pouco escolarizados, pelo que não se sentirão inclinados a contratar trabalhadores com mais habilitações do que eles. Em 1992, 79% dos empresários portugueses não tinham concluído sequer o ensino secundário; essa percentagem desceu para 55% em 2018 e para 48% em 2022 e é previsível que continue a cair, mas tenderá a manter-se mais alto do que os dos nossos parceiros europeus.
● As áreas de formação dos diplomados gerados pelo ensino superior não correspondem necessariamente às áreas de formação de que o mercado de emprego necessita. Este último parece estar ávido de especialistas em informática (entre 2014 e 2022, segundo o relatório da Fundação José Neves, o emprego de diplomados nesta área aumentou a uma taxa cinco vezes superior à do emprego geral), mas não tem uso para as multidões de diplomados em relações internacionais e comunicação social que saem todos os anos das universidades.
● A empregabilidade não depende apenas dos cursos: a idoneidade (real ou percebida) dos estabelecimentos de ensino conta também muito. Por exemplo, o sector turístico queixa-se sistematicamente de falta de mão-de-obra, mas pode haver poucos interessados em contratar diplomados em Turismo pela Escola Superior de Tecnologias de Fafe (um dos cursos com maior percentagem de recém-diplomados desempregados em 2017).
● A qualidade média dos diplomados em certos cursos e em certos estabelecimentos de ensino é hoje muito fraca e explica que os empregadores não vejam neles qualquer utilidade.
Nota: Há que olhar criticamente para os dados sobre empregabilidade dos cursos. Por um lado, o facto de os recém-diplomados estarem empregados não significa que estejam empregados na sua área de formação e, mesmo sendo o emprego na sua área, ele pode ser precário, mal pago e sem perspectivas de futuro. Por outro lado, há anomalias estatísticas que podem criar imagens seriamente distorcidas; por exemplo, o facto de, em 2017, os cursos de Teologia na Universidade Católica de Lisboa e de Estudos Comparatistas na Universidade de Lisboa terem figurado entre os que tinham menor taxa de desemprego não recomenda que milhares de jovens se voltem para Santo Agostinho de Hipona, São Tomás de Aquino e Atanásio de Alexandria na esperança de que eles lhes garantam emprego estável e bem remunerado.

Uma épica batalha teológica: Tomás de Aquino derrota Averróis, por Giovanni di Paolo (1450). O frade dominicano italiano Tomás de Aquino (Tommaso d’Aquino, 1225-1274) e o filósofo andaluz Averróis (Ibn Rushd, 1126-1198) nunca se encontraram, mas Tomás de Aquino redigiu várias refutações do pensamento de Averróis, nomeadamente De unitate intellectus contra averroistas (1270). No quadro, Averróis parece, mais do que derrotado, enfadado – uma condição que aflige muitos estudantes universitários, de teologia e de outras matérias
Ad augusta per angusta: o caminho para a universidade
A fraca qualidade de muitos jovens diplomados raramente é mencionada como uma das causas da dificuldade destes em encontrar emprego e, quando o é, é veementemente rejeitada por reitores e governantes, uma vez que põe em causa a excelência do ensino superior em Portugal, e pelos pais dos diplomados, pois desfaz a ideia de que os seus rebentos são sobredotados e que a conclusão de um curso superior é sempre um feito intelectual admirável. Porém, esse declínio de qualidade é uma realidade indesmentível, bem patente nas reacções (off the record) dos professores universitários com uns bons anos de experiência perante as fornadas mais recentes de alunos: “Não sabem interpretar o que lêem”, “Não sabem exprimir-se”, “Não sabem pensar”, “Não sabem estudar”, “Estão sempre agarrados aos smartphones”, “A sua bagagem cultural resume-se à cultura pop juvenil”, “Tenho vindo a simplificar os programas, caso contrário reprovariam todos”…
O problema vem dos ensinos básico e secundário, com o seu facilitismo generalizado, os obstáculos criados a qualquer professor que entenda que um aluno não adquiriu as competências necessárias para transitar de ano, as “passagens administrativas” e a galopante inflação das notas. As notas internas no 12.º ano (dados de 2023) são eloquentes: nas escolas públicas as notas 19 e 20 representam 19% do total (41% nas escolas privadas) e as notas 16-18 representam 37% do total (35% nas escolas privadas). Se, aos 18 anos, um em cada três portugueses é um génio, como se explica que o país não abarbate dois ou três Prémios Nobel todos os anos?

Distribuição de Prémios Nobel por país, dados de 2022. Portugal tem dois Prémios Nobel
O empolamento das notas internas é um fenómeno generalizado, mas não tem distribuição uniforme: abrange todo o percurso escolar, mas atinge o pico de intensidade no 12.º ano; e afecta todas as escolas do país, mas atinge proporções mais escandalosas nalgumas escolas privadas, que, assim, colocam os seus alunos em posição de vantagem no acesso ao ensino superior e usam esta “bónus” como chamariz para atrair alunos.
Se o empolamento das notas é impossível de desmentir, o facilitismo é um fenómeno mais subjectivo e é energicamente negado pelos governantes e pelos pedagogos que definem os programas e a avaliação. Uma das suas facetas mais evidentes é o peso crescente das questões com resposta de escolha múltipla nos testes e exames (um descanso para alunos e professores!) e, sobretudo, a crescente penetração deste tipo de questões nos testes de línguas, história ou filosofia, áreas em que se esperaria que a capacidade de expressão e desenvolvimento de ideias e a bagagem cultural do aluno fossem valorizadas. Ora, quando os exames de filosofia forem integralmente preenchidos por questões de escolha múltipla, está aberta a possibilidade de um chimpanzé obter a melhor nota da escola.
Este abaixamento da fasquia de exigência no ensino básico e secundário é fruto de uma “nova pedagogia” que tomou conta de boa parte do mundo ocidental e que Jean-Paul Brighelli denunciou em La fabrique du crétin: La mort programmée de l’école (2005) nestes termos: “A nova pedagogia está para a verdadeira pedagogia como a nouvelle cuisine esteve, em tempos, para a gastronomia: nada no prato – mas que discurso como acompanhamento!”.
O que é ainda mais inquietante é que o abaixamento da qualidade do “produto” tem sido acompanhado de um aumento dos “custos de produção”: em Setembro de 2021, Tiago Brandão Rodrigues, então Ministro da Educação, afirmou que o gasto médio anual do Estado por aluno do ensino secundário tinha passado de 4700 euros em 2015 (no início do seu mandato) para 6200 euros em 2021, o que representa um aumento de cerca de 30% em seis anos e é um valor superior ao que algumas escolas privadas bem cotadas nos rankings cobram de propinas. Não foram divulgados os dados e pressupostos dos valores apresentados por Brandão Rodrigues (estatísticas da OCDE apontavam, em 2019, para um gasto anual por aluno português de 10.584 euros – 9264 euros no 1.º e 2.º ciclos do ensino básico e 11.500 euros no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário), mas o que merece ser relevado é o ministro ter referido este aumento com orgulho, alinhando com a “lógica” de que toda a despesa com educação é virtuosa.
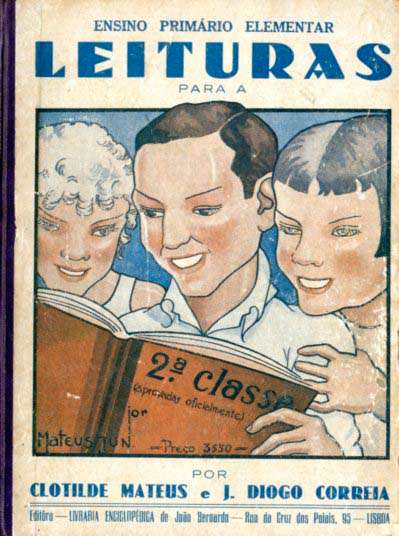
Livro de leituras para a 2.ª classe, de 1934, por Clotilde Mateus & J. Diogo Correia e ilustrado por Mateus Júnior
Para onde vai o dinheiro investido em educação: um caso exemplar
Uma das peças mais preciosas da minha colecção de recortes de jornal (que os leitores perdoem o carácter pessoal desta nota e o atavismo pré-Internet que é recortar notícias) é o artigo “Investimento de 35 milhões de euros nas escolas de Beja não reduziu o insucesso escolar”, surgido no Público de 13.12.2013. A decepção implícita no título decorre, naturalmente, das crenças, muito difundidas em Portugal, de que 1) os problemas resolvem-se despejando dinheiro sobre eles e 2) a educação se faz com betão, tijolos e gadgets.
Examinemos o fiasco mais de perto:
A Escola Superior de Tecnologias e Gestão de Beja do Instituto Politécnico de Beja custou 10 milhões de euros e foi dimensionada para 3000 alunos, mas recebeu, em 2013, apenas 823.
A Escola Secundária Diogo de Gouveia devorou 12 milhões em remodelações e ganhou a) um pavilhão polidesportivo novo (1.4 milhões de euros) que tem “pouca utilização no Inverno porque chove lá dentro”; b) quadros interactivos (a panaceia pedagógica que permitiria a quem não sabe ensinar a quem não quer aprender) que não são usados porque “os professores alegam que não tiveram formação para os manusear”; c) ar condicionado que “provoca um choque térmico com o ambiente exterior” (o que leva a presumir que a temperatura do ar condicionado ou não é regulável, ou ninguém sabe regulá-la ou quem faz a regulação é um sádico ou um sandeu – nenhuma das alternativas é tranquilizadora). Porém, a Parque Escolar parece ter ficado orgulhosa do trabalho feito e apresenta detalhada documentação fotográfica que permite confrontar a lúgubre e antiquada escola pré-intervenção com a luminosa e moderna escola pós-intervenção.

Escola Secundária Diogo de Gouveia, Beja (após a remodelação)
Noutras escolas do distrito de Beja, novas ou remodeladas, o ar condicionado não funciona e são insuportavelmente quentes no Verão e geladas no Inverno, uma situação duplamente paradoxal, já que estamos em Portugal (país afamado pelo clima ameno e pela excelência dos seus arquitectos ) e no século XXI (com fulminantes avanços em materiais, tecnologias de construção e domótica), o que permitiria, mesmo a um arquitecto sofrível, combinar conforto térmico e sustentabilidade.
Interlúdio: espreitadela para um universo paralelo
Uma realidade de que raramente se fala quando se discute a escola e a aprendizagem é o desmesurado crescimento de um sistema de ensino paralelo, ou seja, do complemento das aulas propriamente ditas com “explicações” – para quem pode pagá-las – e “estudo acompanhado” e “aulas de recuperação” – providenciados pela escola a quem não tem meios para pagar explicações.
As explicações sempre existiram, mas estavam ao alcance de poucas famílias e incidiam sobretudo no último ano do ensino secundário, cujos resultados são determinantes para o acesso ao ensino superior, mas hoje são transversais a quase todos os estratos sociais, abrangem todas as disciplinas e, nalguns casos, acompanham os jovens do 1.º ao 12.º ano; dantes eram prestadas apenas por alguns professores, na sua própria casa e nas suas horas livres; hoje, a procura por explicações é tal que justifica que existam “centros de explicações”, “academias” e “ginásios da educação”, que empregam explicadores a tempo inteiro e providenciam explicações em todas as disciplinas imagináveis, alguns deles integrados em redes empresariais que detêm dezenas de centros, do Minho ao Algarve.
É, pois, legítimo perguntar de que serve o Estado português despender anualmente cerca de 10.600 euros por aluno no sistema de ensino público, se um número crescente desses alunos precisam que alguém lhes ensine o que deveriam ter aprendido nas aulas “regulares”? É como ir jantar todas as noites a um restaurante carote e modernaço e sair-se de lá sempre com uma larica que requer passagem imediata pela tasca mais próxima.
O papel da escola-sombra tornou-se tão relevante que turva a (já de si complexa e polémica) leitura dos rankings anuais de escolas secundárias. Sem dúvida que estes rankings fornecem informação relevante e foi meritória a luta travada contra o Ministério de Educação em prol da sua divulgação, mas há que considerar que o desempenho dos alunos reflecte não só a qualidade do ensino ministrado na escola em que estão matriculados como a qualidade das explicações que frequentam. É uma grande injustiça para os explicadores que, quando são divulgados os rankings, todo o mérito seja atribuído aos professores e à direcções das escolas e os jornalistas assediem estes para que revelem o segredo do sucesso e ignorem completamente o formidável trabalho feito na sombra.
Porém, se o seu labor não é reconhecido publicamente, os explicadores gozam de vantagens nada despiciendas: no mundo das explicações, os professores são bem pagos, não têm de haver-se com a indisciplina, a desatenção e a insolência dos alunos, não têm de perder tempo com burocracias e não há notícia de que alguma vez tenham feito greve; no mundo da escola pública, os professores queixam-se dos salários de miséria e dos bloqueios à progressão na carreira, são levados à exasperação pelo comportamento dos alunos e são sobrecarregados pelo Ministério da Educação com intermináveis obrigações burocráticas (boa parte delas bizantinas ou asininas), o que explica que andem há anos em greves e manifestações. Muitos professores vivem em simultâneo nos dois mundos (ainda que, desde 2005, lhes seja interdito dar explicações a alunos do agrupamento de escolas em que leccionam) e não é descabido imaginar que quem conheça ambos os lados aspire a que o trabalho do professor no mundo da escola pública decorresse em moldes similares aos do mundo das explicações. Claro que é um sonho irrealizável e se, por absurdo, a escola pública sofresse tal mutação, o mundo paralelo das explicações tornar-se-ia redundante e ficaria reduzido aos alunos de elite empenhados em obter notas que garantam entrada em Medicina, Engenharia Aeroespacial e outros cursos “de topo”.
Vale a pena sublinhar o óbvio: a crescente pujança da escola privada e das explicações é consequência do declínio da qualidade média da escola pública, na mesma medida em que a crescente pujança das clínicas e hospitais privados e dos seguros de saúde é consequência do declínio da qualidade média da saúde pública.

Um precursor das explicações: O príncipe Karl Ludwig (1617-1680), futuro Eleitor do Palatinado, recebe uma lição do seu tutor, Wolrad von Plessen, quadro por Jan Lievens, 1631
A universidade como forja de cidadãos: “Mulher gorda” e outras vivências marcantes
Concluído o 12.º ano, os alunos estão prontos a ingressar no ensino superior. Em 2022, entre cerca de 60.000 candidatos apenas 19% não conseguiram colocação na 1.ª fase, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, fazendo notar que esta percentagem fora de 23% em 2021, congratulou-se com o “crescente ajustamento entre a procura dos estudantes e a oferta das instituições” [sic]. Em 2023, entre cerca de 60.000 candidatos apenas 16% não conseguiram colocação na 1.ª fase, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior congratulou-se com o “crescente ajustamento entre a procura dos estudantes e a oferta das instituições” [sic].
Depreende-se daqui que, para o Ministério, o ideal seria que todos os candidatos ao ensino superior fossem colocados, ou seja, que não houvesse qualquer selecção – uma ideia que provavelmente colheria a simpatia de alunos e pais. Levando este raciocínio mais longe, talvez o melhor fosse poupar os jovens à maçada de estudar assuntos sem interesse algum e de arrostar com o stress gerado por testes e exames e entregar-lhes um diploma universitário logo quando fazem o “teste do pezinho”.
A ânsia dos alunos em entrar na universidade tem par na ânsia da universidade em recebê-los, pois está instalada uma intensa competição entre escolas superiores para cativar alunos, em resultado de 1) o financiamento das universidades públicas pelo Estado ser proporcional ao número de alunos, 2) os rendimentos das universidades privadas serem proporcionais ao número de alunos, e 3) a “base de recrutamento” estar em diminuição (Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo).

A Sorbonne no século XVI: O Collège de Sorbonne, fundado em 1257 pelo teólogo Robert de Sorbon, é a mais famosa instituição da Universidade de Paris, que foi fundada em meados do século XII e oficialmente reconhecida por Filipe II de França em 1200
O facilitismo nos ensinos básico e secundário e a baixa pressão de selecção na admissão à universidade (com excepção dos cursos “de topo”) fazem com que a qualidade média da “matéria-prima” admitida em muitas instituições de ensino superior tenha declinado, o que tem compelido as instituições a baixar também o nível de exigência dos seus cursos. É uma medida compreensível: o aluno médio, que não tem vocação definida nem se interessa genuinamente por nada e apenas ambiciona obter um diploma qualquer, dificilmente será atraído por uma escola com reputação de exigência, ou, como reza a sabedoria popular, não se apanham moscas com vinagre (ver capítulo “A universidade-empresa, o estudante-consumidor e o conúbio entre ciência e cupidez” em Platão, Nietzsche e Mick Jagger: Entre guerras culturais e crises civilizacionais).
Deste modo, muitos cursos ditos superiores não correspondem realmente a um patamar superior de exigência e de conhecimento, e, na prática, não pedem dos alunos muito mais do que lhes pedia a escola secundária. E, uma vez que muitos alunos fizeram boa parte do percurso escolar no básico e secundário apoiados em explicadores, também a eles recorrem na universidade.
A escola-sombra não cessa de expandir e diversificar a sua actividade e, quando chega a altura de redigir trabalhos mais elaborados ou teses de licenciatura e mestrado, ela, sempre prestável, também oferece serviços online que produzem trabalhos e teses por encomenda, sobre todos os temas imagináveis e em tempo recorde. Quando faltam capacidades, empenho e tempo para produzir trabalhos e teses pode considerar-se o recurso ao plágio, velho método que a Internet e os softwares de tradução tornaram infinitamente mais fácil e a que a adopção pelas escolas de software de detecção de plágio tenta fazer face.
Para lá da infinidade de fontes de “inspiração” proporcionada pela Internet, o imparável progresso tecnológico já se prepara para fornecer mais uma inestimável ajuda aos estudantes universitários menos inclinados ao estudo, à reflexão e à escrita: o ChatGPT e chatbots similares ainda são susceptíveis de aperfeiçoamento, mas já estão prontos a começar a produzir todos os trabalhos e teses que se queiram, em segundos e sem gastar um cêntimo (o que tornará a escola “mais democrática”).
Não parecem haver significativas objecções pedagógicas, morais ou filosóficas a que se dê este passo, uma vez que, em Junho passado, “numa das sessões mais concorridas do Collision, o evento-irmão da Web Summit, em Toronto”, tendo por tema “a inclusão da inteligência artificial em ambiente escolar”, “os peritos concordaram que esta é uma revolução que peca por tardia” e a resposta da plateia “foi unânime: todos os presentes levantaram a mão quando questionados sobre quanto teriam gostado de ter ao seu alcance, nos tempos da escola, uma ferramenta do tipo ChatGPT” (Público, 20.06.2023). E como, ao contrário do que se pensa, o rumo do mundo não é, hoje, decidido nos parlamentos nacionais ou no Parlamento Europeu, nem nas reuniões dos conselhos de ministros e conselhos de Estado, nem nas cimeiras do G7 ou do G20, mas nas missas laicas da Web Summit, Collision e similares, onde os sumos-sacerdotes e profetas da Igreja do Cibercapitalismo Pantocrator revelam às plateias de tecnólatras em êxtase que o futuro da Humanidade está ao virar da esquina e será mais frio, mais “conveniente” e mais desumano, é quase garantido que, dentro de poucos anos, com o alheamento, a passividade ou a aprovação de governantes, reitores e conselhos pedagógicos, os chatbots e outras formas de inteligência artifical serão omnipresentes no ensino (universitário e pré-universitário), esvaziando este do pouco sentido que ainda não tinha sido destruído pela burocracia e por teorias pedagógicas desmioladas e embotando o desenvolvimento da inteligência natural dos alunos.
Todas estas “conveniências” e “facilidades” libertam o estudante universitário para fruir a “experiência académica” – só se têm 20 anos uma vez na vida! – e cada vez mais universidades se empenham em publicitar não a excelência do seu ensino e os seus contributos para o progresso da ciência e da tecnologia, mas os equipamentos de lazer e as actividades de “socialização” que disponibilizam.
Se o baixo nível de exigência apraz aos alunos, em contrapartida, lá no fundo da sua mente, poderá medrar alguma desilusão por o ensino superior, que foi a sua meta durante a adolescência, se revelar, afinal, pouco diferente do que já conheciam. É para dar ao aluno universitário a impressão de que “subiu de nível” quando transpôs os portões da universidade, que agora faz parte de uma elite intelectual e que assenta nos seus ombros “o futuro da nação”, que os bafientos rituais académicos, que tinham entrado em declínio e só persistiam em Coimbra, regressaram com redobrada força com a massificação do ensino superior e foram fervorosamente adoptados, em nome da “tradição”, até em estabelecimentos de ensino superior acabados de criar.

A Universidade de Coimbra é a mais antiga de Portugal, assumindo-se 1290 como data da sua fundação (ainda que esta tenha tido lugar em Lisboa e a universidade tenha saltitado entre as duas cidades – só em 1537 assentou definitivamente em Coimbra). A torre à esquerda foi erguida em 1728-33, segundo plano do arquitecto Antonio Canevari
Os “trajes académicos”, as “recepções ao caloiro” (cuja boçalidade e violência física e psicológica reproduzem as das provas de iniciação infligidas no serviço militar que os jovens mancebos já não têm obrigação de cumprir), as “queimas das fitas” (reorientadas e reformuladas em função dos interesses da indústria de bebidas alcoólicas) e as “tunas académicas” (afinadas pelo diapasão da música pimba) são práticas que têm sido consentidas, encorajadas e até apoiadas materialmente pelas reitorias (que só de distanciam delas quando algum “ritual iniciático” mais estúpido resulta em mortes ou quando os serviços de urgência ficam entupidos com casos de coma alcoólico) e são hoje parte integrante da “experiência académica”. Na verdade, serão estas ocasiões de “socialização” – não as matérias leccionadas, um professor particularmente eloquente e cativante, o maravilhamento quando da descoberta de uma nova faceta da realidade, a admiração pela simplicidade e elegância de uma fórmula ou equação, a descoberta de uma vocação – que constituirão o legado mais indelével dos anos passados na universidade e a letra da “Mulher gorda” permanecerá gravada nas memórias dos alunos muitos anos depois de os derradeiros resquícios dos escritos de Émile Durkheim, da estrutura da molécula de ADN e das leis fundamentais da termodinâmica se terem dissipado – o que, aliás, costuma ocorrer poucos dias após o derradeiro exame, hoje mais rapidamente do que outrora, pois há a justificação de que é escusado entulhar a caixa craniana com informação espúria quando “está tudo na Net”.

Alunos da Universidade de Bolonha: detalhe do túmulo de Giovanni da Legnano, jurista e professor de direito civil e direito canónico na Universidade de Bolonha, da autoria do escultor e arquitecto Pierpaolo dalle Masegne, c.1383-86. Os alunos que entendem que usar os capuzes das suas sweatshirts sobre a cabeça é compatível com a dignidade da sala de aulas têm aqui um antecedente histórico que podem invocar
A visão empresarial adoptada pelas universidades e a pressão governamental sobre o sistema de ensino para produzir estatísticas que dêem boa imagem do país nas comparações internacionais levam a que a maioria dos cursos superiores privilegiem a maximização do número de diplomados produzidos com um mínimo de custos. Daí o empenho das escolas superiores em limpar o percurso dos alunos de obstáculos e maçadas – e, no entanto, mesmo com o caminho aplanado, apenas 30% dos estudantes portugueses concluem a licenciatura nos três anos previstos, contra 39% de média na OCDE.
Claro que uma licenciatura “pós-Bolonha”, sobretudo se corresponder a um curso sofrível numa universidade sofrível e for concluída com notas sofríveis, não vale muito mais do que um diploma do 12.º ano. Mas a universidade tem soluções para apresentar aos alunos a quem acaba de entregar um diploma sem grande valor prático – esse é o assunto da parte 2 deste artigo.













