“Indignar-me é o meu signo diário./ Abrir janelas. Caminhar sobre espadas”
O “pasmado sem cura”, como ele se dizia, deixou-nos há um quarto de século. Para usar uma formulação sua, gramava a vida, com tudo se espantava e queria morrer mais lá para o verão. Morreu no outono, a 30 de novembro de 1995. A sua morte foi lida como um episódio literário-cinematográfico: aconteceu à frente de uma livraria (a Buchholz), sítio onde ia buscar novas palavras, ou seja: novos motivos para se espantar. Para pasmar com isto tudo.
Certa vez, em entrevista, à questão “Consideras-te deprimido, introvertido, extrovertido, calmo, fogoso? A que signo pertences? Dá-lhes importância?”, Fernando Assis Pacheco respondeu com o seu drible verbal para confundir o pagode: “A partir do fim: sou Aquário, mas não ligo peva. Sou todos os adjetivos da pergunta, mas também inteligente, esquizóide, reinadio, arrebatado, ponderado e extravagante, embora à vez para não chatear o indígena”. Sim, aquele que nasceu a 1 de fevereiro de 1937 num rés-do-chão da rua Guerra Junqueiro, Coimbra, e depois foi vO “Pasmado Sem Cura” Morreu Há 25 Anosiver para o Bairro dos Olivais (consagrado no livro de poemas Variações em Sousa), na mesma cidade, não se poupava nas entrevistas. E nas comunicações.
“Tenho uma comunicação muito grave/ a fazer Vossas Excelências/ pior que o meu estado de saúde/ é a corrupção nas altas esferas”
Fintemos a resposta para dizê-lo sem cautelas: mesmo considerando o seu lastro de bonomia, Assis, como era conhecido entre os comparsas, chateou de quando em vez o indígena. Que, diga-se, merece ser chateado, até para não ficar demasiado contentinho com a imagem que de si faz. Em prosa de jornal do início dos anos 70, intitulada “Ah, a grande noite do Fado”, atreveu-se a provocar o sagrado género musical:
“O faaado é uma chumbada. Quando me propõem uma ida ao faaado eu desço as escadas da cave, pego na escopeta de dois canos e grito detrás da secretária: ‘Sobre o meu cadáver, sandeus!”.
Não contente com a vergastada, prosseguiu o desabafo:
“Detesto o faaado, é um xarope; uma sanduíche de anteontem”. Mas o fado, sem caganças, sem carregadas sílabas e entoações grandiloquentes, já o atraía: “Gozo que me farto com o campeonato dos fadistas amadores, e é tão pobrezinho (probezinho ficava melhor), tão coiso, tão chacha, tão. E não se trata sequer disso. Gramo, é por isso que eu gramo, não o faaado, é claro, mas isto que anda por dentro dele escondido. Este cotão de verdade faminta”.
O pedaço de prosa traz consigo as tonalidades da filosofia e da palavra escrita assispachequianas. A aversão à jactância, o amor ao verdadeiro. E o livre sarcasmo, herdado sobretudo da mãe, que, trazendo à conversa o brasileiro Cazuza, fazia parte do seu show. Ficou fixado numa fotografia, tirada pelo seu amigo João Rodrigues, em que está a fazer um amável manguito ao mundo.
Parêntesis para recuperar um gesto que, em parte, justifica a escrita deste texto. Em janeiro de 2012, publiquei, pela Tinta da China, uma crónica biográfica, edificada com assumida empatia, sobre um escriba celebrado em vida mas, na altura, relativamente deslembrado. Admirava, como admiro, o seu toque de bola literário. E alguns traços de personalidade. Não o conheci, ao contrário do que aconteceu com alguns amigos meus do jornalismo. Três recordações. Lembro-me de assistir a uma mui humana e inspirada conversa dele com Maria João Seixas, na RTP 2, e de o ver caminhar na Rua Passos Manuel, junto à Assírio e Alvim, com livros num saco e envergando uma das suas vivas camisas africanas. Uma conversa com o seu amigo Rogério Rodrigues na Rua Sampaio e Pina, em Lisboa, junto ao Rádio Clube Português, ativou a ideia de avançar para o esforço. O esforço teve um lado, forte, de repasto. A refeição fez-se da possibilidade de degustar a sua prosa jornalística, na altura guardada, e hoje, apenas em parte, publicada. E outras: a dos aerogramas, das dedicatórias, dos bilhetes para os amigos, escritos onde colocava a sua arte de dar brilho às aparentes ninharias da existência.
[o trailer do documentário “Saudade Burra de Fernando Assis Pacheco:]
Na tarefa, que se estendeu a um documentário chamado “Saudade Burra de Fernando Assis Pacheco” (RTP 2), privilegiei não só os livros mas também a pessoa, apresentando-a, perigosamente, como sendo quase tão relevante quanto a obra. Ou, para os lentes e quejandos, a Ooooobra. Que pretenderiam, por certo, que fosse único assunto a ser levantado. Digo, sem vestígio de dúvida, que a pessoa importava e muito. Porque o autor era uma personagem, uma figura, indesligável da escrita. Porque o que escreveu é o espelho assumido e recriado do que era. Porque muitas das frases que pronunciava traziam uma formulação que podia ser usada na sua literatura. O Assis mundano, o que frequentava tascas com petisco apurado e procurava a convivialidade, passou para os livros, para a crónica e para a reportagem. O seu gosto pela bola está arrumado no livro de crónicas Memórias de um Craque. Aí se diz, é claro, o melhor futebolista da sua rua.

A capa de “Memórias de um Craque” (Assírio & Alvim)
“Quero-te de bicicleta/ quero-te outra vez de bicicleta sobre as folhas/ quero-te ouvir chegar de bicicleta/ quero o som macio que fazia na mata a tua bicicleta”
Um homem, digamos, romântico. O seu romantismo revela-se, por exemplo, na letra da afamada canção que escreveu para Paulo de Carvalho em que invoca uma Nini, vestindo de organdi e a dançar só para si. Nos poemas. Em “Com a tua Letra”: “(…) Porque eu amo-te, isto é, eu dou cabo/ da escuridão do mundo./ Porque tudo se escreve com a tua letra”. Em “Versinhos a uma Amiga Filandesa”: “Ó Anna Lüsa Uski minha dama de antanho/ o que é feito da tua bizarria/ continuas bela como na fotografia?”. E em mais.
Enamorou-se de Rosário Ruella Ramos (Rosarinho) na praia da Torreira, Ria de Aveiro, e com ela dançou no derradeiro baile de verão da Assembleia da Torreira. O casamento durou cerca de 40 anos, morando os dois, cerca de 30, na Travessa do Patrocínio, em Campo de Ourique, bairro sobre o qual escreveu umas regras que se tornaram célebres e podem ser encontradas hoje na internet. A primeira: “Pratica a arte da boa vizinhança: estás numa terra pequena, não sejas opaco”. Foi aí, na casa da Travessa do Patrocínio, que cresceram as suas cinco filhas e o seu filho. A eles dedicou um soneto com recado dentro “(…) livrai-vos do luxo e da soberba”.
“Dizem que a guerra passa: esta minha/ passou-me para os ossos e não sai”.
São versos de “Dembos”, poema de Catalabanza, Quilolo e Volta, de 1972. Aos 25 anos, deu consigo numa guerra, no caso colonial, que o deprimiu e traumautizou, obrigando-o à evacuação primeiro para o Hospital Militar de Luanda e depois para Lisboa. Manuel Beça Múrias, numa carta à mulher, nomeia um homem que passava os dias absorto.

▲ A aversão à jactância, o amor ao verdadeiro e o livre sarcasmo ficaram para sempre nesta foto de João Duarte Rodrigues
Em “Lote de Salvados” escreveu:
“Instada a tomar banho com regularidade
a guerra não está para isso calça os mesmos
peúgos há um mês traz a camisa ensebada
é um cheiro que tomba nestes morros
meu pai minha mãe digo-vos mais
a guerra hoje só com agulheta (…)”
Poemas escritos algum tempo após a experiência referem-se ao tema. A guerra nele assentou e nunca mais se eclipsou. E acentuou-lhe a melancolia, aumentada com os anos e com o cansaço. Encontramo-la nos versos:
“(…) Mas agora que vai descer a noite na minha vida
Triste de mim mais triste que a tristeza
tristeza como a mão que segura o copo
como a luz do farol esgaçando a névoa
triste como o cão manco
deixado na estrada pelos caçadores (…)”
Dos tempos de Angola só guardava uma boa memória: o nascimento, em agosto de 1964, da sua filha Rita.
Para além do amor, a amizade. Pensar em Assis Pacheco é evocar as suas mesas de amigos, com os quais se demorava em conversas e gastronómicos deleites. Entre eles estavam, além de Rogério Rodrigues, Afonso Praça, João Rodrigues, José Cardoso Pires, Jorge Amado, Antonio Tabucchi. E Luis Sepúlveda. São deste último as palavras:
“Voltarei a Lisboa porque descubro que tudo o que me atrai na cidade tem a ver com o Fernando. A sua melancólica alegria tem a ver com ele. A sua alegre melancolia tem a ver com ele”.
Com o autor de O Delfim inventou textos para o suplemento satírico do Diário de Lisboa, A Mosca. Num deles noticia-se, com toda a gravidade, o seguinte: “O clássico ‘Embaixada a Calígula’, de Agustina, está a ser reduzido a ‘cartoons’ pela Cooperativa de Desenhadores Portuenses”. Quando Assis morreu, Cardoso Pires partilhou emoções guardadas: “Aqui para nós, palpita-me que não vou tardar muito a ir ter contigo, é cá uma fé, e até já sei que te vou encontrar ‘solitário, diante duma folha branca’ como o Maiakovski. Mas, sabes?, enquanto por cá ando fazes-me falta. Bastante, Assis. Mesmo bastante, acredita”.
“Meu Deus como eu sou paraliterário/ à quinta-feira véspera do jornal/ nadando em papel como num aquário/ ejectando a minha bolha pontual”
Classificou-se, a dada altura, como “um rapaz dos jornais”. Estreou-se na profissão de jornalista em 1 de outubro de 65 e o seu relógio registou muitas e muitas horas passadas ao serviço do jornalismo escrito, tendo trabalhado no Diário de Lisboa, no República, em O Jornal e na revista Visão. À circunstância, que transportava no lombo por causa do necessário sustento familiar, atribuía a responsabilidade pelo facto de não se ter derramado em prosas longas. O romance só aconteceu com Trabalhos e Paixões de Benito Prada, centrado na figura do seu avô materno, Santiago Mendez Doallo, galego da aldeia de Melias, Ourense.
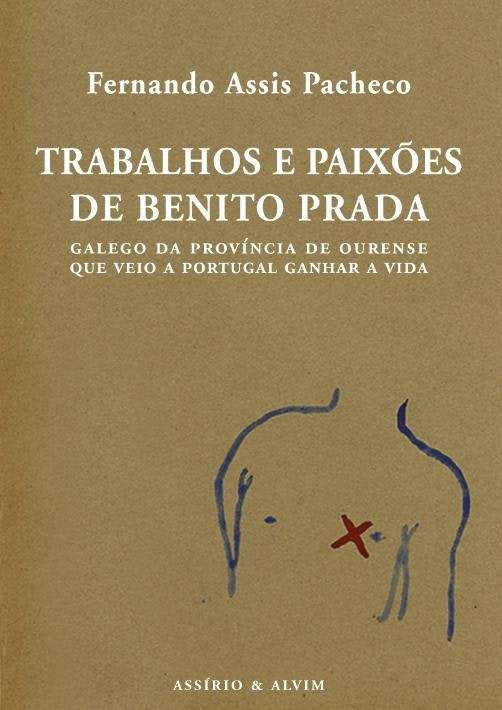
A capa da edição de 2012 de “Trabalhos e Paixões de Benito Prada”, pela Assírio & Alvim
Num depoimento dado durante a pesquisa, António Mega Ferreira colocou em bold uma característica: havia nele “um improviso muito preparado”, sendo o primeiro a chegar à redacção com a sua máquina de escrever. E também mantinha um sentido de organização, revelado no arrumo dos muitos livros que tinha em casa, vários dos quais recenseados, de modo conciso, no seu bookcionário, coluna em que revelou os seus apetites literários. Esta vocação sistemática, diz-se, pode ter sido consequência da disciplina a que forçou durante o desenho de uma tese universitária em Germânicas, na qual se dedicou a algumas gerações das literaturas inglesa, norte-americana e alemã. Apesar dos queixumes bem humorados, realizou-se no jornalismo, oficina onde pôde exercer, com imaginativo verbo, o seu gosto pela figura de esquina com uma boa história por contar.
“Gostaria, e não me deixam, de que se desse a César o que é de César e a Assis Pacheco o que ele reclama no fim de 1977: um pouco de descanso. Ser o cromo n.º107 e é o contrário disso”.
Em 1977 Assis Pacheco tornou-se conhecido de um largo público ao participar com a cunhada, Maria do Carmo de Ruella Ramos (“Carminho”), no concurso “A Visita da Cornélia”. Os que não o conhecem da palavra escrita lembram-se da figura do barbudo convivial que apareceu na televisão quando toda a gente via o mesmo programa. Com danças e cultura geral, a dupla vingou e arranjou morada no programa durante semanas. A dado momento, o barbudo de cabelos compridos interpretou uma canção com letra assinada pelo pai. Mais tarde, este revelou comoção com o gesto, não deixando de fazer um reparo em relação àquilo que considerava serem uns “descuidos capilares” do filho.
A subversão no corte de cabelo rimou com a provocação cívico-política. “Porque não chamar o nome aos bois quando até se trata de um programinha com uma vaca?!”, perguntou, ao fazer uma nota de rodapé a um poema inventado durante o concurso. O tema do desafio chamava-se sorte macaca e o autor de Tenho Cinco Minutos para Contar uma História (compilação de crónicas radiofónicas editada em 2017) decidiu redigir um poema sobre o único soldadão do seu batalhão a morrer em Angola. Polémica entornada.
O ser reconhecido na rua foi entendido por um espírito pouco dado a exposições como “um momento de excessiva popularidade”. Acerca disso deixou uma ironia: “Ainda hoje, por vezes, sou reconhecido como aquele senhor que entrou na Cornélia. Tratam-me pelo nome errado, mas lembram-se”. E nós? Nós tratamo-lo pelo nome certo e continuamos a lembrá-lo com uma saudade burra.













