Quando lhe perguntam de onde é, João Afonso dos Santos responde que é lisboeta. Apesar de ter nascido em Aveiro, estudado em Coimbra e vivido parte da infância e da idade adulta em África, foi Lisboa a cidade que o “adotou”.
Depois de um primeiro volume de memórias (O último dos colonos – Entre um e outro mar, edição Sextante), o irmão mais velho de José Afonso conclui agora, com O último dos colonos — Até ao cair da folha, o testemunho vivo de quem assistiu, por dentro, ao desmantelar do império colonial português. Se o primeiro tomo é o registo da primeira parte da vida, das memórias da infância, da separação da família (os pais e a irmã Mariazinha vão para Timor) e do período de Coimbra, o segundo é já a idade adulta, o homem formado e consciente de si, que regressa a Moçambique em 1955 para aí viver, trabalhando como advogado entre Lourenço Marques e Beira, as décadas finais da ditadura. As memórias terminam em 1975, um ano depois da revolução, com o regresso a Portugal. João Afonso dos Santos nunca mais voltou a Moçambique.
Aos 93 anos, o último dos colonos partilhou com o Observador as lembranças desses tempos passados, entre as deambulações por continentes, o choque da transição coimbrã e a vivência próxima com o irmão Zeca, em cuja obra são visíveis as marcas da experiência africana.
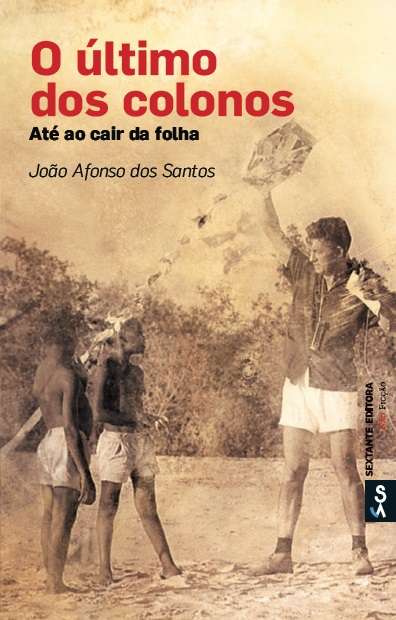
A capa de “O Último dos Colonos – até ao cair da folha”, de João Afonso dos Santos (Sextante)
Que sentimento lhe vem quando olha para a sua vida assim organizada em dois volumes? É o fim de uma empreitada?
Não. Por muito que espante, não tenho a obsessão do passado. Tinha, sim, a ideia de escrever qualquer coisa, primeiro sobre o desterro da família em Timor, depois sobre a época mais recente da minha estadia em Moçambique. As coisas propiciaram-se no sentido de ter tido, agora, mais liberdade de espírito para estas coisas. Em vez das miudinhas coisas do dia a dia, comecei a pensar neste projeto. Liguei as duas coisas: fiz um primeiro volume sobre a infância (minha e dos meus irmãos) e a separação da família, estabelecendo uma espécie de contraponto entre o que se passava em Portugal e em Timor. Depois disso, resolvi continuar, uma vez que sou uma testemunha da extinção do império. Vem daí a designação do livro. Sou uma testemunha do soçobrar do império.
Quanto tempo lhe levou a escrita destas memórias?
É difícil de dizer. Para o primeiro volume, tinha algumas notas sobre a estadia com o meu irmão em Coimbra, depois completei-as com um trabalho de pesquisa e com os depoimentos da minha irmã sobre Timor. O segundo volume foi começado há relativamente pouco tempo, e acabado na sua primeira forma há cerca de dois anos.
É sistemático na sua relação com a memória e o registo? Há coisas passadas há mais de 60 anos que nos conta com um pormenor assinalável…
Sou uma pessoa muito desorganizada. Não tenho arquivos, nem sequer mentais, com as coisas bem compartimentadas. As memórias do primeiro volume são memórias fugazes, lampejos de lembranças que entretanto liguei umas às outras através de um estilo ligeiro. No segundo volume, resolvi seguir o mesmo sistema, o mesmo método memorialístico. Mas, claro, aí já havia factos positivos, e alguns históricos, que se passaram no meu tempo, especialmente nos últimos anos que estive em Moçambique, que constituem uma espécie de cimento mais substancial das lembranças que verto no livro.
Em 1939, aos 12 anos, muda-se de África para Coimbra com o seu irmão, deixando para trás uma parte da família. Essa foi, entre todas, a transição mais abrupta?
É a passagem entre duas perspetivas, dois sentimentos profundos. Não me refiro só a mim, refiro-me também ao meu irmão. Para nós, miúdos, foi a passagem de um universo de liberdade para um universo fechado, muito embiocado, de um catolicismo formal, quase burocrático. Essa viagem marcou-me tremendamente, a mim e ao meu irmão. Foi uma diferença muito grande. Marcou-me, sobretudo, não tanto a viagem mas o destino. Chegámos a um sítio completamente diferente daquele de onde tínhamos partido. Não só do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista da liberdade, da conceção dos espaços…
Qual foi a diferença mais marcante?
A relação com as pessoas: com a minha tia Avrilete, muito beata, com a minha avó, com os dois primos… Esse tipo de relação marcou-me profundamente. Tanto que, durante muito tempo, vivia acantonado na minha água furtada, no meu quarto. O meu irmão, que era mais estouvado, mais liberto, saía mais, juntava-se aos companheiros, etc. Sofri esse tremendo trauma, a diferença de ambientes, de conceções de vida… Meti-me dentro da minha concha e resisti a essa mudança. O meu irmão teve também uma atitude de resistência, mas expressa numa atitude de comunicação com os amigos. Ambos resistimos, cada um à sua maneira, àquela espécie de conversão a um catolicismo beato, onde tudo era certo e seguro e não havia dúvidas. Era um ambiente de certezas católicas: como se ganhava o céu; como, comprando umas bulas, se ganhavam indulgências plenárias (coisa que nunca consegui perceber, nem hoje ainda percebo — como se conjugam os tempos do além com os do aquém…). Não endoidecemos, e ainda foram quatro anos…
Arrependeu-se de não ter saído de casa mais vezes, de não se ter refugiado mais na boémia coimbrã?
O meu irmão nunca foi um boémio, essa é uma ideia que deve ser desmontada. Para já, era um mau copo, não conseguia beber um copo de vinho sem ficar logo atordoado. Frequentava as repúblicas, os companheiros (que eram um bocado menos “corretos” nas aulas do que os meus), mas nunca foi um boémio no sentido coimbrão, antigo, do termo. Eu, de facto, resisti acantonando-me na minha água furtada, mas também acabei por sair e dar-me com os colegas. Tive participação na vida académica do meu tempo.

▲ José Afonso com os dois filhos, a mãe e a irmã, numa visita a Lourenço Marques, vindo de Luanda: "O meu irmão vivia perto de mim, por trás da minha casa. Aos fins de semana íamos para Chipangara"
O seu irmão chegou, aliás, a acompanhá-lo numa viagem a África com o Orfeão de Coimbra. Foi ele que quis ir?
Aconteceu em 1949. Eu era orfeonista efetivo, ele estava em vias de terminar o liceu, e resolveu acompanhar-me nas férias como “pendura”. E às tantas já era orfeonista, já cantava num naipe de segundos tenores, o meu naipe.
Essa viagem tem alguma importância na perceção definitiva de que a música ia ser um assunto sério na vida do seu irmão?
Ele já cantava. Mas, de certo modo, embora ele já fosse conhecido, foi no Orfeão que começou a tornar-se muito conhecido. Cantou mais do que uma vez, uma delas em Lourenço Marques. O meu irmão sempre teve um ouvido fino e uma capacidade de cantar e de apreender as melodias, especialmente as populares (da Beira Baixa, do folclore açoriano, etc). Tivemos um tio que incentivou muito isso. Mas estávamos longe de supor, ele próprio também, que viria a ter um papel tão importante na música popular portuguesa.
A música manteve-se na sua vida depois de Coimbra e do Orfeão?
A música foi sempre uma coisa fascinante para mim e, de um modo geral, para toda a família, incluindo o meu pai. A minha relação com a música era profunda e constante. Na Beira, por exemplo, com aquele calor e aquela humidade, às vezes chegava ao fim do dia e estendia-me na tijoleira. O meu irmão chegou a fazer isso comigo: deitados de costas, ouvíamos uma sinfonia, ou o John Williams… De vez em quando, havia uns marimbeiros que se punham a tocar em frente. Nessa altura, parávamos a nossa música instrumental para os ouvir tocar.
Regressa a Moçambique em 1955. É um regresso a África, mas já na idade adulta. Nessa altura, África era para si uma casa ou um lugar estrangeiro?
Fui para África em 1955 mais por força de circunstâncias várias do que por um impulso profundo de regresso. Nunca houve, no meu tempo de crescimento, a ideia de que teria de ir para África. Por outro lado, andei pelos tribunais (em Cantanhede, etc.), e aquele ambiente acanhado desmotivou-me a fazer carreira por ali. Depois de casar, achei que o melhor era embarcar para Moçambique e tentar lá a vida de advogado. E, assim, lá fomos para África, porque, apesar de tudo, os horizontes — embora nessa altura fossem estreitos, vivíamos em ditadura — sempre eram um bocadinho mais largos do que em Portugal continental. A cidade que fui encontrar [Lourenço Marques] era totalmente diferente da que guardava na lembrança.
Muda-se de Lourenço Marques (atual Maputo) para a Beira por razões políticas, em consequência das eleições do Humberto Delgado. Como é que as coisas mudam para si nessa altura?
Custou-me muito. Tinha os meus amigos em Lourenço Marques, a minha mulher era professora no liceu, tinham nascido os meus dois filhos… Algumas pontes profissionais que mantinha foram cortadas, do ponto de vista do rendimento. E como, entretanto, o meu tio Filomeno estava na Beira como notário e me acenou de lá dizendo que teria possibilidades, levantei a tenda e fui para a Beira com a família.
Como é que as represálias do regime se fizeram sentir?
Era advogado dos Caminhos de Ferro e cortaram-me a avença. Dava aulas na Escola Comercial e cortaram-me também essa possibilidade.
Na altura em que escolheu cursar Direito, hesitou entre outras possibilidades. Depois de uma vida inteira como advogado, arrependeu-se dessa escolha?
Não me arrependi, gostei muito de ser advogado. Mas, por exemplo, quando foi formada a Universidade de Lourenço Marques, inscrevi-me como aluno de História. Tinha um amigo que me mandava as notas das lições e os livros a consultar, e de vez em quando deslocava-me a Lourenço Marques de avião para fazer as frequências. Busquei sempre qualquer coisa diferente da profissão de advogado.
Em 1964, o seu irmão José muda-se também para Moçambique. Como foi a vossa relação nesses anos? Tinham uma vivência familiar próxima?
Era uma convivência de todos os dias. A Beira é uma cidade relativamente pequena. As pessoas nunca diziam, como aqui estranhei que dissessem, “bom fim de semana”. Não se dizia bom fim de semana porque no dia seguinte estávamos no café, e no domingo voltávamos a encontrar-nos. As pessoas viam-se frequentemente.
O meu irmão vivia perto de mim, por trás da minha casa. Aos fins de semana íamos para Chipangara, é aí que ele constrói a “Lá no Xepangara”. Estávamos sempre juntos, ouvíamos música. E ele gravou aí algumas coisas — uma gravação tosca, com ele próprio a acompanhar-se à viola. Ainda tenho para aí uma cassete dessas…
[“Lá no Xepangara”, do álbum de 1974 de José Afonso, “Coro dos Tribunais”:]
No livro fala dessa gravação. Está guardada?
Sim, está preservada. Por acaso, até, com uma grande pureza de voz.
Onde é que deteta outras influências moçambicanas na obra do seu irmão?
Talvez no ritmo. Alguns ritmos que ele foi adotando são, a meu ver, inspirados pelos ritmos africanos. As batucadas no Chipangara… Ele captava isso. Eu como que lhe via a orelha a levantar-se e a virar-se em direção a esses sons, que provavelmente fixava e que acabam por influenciar uma porção importante da sua obra.
Tem alguma canção favorita do seu irmão?
Posso salientar a “Utopia”, por exemplo, feita já fora do contexto africano numa das suas últimas fases criativas. Ou a “Tenho um primo convexo”, canção extraordinária em termos de composição.
[“Tenho um Primo Convexo”:]
Na sociedade colonial da Beira, qual era o sentimento dominante nos anos finais da ditadura? Percebia-se que as coisas iriam mudar em breve?
Havia a guerra. A persistência do conflito e algumas notícias que, nos últimos tempos, iam chegando à Beira, faziam crer que o regime estava em dificuldades cada vez maiores. Daí a prevermos o colapso em determinada data, isso não. Em termos teóricos, as pessoas mais advertidas admitiam que o regime colonial e o regime ditatorial que estava por trás dele tivessem de cair, que aquela situação era insustentável.
Sabe do 25 de abril no Café Luso, na Beira. Quem lhe deu a notícia?
Foi, salvo erro, um sujeito do Notícias de Beira. Depois passou-se muito tempo em que não estávamos cientes do que se passava, a não ser que o regime tinha caído, e isso já era uma coisa extraordinária. Houve quem teorizasse que teria sido um golpe da direita mais à direita (do Kaúlza de Arriaga, por exemplo), mas pensámos que não seria muito provável. O regime não teria tanta força para projetar a sua permanência numa direita ainda mais esclerosada.

A família de férias em Namaacha, Moçambique: “Não voltei. Houve uma altura em que estive para ir lá com um amigo… Não voltei nesse ano porque me surgiu um pequeno percalço de saúde. Ainda lá tenho um ou outro conhecido dos meus tempos, alguns Democratas de Moçambique que ficaram lá.”
Quando acontece o 25 de abril, já tinha decidido regressar a Portugal. A sua família já tinha feito a viagem.
Sim, a minha família vem em 1973 para Portugal. Eu fui ficando. Depois sucedeu o 25 de abril e fui ficando, não podia vir com ar de quem vinha a fugir.
Nunca se sentiu em perigo em Moçambique?
Não. Isto é, senti perigo em relação à população branca, a certo tipo de colonos. Aí havia um perigo latente — que, aliás, acabou por explodir em Lourenço Marques.
Mas as coisas não mudaram do dia 25 para 26 de abril…
Nem abril, nem maio, nem talvez junho… As mesmas pessoas continuaram nos mesmos lugares, as coisas continuaram a correr da mesma forma. Até que, um dia, soubemos que a PIDE tinha andado a destruir papéis para os lados do Macúti. Entretanto apareceram o Otelo, o Costa Gomes… Nessa altura as coisas começaram a ter um aspeto diferente. Mas, durante muito tempo, a vida manteve-se com os mesmos comparsas, os mesmos mandantes.
Guarda algum ressentimento em relação ao modo como a descolonização aconteceu?
Não. Foi uma grande alegria.
Nunca se sentiu moçambicano?
Meio moçambicano. Mas senti-me sempre português… Cheguei a discutir isso com uns amigos, alguns ficaram lá… Mas eu sou culturalmente um europeu. Também estou muito ligado a Moçambique, poderia ter uma dupla nacionalidade, mas nunca poderia optar pela nacionalidade moçambicana em prejuízo da portuguesa.
Voltou a Moçambique depois de 1975?
Não voltei. Houve uma altura em que estive para ir lá com um amigo… Não voltei nesse ano porque me surgiu um pequeno percalço de saúde. Ainda lá tenho um ou outro conhecido dos meus tempos, alguns Democratas de Moçambique que ficaram lá.
Não teve mais a curiosidade de voltar?
Tive a curiosidade, mas não se proporcionou. Tinha de trabalhar aqui, tinha a família aqui… Depois deixei de ter esse élan, essa curiosidade entranhada de ver o funcionamento de uma sociedade africana. Na altura, gostava de ter visto.
Presumo que a Coimbra que tenha voltado mais vezes. Transformou-se em si a imagem da cidade cinzenta e austera?
Não sou um coimbrinha, como dizia o meu irmão. Não sou um saudosista. Mas, claro, a Coimbra deste tempo — como o país inteiro — já não é parecida com a Coimbra dos meus tempos de liceu e universidade.
Na Coimbra do meu tempo as raparigas eram um elemento decorativo. Recolhiam-se a casa, a noite era masculina. Daí a função importantíssima do fado de Coimbra: a função do fado era a função da escada do Romeu em direção à Julieta. Já não se faz uma serenata para uma janela, porque as pessoas já podem cantar ao ouvido umas das outras.

Como acompanha o debate sobre questões pós-coloniais, que tem surgido na sociedade portuguesa com alguma frequência?
O debate anti-colonial é uma coisa que remonta quase ao início dos descobrimentos. A circunstância de eu ter estado em Moçambique não altera a minha posição anticolonial, anti-exploração colonial. Não tenho grandes complexos em relação ao meu passado, a não ser a circunstância de ser uma pessoa que pertenceu ao setor colonizador, à administração colonial, à soberania exercida por um país sobre os outros. Foi uma coisa que teve o seu tempo e que demorou a acabar entre nós.
Mas a questão da anticolonização não surgiu só agora, existe há muito tempo. Mesmo entre os que viveram em África, havia alguns anticolonialistas, que se puseram ao lado da possibilidade de um regime negro. Havia colonos — poucos, é certo — que percebiam perfeitamente que o regime colonial, que se baseava na exploração do negro, nunca levaria África a um desenvolvimento minimamente aceitável para a população.
Estas memórias acabam em 1975. Sobra-lhe vontade de contar o que veio depois?
O último dos colonos, não é? Simbolicamente, o último dos colonos regressa a Ítaca… Para contar o que veio depois precisava de mais dois volumes… O pós-25 de abril, e como é que as pessoas se agitavam, e como é que eu próprio me inscrevi no meio desse grande movimento transformador… Isso talvez desse um terceiro volume. Não sei é se tenho tempo e unhas para isso…
Se lhe fosse dado reviver algum momento destas memórias — um instante, um dia, um período — para onde é que escolhia regressar?
Talvez regressasse para beber a minha cerveja no Marialva, o único restaurante que, em determinada altura, existia ali na baixa laurentina. Beberia uma cerveja depois de dar a minha aula de Direito Comercial. Esses pequenos sabores não são de cá nem de lá, são os sabores de um tempo passado e da capacidade de saborear esse tempo. Um boa cerveja, bem tirada, transporta-nos sempre para algum sítio.
















