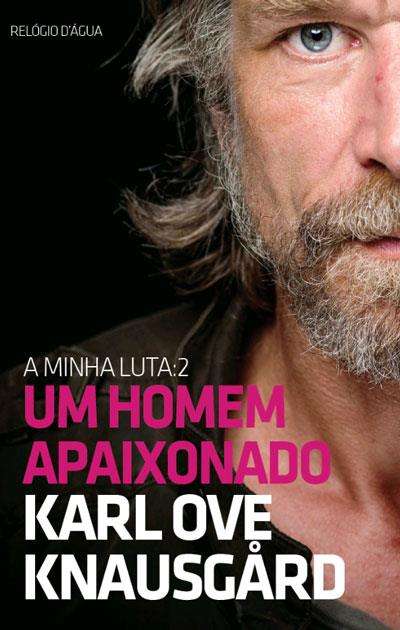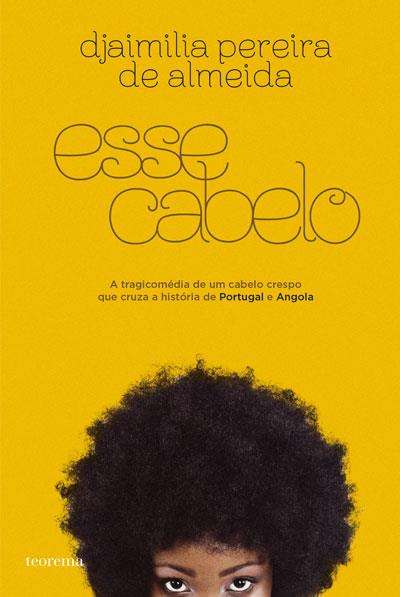“A memória é pragmática, é dissimulada e astuciosa, mas não pode ser movida pela hostilidade ou pela maldade: pelo contrário, tudo faz para agradar ao seu senhor”. Karl Ove Knausgård regista em A Ilha da Infância (Relógio d’Água, 2015), o terceiro volume da sua série de livros autobiográficos, qual é o seu programa literário: contar a sua versão do que lhe aconteceu até hoje. Como filho, como pai, como escritor, como pessoa.
É este o seu jogo artístico, o jogo entre o eu real e o eu literário. Algo que, sim, vem de Santo Agostinho, fez caminho de um modo muito sublinhado em Proust e tem tido manifestações em muitos autores de tempos vários e terras muitas. Mas numa coisa podemos estar de acordo: o projecto de Knausgård é demasiado radical na sua ambição para não ser valorizado como algo de novo. É quase insano no seu desejo abarcar tudo nessa busca do tempo perdido. Se é verdade? Voltemos às suas palavras: “(A memória) atira certas coisas para o vazio do esquecimento, distorce outras até as tornar irreconhecíveis, deforma elegantemente a interpretação de outras ainda e, em certos casos, menos frequentes, pode recordá-las com nitidez e precisão”.
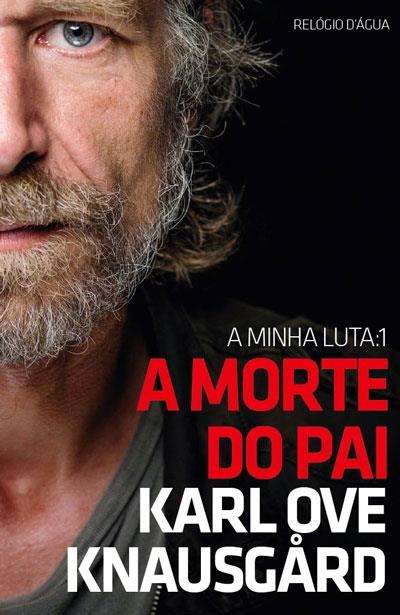
Ao ler os livros e as entrevistas, percebe-se que a verdade não é o ponto deste homem que estudou Artes e Literatura na Universidade de Bergen. É a autenticidade que procura. Uma autenticidade que, aqui e ali, pode ser mentirosa. Que pode levar o leitor a pensar que está a ler todos os pormenores da vida de alguém, a espreitar uma espécie de revista Flash! da vida melancólica de um escritor, mas no fundo está a ler um livro que tem qualquer coisa de romance com muitos factos e nos quais as figuras mencionadas – de pai, de mulher, de filhos, de amigos – se podem aproximar, aqui e ali, de personagens como o são Meursault, Blimunda, Anna Karenina e João da Ega.
Há ficção nos seis volumes de A Minha Luta (sim, o mais do que polémico título da série de livros, ideia do seu editor) mas é a ligação da narrativa ao real, com mais ou menos curvas imaginativas, que lhe dá uma potência e energia particulares. Há quem defenda que esta apetência pelo real impuro (aquele que se mistura com a fantasia) é uma pulsão contemporânea, manifestando-se na literatura mas também na música, no documentário, em séries em que o protagonista é o autor. O escritor David Shields, autor de Reality Hunger – A Manifesto (Vintage Books, 2010), defendeu provocatoriamente esse regresso ao real, alegando que o mundo anda a reivindicar uma arte em que o autor, fazendo uso da primeira pessoa, faça passar por factual aquilo que é imaginação e vice-versa. Shields acha que alguma da melhor ficção está agora a ser escrita como não-ficção (refere-se a dada altura a Sebald, claro) e que a cultura ocidental está obcecada com a realidade porque a experimenta pouco. Elege o Livro do Desassossego como uma das referência maiores de uma literatura que consegue ensaiar, através desse acordo entre o real e o irreal, a complexidade da experiência que é viver. João Pereira Coutinho, o primeiro colunista português a escrever sobre o livro de Shields em jornais, numa crónica incluída em Vamos ao Que Interessa (Dom Quixote, 2015), percebe a escolha: “Quando releio o Desassossego de Soares, nunca Lisboa me parece tão ‘verdadeira’. Incomparavelmente mais ‘verdadeira’ do que todas as ficções prosaicas do ‘era uma vez’ que usaram a cidade como palco ou actor principal”.

“Quando releio o Desassossego de Soares, nunca Lisboa me parece tão ‘verdadeira’”, escreveu João Pereira Coutinho
Além de Shields, outro pensador destes assuntos, também com casa nos EUA, o crítico James Wood, parece estar a aderir a este nebulosa ficção/não ficção. Foi um dos que elogiaram Knausgård e de certa forma lhe abriram a porta para uma Europa que o desconhecia (fez o mesmo com Elena Ferrante). Mas é injusto dizer-se que tudo não passa de uma moda com caucionadores de prestígio. Não foi Wood que carimbou um livro poderoso editado no ano passado em França e traduzido para português: Acabar com Eddy Bellegueule (Fumo Editora, 2014), de Édouard Louis, obra escrita na primeira pessoa sobre a violenta experiência de ser homossexual numa comunidade rural francesa. As rimas biográficas directas com a história do autor – e o estilo sem aparas – ajudaram muito ao impacto. Nem A de Açor, de Helen Macdonald (Lua de Papel, 2015), livro de memórias sobre o luto da escritora depois da morte do pai no qual o mote está no desejo de ser uma ave. Foi um prémio – o Samuel Johnson Prize. E a qualidade.
Voltemos a Karl Ove Knausgård e atalhemos caminho, passando ao lado das polémicas e dúvidas normais quando surgem fenómenos destes que, como lembrou alguém recentemente no The Observer, não põem de todo em causa o romance clássico, podem apenas provocá-lo. Perguntemo-nos: será que em Portugal seria possível haver um fenómeno literário semelhante ao que experimentou Karl Ove (ou Louis ou Macdonald)? O de abrir a torneira e deixar correr a água, ora quente ora gélida, da memória sobre o que aconteceu? Isabela Figueiredo, autora de Caderno de Memórias Coloniais (Caminho, 2015, depois de ter tido uma primeira edição na Angelus Novus), que incide no racismo a que assistiu, enquanto criança, em Moçambique, tendo sempre como mote o relacionamento com o pai: “Li A Morte do Pai assim que saiu. Por ser sobre o pai e por ser uma autobiografia”. Conta que é uma leitora particularmente atraída pelo registo na primeira pessoa: autobiografias, diários, memórias, epistolografia e crónica. “No caso, atraiu-me também a narrativa da família como uma terra da qual fugimos, embora não queiramos ou não possamos renegá-la sem um custo identitário”.
Segundo Isabela Figueiredo, em Portugal não há muitos autores a escrever com a atitude de Knausgård por uma questão de “puritanismo cultural”. E considera que se a história tivesse sido escrita por um autor português, “iria provavelmente acabar na prateleira da Psicologia/adições ou das biografias e autobiografias”. Tal como aconteceu com o seu livro, relegado para as de História contemporânea/25 de abril e memórias, mesmo sendo obra com assumida ficção dentro “sem trair a fidedignidade do relato”.
Por cá, pensa Isabela Figueiredo, a opção de escrever sem piedade sobre o que se foi e se viveu (na busca de uma identidade) está a emergir com alguns casos, como os livros recentemente editados de Ana Cássia Rebelo e de Djaimilia Pereira de Almeida. Ana é autora de Ana de Amesterdam (Quetzal, 2015), título do blogue que mantém há vários anos, e nesse livro procura assumir a “verdade dos factos” que vão da masturbação, da depressão e da frigidez ao “fardo da maternidade”, passando por uma insónia persistente. Esse lado de mulher que sofreu e sofre mas evita a auto-comiseração é suspenso quando decide escrever sobre a memória das noites familiares em Goa, sobre os filhos, sobre a felicidade que sente ao dormir na cama dos pais.
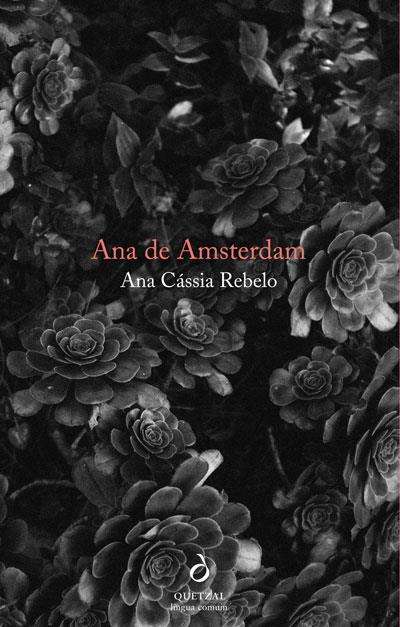
Ana Cássia Rebelo relaciona-se assim com a sua literatura. Existe um diálogo permanente entre aquilo que escreve e a realidade que vive. “Escrever sobre os acontecimentos da minha vida ajuda-me a dar-lhes corpo, ordem e também uma beleza que de outra forma seria inalcançável”. Conta, na sua perspectiva, uma vida banal, indistinta, igual à de todas as mulheres da sua geração. E transforma-a. Para se segurar e fortalecer: “Ao longo destes anos, percebi que escrever sobre mim, esmiuçando fraquezas, revelando angústias, não me poupando, me dá uma confiança absurda”.
Como é que o leitor português reage à sua literatura? De forma contrastante. Já encontrou desde entusiastas até quem se recuse a olhar uma vida – nas suas possibilidades mas também na sua feiura – de perto. “Em relação ao meu livro, encontrei sobretudo leitores incomodados (“’Deixei o seu livro a meio’, continua a ser a frase que mais oiço”). A auto-ficção comete “um pecado” imperdoável para muitos leitores que não estão preparados para “a profanação da intimidade”. Que acontece com frequência, mas sempre sob o ponto de vista do riso, das viagens, das boas comidas, dos melhores amigos. “Mas se aparece alguém, neste caso um escritor, a assumir o desejo de, pela escrita, profanar o outro lado da intimidade, o lado escuro e impenetrável da intimidade, muita gente prefere ignorar. A intimidade, a verdadeira, é dolorosa”.
No seu caso, quando escreve sobre as sombras fá-lo “como mulher” e com uma “determinação firme”. Ao assumir o que lhe sucede, ao escrever na primeira pessoa, a sua escrita adquire uma natureza política e militante. “Isto é o que sou, isto é o que sinto, isto é o que faço e, ao contrário de um certo figurino imposto pelo pudor e pela moral, e isso em nada me diminui como mulher”.
Sobre esta alegada vaga de uma apetência artística pelo real cru mesmo que com a maquilhagem da ficção acha o seguinte: “Estando o tema muito na berra por causa de certos autores, não creio sequer que a auto-ficção seja uma novidade ou haja uma especial apetência para a auto-ficção enquanto género”. Nota que sempre houve escritores a escrever sobre si próprios, sem grandes preocupações com os limites éticos da exposição da sua vida e da dos que lhe são próximos. “O Luiz Pacheco é bem o exemplo de alguém que tornou a vida na sua obra literária”.
Djaimilia Pereira de Almeida, autora de Esse Cabelo (Teorema, 2015), história que trata de uma identidade crioula, feita de um passado de cruzamentos vários de diversas gerações que passam por Angola e por Portugal, já sente uma certa distância do eu que conduz o livro. “Apenas consigo pensar retrospectivamente no meu livro como aquele que quis escrever nesta estação da minha vida”. Quase tudo o que a fez escrever um livro na primeira pessoa é extrínseco à sua relação com a literatura. “Em todo o caso, e apesar de as nossas vidas se tocarem, não reconheço bem a pessoa cuja história nele é contada”. A existir um objecto de exposição no que escreveu, “ele é alguém cuja existência subsiste em menos de duzentas páginas e que sou capaz de conhecer apenas tanto (ou menos ainda) quanto o pode conhecer qualquer leitor do meu livro”.
Bruno Vieira Amaral, que escreveu o premiado As Primeiras Coisas (Quetzal, 2013), posiciona-se deste modo no campeonato literário: “Mais do que o confessionalismo interessa-me a subjectividade”. Mas que não haja ilusões sobre os cuidados no desenho narrativo: “Obviamente, a subjectividade em literatura é tão construída como a objectividade”. Refere justamente o livro de Djaimilia como um exemplo dessa forma de estar na literatura: “Esse Cabelo vai muito neste sentido. Além disso, trata de um universo sociológico e cultural do qual me sinto bastante próximo, o que facilitou a minha identificação com o livro e o estilo da autora”.
O confessionalismo literário interessa-o mais como figura de retórica, um artifício estilístico que estabelece, desde o início do livro, uma “ilusão de realidade” ou, pelo menos, uma “atmosfera de ambiguidade” na qual o leitor leva a cabo a leitura. “É nesse espaço de dúvida entre o real, o ficcional e o plausível que trabalho”. Sem querer entrar numa discussão sobre a construção do confessional nos livros de Karl Ove Knausgård (“só li o primeiro e considero-o claramente uma ‘conficção’, termo muito feliz mas que não é meu”), crê que o caminho para o que faz foi aberto há mais tempo e encontra-se nos romances de Milan Kundera e nos de Mario Vargas Llosa (sobretudo o de A Tia Julia e o Escrevedor).
A narração na primeira pessoa, sublinha Bruno Vieira Amaral, abre muito as possibilidades de trazer o romance para uma série de registos – ensaio, investigação histórica, sociologia, antropologia, crítica literária – que o enriquecem. “Essa questão é muito mais fecunda do que a questão mais limitada do confessionalismo. Sebald, por exemplo, dizia que não havia outra maneira actualmente de tornar credível o romance”.
É esta a visão de Bruno Vieira Amaral: estamos num caminho que, no futuro, poderá ser mais explorado por causa da necessidade de conferir credibilidade à voz do narrador, por permitir a multiplicidade de registos, as reflexões mais directas sobre questões identitárias e o discurso mais fragmentado que acompanha, capta e reflecte o espírito da época, por libertar o autor daquilo que a ficção tem de mais falso: “a aparência de construção”.

▲ Pedro Mexia, escritor e crítico, leu os livros do autor nórdico com um misto de tédio e fascínio
HUGO AMARAL/OBSERVADOR
A autora de, entre outros livros, Há Raposas no Parque – Crónicas de uma Portuguesa em Londres (QuidNovi, 2009) e colaboradora permanente da revista Ler, Clara Macedo Cabral, assume que hoje há raras vozes que a empolguem. “Com excepção de Elena Ferrante que, apesar de assumir que a sua escrita é ficção, joga deliberadamente na fronteira com a memória, de modo a investir-se com a força e a autenticidade do vivido”. Para isso é fundamental abster-se da reescrita, preferindo o texto em bruto. E outra opção. “Narrativas na primeira pessoa têm uma carga emocional que reforça a relação com o leitor ao mesmo tempo que tornam implícita uma reflexão e um modo de pensar do ‘eu’, a que o leitor assiste”. Isso, na opinião da autora, vê-se em Knausgård. “O melhor da sua escrita são as interrogações que se erguem acima da descrição de casualidades, sem redenção nem alívio, a procura do sentido ou do enigma aos quais o leitor se pode associar”. Parágrafos que começam assim: “O que fotografamos é a época e não as pessoas que aparecem na fotografia que não podem ser capturadas. Nem sequer as pessoas que me são imediatamente mais próximas”.
Foi a ida para Londres, onde vive com o marido e o filho, e a circunstância de se sentir dividida entre duas culturas que a levou a escrever mais seriamente. O que escrevia no início reflectiu logo o gosto pela palavra breve, directa, enxuta, “se sacrifício houvesse que fosse em favor do sentido”, um gosto que o curso de Direito lhe incutira e as leituras do mundo anglo-saxónico agravaram. “O horror ao decorativo, ao sem sentido, ao vazio e ao pretensioso”. Uma cilada fácil na língua portuguesa e mais difícil na inglesa.
Depois de publicar as duas Raposas (dois livros de crónicas) ouviu, aqui e ali, que a seguir a esperava o romance, como se a etapa superior, o passo da distinção, fosse a ficção. “O mundo podia ser diferente: no anglo-saxónico a não-ficção é estimada e vende, seja em memórias, biografias, correspondências epistolares, diários. Páginas de jornais importantes estão reservadas para os melhores obituários que ainda se escrevem e tudo isto é consequência do privilegiamento do indivíduo, do raciocínio crítico, do que nos diferencia no modo de ver, pensar e sentir”.
O que Clara procura, quando lê os mestres da literatura em língua inglesa, de Charles Dickens a Jane Austen, Virgínia Woolf ou Thomas Hardy, para além da beleza da língua e do acercar-se de um mundo que desapareceu, é identificar-se “com indagações, preocupações, premências que possa entender”. O que lhe acontece esporadicamente com vozes femininas.
Valério Romão, autor que tem escrito sobre o tema família de um modo persistente (é autor de uma trilogia intitulada Paternidades Falhadas), distancia-se do projecto Knausgardiano e até coloca questões ao que faz. “Não li o livro do Knausgård, mas tenho dúvidas de que tenha alguma relação com aquilo que faço. Do que conheço do projecto dele, e começando desde logo pelo título, tudo me parece provocatório e pornográfico e tem claramente uma intenção de provocar um choque com a qual apenas parcialmente me revejo”. Para Romão, “a literatura deve convir à preservação e transmissão de experiências, e porque as experiências são matéria que nos afecta”.
A família de escritores de que Valério se sente parte necessita da realidade “para articular o seu logro”. “E é um logro, é-o sempre. Os vitorianos eram bastante ávidos de biografias, talvez por estarem tão condenados à representação inautêntica de si próprios, reduzindo tudo a manners, mas sabiam que qualquer biografia corresponde a um ponto de vista selectivo, é incompleto (talvez quem tenha levado esta tese às últimas consequências tenha sido Lytton Strachey, no seu Eminent Victorians)”. A seu ver, a exposição pornográfica da vida própria corresponde apenas à incorporação da ideia contemporânea de cusquice universal, “desenvolvida nas revistas cor de rosa e refinada na televisão, desta feita levada à literatura”. A pergunta que faz é: Karl tem mais alguma coisa para escrever depois disto?
Pedro Mexia, escritor e crítico, que leu os livros do autor nórdico com um misto de tédio e fascínio (elegeu-os nas suas listas de melhores de 2015), não vê o projecto da mesma forma. Duvida que alguém que não goste de literatura vá ler os seus livros por curiosidade. “O autor não é uma celebridade.” Mexia considera que usar experiências privadas extremas – como acontece com Karl Ove no que toca à demência da sua avó ou ao alcoolismo do seu pai – tem um lado de “vampirismo” desagradável mas não se sente mal ao ler os livros porque, estando o autor a pisar o risco, escreve sobre pessoas que não conhece.
Considera que o seu projecto não é só a escrita autobiográfica. “Os livros são sobre problemas familiares, pessoas, sobre temas como a exasperação com a paternidade quando conciliada com a actividade literária. E são sobre o tempo”. Não há elipses, não se omite nada, nem os gestos mais quotidianos, descritos em sucessivos parágrafos. Um perigo e um desafio. “Não é um page turner, mas não deixa de ser viciante”. Escrito numa forma que não se pode dizer que seja trabalhada, salvo nas passagens ensaísticas.
Em relação à literatura portuguesa, considera que não é muito dada ao confessionalismo como acontece noutros países. Mesmo na poesia, género no qual não há normalmente pudor com o “eu” e onde se assinala sobretudo experiências do quotidiano. Ocorre-lhe, em conversa, como um dos paradigmas confessionais, o nome da americana Sylvia Plath. No caso português, com características específicas, lembra Al Berto, “numa vertente mais sexual”. Na prosa, Pedro Paixão, praticante de uma literatura na qual os narradores não parecem distanciar-se muitas vezes de quem ele é. “Tudo acontece de uma forma minimal”. Nada que se compare ao jorro do escritor de A Morte do Pai.

O escritor Mário Cláudio nota os perigos da confissão, que são os do auto-elogio. NUNO VEIGA/LUSA
O autor de Astronomia, Mário Cláudio, refere outros autores portugueses nos quais reconhece um parentesco com o seu último livro, editado em 2015, que mistura a confissão com “várias mentiras”. Fala em José Régio, Ruben A. e Virgílio Ferreira. Ou em Marcello Duarte Mathias, nos seus diários. Lembra também as crónicas de António Lobo Antunes, em que o autor se conta muito. Não é só a acção que o interessa mas sim o pensamento, a reflexão sobre o que se passou e passa. Não sabe onde está arrumado o seu livro nas livrarias mas considera que a secção apropriada é a de romance.
Mário Cláudio nota os perigos da confissão, que são os do auto-elogio. E faz uma diferença entre o que se passa, por exemplo, nos EUA e em Portugal na área das memórias e da autobiografia. No nosso país há uma reserva em praticar o registo. “O português leva-se demasiado a sério. Não se ri dos seus ridículos”. Elege Álvaro de Campos como o heterónimo de Pessoa com o qual mais se reconhece exactamente por assumir as suas fragilidades e vilezas.
Karl Ove Knausgård comoveu gente das artes da representação, como o actor Gonçalo Waddington, também realizador, encenador e autor do livro Albertine, O Continente Celeste (Abysmo, 2015), texto levado à cena e que tem como ponto de partida, além do trabalho de alguns físicos e cosmólogos, Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Uma reflexão sobre a memória e a imaginação da memória. Gonçalo ouviu falar da série A Minha Luta quando estava a estrear a peça e percebeu que havia quem se referisse a Karl Ove como o novo Proust. “Prenderam-me logo as primeiras páginas, que falam na decomposição de um corpo”.
A partir de certa altura, Waddington esqueceu-se de que estava a ler uma obra autobiográfica. “A vida dele passa para segundo plano. Até porque está muito ficcionada e muito bem contada”. Um pouco à maneira de David Shields vai-se lembrando de referências artísticas que jogam com o eu e das quais se sente próximo. O João de Deus de César Monteiro, Louie, Ricky Gervais, Patty Smith, cujo livro Apenas Miúdos (Quetzal, 2011) foi apresentado como uma autobiografia mas pode ser lido como um romance autobiográfico, como literatura de qualidade. E também recorda o autor de canções e cantor Mark Kozelek. “O Kozelek é o Knausgård da música”. Nas suas músicas fala do pai, da mãe, das namoradas, da infância, do envelhecimento. Em “Benji”, dos Sun Kil Moon (um dos projectos musicais de Mark), são convocadas múltiplas histórias privadas do fundador dos Red House Painters, cuja editora se chama Caldo Verde por causa de uma das suas visitas a Portugal.
Também o artista plástico André Almeida e Sousa ficou convocado para a série de livros que servem de mote à conversa. Primeiro com a leitura de uma entrevista. Depois cresceu o sentimento de proximidade: “Karl Ove fala do reconhecimento e da sensação de ser próximo de alguém, como se também se devesse a estas características o sucesso viciante do A Minha Luta”. O pintor diz que o modo como sentiu o que descreve minuciosamente lhe dá um estilo aparentemente fácil. “Diria também que querer ser um homem decente, como nos diz o autor, é raro, tão raro como a sua assunção pouco afetada de que ‘é tudo acerca de mim, do amor ou ódio que tenho a mim mesmo’.”
Há, para Almeida e Sousa, uma energia nos três livros para já traduzidos que os tornam de leitura compulsiva. “Dei por mim em sprints de leitura cheio de ansiedade anfetamínica”. Por momentos o autor cria um ritmo de novela detectivesca mas é de outra categoria a sua urgência: “uma urgência de sentido para tudo, mesmo tudo, o que compõe uma vida”. É uma boa palavra para fechar este texto: vida.
Nuno Costa Santos, 41 anos, escreveu livros como “Trabalhos e Paixões de Fernando Assis Pacheco”, “Às Vezes é um Insecto que Faz Disparar o Alarme” e “Vou Emigrar para o Meu País”. É autor de, entre outros trabalhos audiovisuais, “Ruy Belo, Era Uma Vez” e de várias peças de teatro.