Escrevendo sobre literatura de viagens, Paul Bowles disse que “não há nada que eu mais aprecie do que ler uma descrição exacta feita por um escritor inteligente daquilo que lhe aconteceu quando estava longe de casa”. Se à frase de Bowles retirar os adjectivos, ficará o leitor com uma ideia aproximada do relato que se prepara para ler e que narra a minha estadia breve na Madeira a fim de participar na 6ª edição do Festival Literário e de como, por mero acaso, descobri um suculento escândalo religioso dentro da comunidade inglesa da ilha no século XIX.
Curiosamente, Paul Bowles visitou a Pérola do Atlântico em 1960, experiência relatada na revista Holiday e posteriormente incluída no livro Viagens. Chegou à ilha da única maneira que era possível na altura, por mar. Ainda não havia pista de aterragem e, segundo o escritor, o serviço de hidroaviões tinha sido suspenso dois anos antes. Entre outras coisas, ficou impressionado com a robustez física dos madeirenses, os seus rostos talhados à mão e a tristeza de que eram capazes num local unanimemente considerado pelos visitantes como abençoado. “Um pássaro pode pousar no pátio de uma prisão e levantar voo outra vez sem sequer perceber onde esteve”, disse-lhe um dos seus interlocutores, um sábio madeirense que definiu bem os frequentes desencontros culturais entre turistas e residentes, em qualquer parte do mundo.
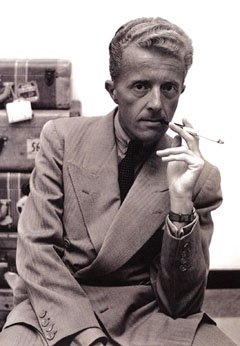
O escritor Paul Bowles
Cinquenta e seis anos depois, a Madeira é um lugar muito diferente daquele que Paul Bowles conheceu. Agora há uma moderna pista de aterragem que entra pelo mar para que os aviões não o façam. Quanto à robustez física dos madeirenses, tal como descrita por Bowles, como se se referisse a uma espécie montanhosa de homens, não a pude confirmar e os primeiros rostos em que reparei, os dos recepcionistas do hotel, não me pareceram especialmente artesanais. Simpaticamente recebido pelo pessoal da organização, almocei e fui descansar.
A meio da tarde, da varanda do meu quarto, observei um casal de turistas, cinquentões, estrangeiros, num inesperadamente trepidante desafio de ténis de mesa. Lembrei-me de uma passagem de um romance de Penelope Fitzgerald em que, referindo-se aos reformados de uma típica aldeia inglesa, dizia que, a certa altura, se tinham dedicado à aguarela. O pior, segundo a narradora, é que eram todos bastante bons. Este casal de mesa-tenistas também me surpreendeu não só porque estavam os dois devidamente equipados como por demonstrarem um assinalável domínio do jogo. A mulher era uma virtuosa dos ataques contínuos, submetendo o seu par a rajadas consecutivas a que ele, numa exibição de enorme solidez defensiva, respondia com um mínimo de desespero, um estoicismo destinado a esperar o erro da adversária que, na voracidade do ataque, perdia lucidez.
Os quinze minutos que dediquei à observação deste confronto foram dos melhores da minha estadia na Madeira. Foram, sem qualquer dúvida, os mais agonísticos visto que, apesar do que se diz do meio literário, estes encontros decorrem num clima de urbanidade e respeito, nos limites da deferência. Nos melhores casos, reinam a hipocrisia e a dissimulação que a nossa civilização levou séculos a aprimorar e que algumas bestas, em nome da sinceridade e de outras deficiências de carácter, gostariam de destruir.
Saí do hotel e dirigi-me ao centro da cidade. No caminho cruzei-me com alguns ciclistas, poucos, mas em número suficiente para perceber que nem o relevo acidentado de uma ilha vulcânica desencoraja o extremista dos velocípedes. Apesar disso, é muito maior o número de transeuntes que se servem de canadianas, andarilhos, cadeiras de rodas ou dos braços sardentos e flácidos dos seus companheiros de viagem. Ao reparar nas centenas de sexagenárias britânicas que se passeiam pela cidade, não pude evitar o pensamento algo perverso e infantil que nem o repouso insular nem o clima unânime impediram que uma delas, talvez não representativa do todo, mas cujo caso não se pode ignorar, se tenha atirado às águas do Atlântico, perseguindo a nado, loucamente, um navio de cruzeiro, num daqueles actos que a literatura considera sublimes e os médicos da Casa de Saúde Câmara Pestana, recorrendo a pesados compêndios comidos pela traça, tratam prosaicamente com os poucos meios que restam ao estado social.
Ter Esperança
Caminhava sem um destino concreto, melhor, sem um itinerário rígido porque, na verdade, ia à procura da livraria Esperança, cuja fama já conhecia antes sequer de ter embarcado no avião e que, depois disso, já me tinha sido recomendada duas ou três vezes por entusiastas, cujo encantamento atribuo menos à sumptuosidade da livraria do que aos anos e anos de frequência de livrarias de centro comercial, sem alma, sem personalidade e, algumas, até sem livros publicados há mais de dois meses. A Esperança – justo nome porque os que ali entram fazem-no com a tranquila expectativa de encontrar o livro que procuram, qualquer que seja –, que encontrei mais de uma hora depois de a isso me ter proposto, tem aquela disposição enganadoramente caótica de certas bibliotecas pessoais afluentes e ao visitar cada um dos três pisos do estabelecimento, o leitor entra num mundo de auto-suficiência epistémica, um lugar dentro da cidade mas dela independente, uma cidade-estado, um enclave com leis e costumes próprios, embora não tão organizado a ponto de se preocupar em codificá-los.

A livraria Esperança, no Funchal
Será acertado dizer que, mais do que a um fruto do obstinado espírito humano, a Esperança, no seu emaranhado de 107 mil volumes – de histórias da Condessa de Sègur a um volume de homenagem ao Liceu Salvador Correia, em Luanda, da dramaturgia de Jaime Cortesão à arquitectura de Raul Lino, de inúmeras biografias de Che Guevara a estudos sobre as aparições de Fátima, dos vários volumes da história das mulheres à investigação de Marianna Birnbaum sobre essa mulher fascinante do século XVI, a judia portuguesa Gracia Mendes – se assemelha a uma floresta, um território tão favorável ao papel dos livros como o clima e o solo da Madeira são propícios a todos os tipos de vegetação.
Diz-se que ao chegarem à Madeira, os portugueses deitaram fogo à ilha e que esse incêndio incontrolável foi um inferno que durou sete anos, mas que a natureza não demorou a cobrir de novo a terra de um manto de múltiplos verdes e outras cores. Por obra das viagens dos navegadores e das trocas ocasionadas pelas mesmas, acrescentou-se à flora local espécies trazidas de outras paragens, sobretudo tropicais, e que aqui medraram como se nunca houvessem conhecido outro solo. Ao percorrer os apertados espaços entre estantes, ocorreu-me a ideia fatal de um incêndio e de como todo aquele património acumulado ao longo dos anos desapareceria em pouquíssimo tempo, consumido pelas chamas. Porém, é fácil acreditar na ilusão de que há nesta livraria qualquer coisa incerta e rara e que, por essa razão, tudo o que o fogo consumisse a própria natureza do lugar trataria de repor. Bem sei que, acontecendo uma tal tragédia, o desfecho não seria tão afortunado, mas a luxuriante vegetação bíblica desta casa com mais de cem anos inspira-nos ideias absurdas e distorce a ideia que temos do poder efectivo dos livros sobre a realidade.
Só que antes de ter chegado à Esperança, tinha-me de facto perdido. Quando dei por mim, estava numa pequena rua de nome de maus augúrios: Rua do Quebra-Costas. Ao olhar para o fim da rua, vi a escadaria íngreme que conduz a outro arruamento e que, quase de certeza, era a razão para tão peculiar topónimo. Avancei até meio, fiando-me numa inspiração de última hora que me salvasse do confronto com os aparatosos degraus, e então reparei que, à minha esquerda, havia uma clínica dentária e, do lado oposto, um portão aberto e uma placa a indicar a igreja inglesa. O edifício de linhas neo-clássicas, modesto como uma biblioteca, é de uma elegância parlamentar. Infelizmente a igreja estava fechada e, por isso, limitei-me a passear pelo jardim tranquilo, onde me cruzei com uma senhora portuguesa de bata que, acompanhada de uma cadelinha muito velha e cega de um olho, ia recolhendo as folhas do chão. No muro à volta, azulejos assinalam as estações da via-sacra, placas singelas homenageiam antigos servidores da igreja, familiares dos fiéis perecidos na I Grande Guerra, amigos, desconhecidos. Num dos bancos do jardim, uma placa lembra Sandra Berry (1950-2005), “a faithful servant and a true friend.” Quando passei o portão, de volta à rua do Quebra-Costas, já tinha planeado o meu regresso no dia seguinte.
O jogo em cima da mesa
O jantar de quinta-feira foi ao ar livre, nas imediações do casino. Alguém, cujo nome a bebedeira que se seguiu varreu-me da memória, aproveitou a ocasião para elaborar um panegírico à arquitectura de Oscar Niemeyer, ao seu empenho cívico e, como se falasse de uma tartaruga centenária, à sua longevidade. Então falou sobre curvas e a inspiração para as mesmas, a orografia brasileira, tão amada pelo arquitecto, e a linha recta, por ele tão odiada, mas que dá muito jeito quando se tem pressa. Outro dos presentes, quem também já não sei, murmurou que aquilo era arquitectura bêbeda, vistosa.
A discussão foi interrompida quando um de nós, menos interessado em discussões geométricas reparou que, aos quinze minutos de jogo, o Liverpool já perdia por 2-0 com o Borussia Dortmund para a Liga Europa. O que se seguiu foi um dos grandes momentos na história dos festivais literários em Portugal e o mérito é todo de Jürgen Klopp, essa idealização do treinador-estrela cujo comportamento, alternando entre o nonchalant e o furioso, sugere que tudo o que acontece de bom às suas equipas não têm tanto que ver com o seu génio táctico, sendo antes uma espécie de vénia que o universo lhe faz, um agradecimento cósmico por ele ter escolhido tão bem a sua profissão. Claro que a perder por 2-0 nenhum treinador é genial e o 3-1 contra a sua antiga equipa parecia enterrar antecipadamente a lenda de Klopp. Depois de o Liverpool ter encetado a recuperação, tivemos de interromper por várias vezes a refeição, para nos certificarmos do que estávamos a testemunhar. Quando os ingleses empataram, alguém – dessa vez fui eu – percebeu que um quarto e salvífico golo aos 90 minutos não só era previsível como se tornara inevitável. Portanto, o salto aparentemente tresloucado que dei no momento do golo tinha alguma profundidade filosófica: mesmo que tudo esteja escrito não nos devemos abster de festejar quando isso acontece.

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool
Quando subi para o quarto, Klopp ocupava-me dois terços do espaço mental. O restante terço aproveitei-o para visitar o site da Holy Trinity Church da Madeira. O sono e o álcool não foram suficientemente fortes para que eu não reparasse no nome de um capelão – reverendo Richard Lowe – cuja substituição, na década de 40 do século XIX, tinha sido directamente solicitada pelos fiéis à rainha. Fiquei de investigar o assunto no dia seguinte e adormeci em dois segundos, não sem antes pensar uma última vez em Jürgen Klopp.
Na manhã seguinte, desci para o pequeno-almoço um pouco antes das nove horas. Do cimo da rampa que dá acesso ao restaurante a visão é extraordinária. O espaço, amplo e com vista para o Atlântico, recebe uma generosa luz que transforma aquilo que pode parecer uma gaiola envidraçada num miradouro futurista. Depois de alimentado, fui para o exterior, junto da piscina, de onde se vêem os navios de cruzeiro atracados. Ao mesmo tempo, e esse é que é o espectáculo digno de nota, a luz flutua por entre as nuvens em fulgurações caprichosas como se planeadas por um designer de luz, como no momento em que um raio de sol incidiu verticalmente sobre um pequeno ponto no mar, lembrando os ensaios de uma peça.
De regresso ao hotel, cruzei-me com o casal que vira no dia anterior a jogar ténis de mesa e, pela maneira como falavam um com o outro – com a firmeza polida dos militares – e como andavam – resolutos, ágeis – reforcei a impressão de que entre os dois havia a tensão física de quem se apresta a entrar em competição. Eram o contrário daqueles casais adoráveis em que a simples postura à mesa conta a história da progressiva adaptação de um ao outro, casais a quem o desgaste natural dos anos, em vez de afastar, aproxima, eliminando as arestas próprias daquela idade tão nociva para os amores em que ainda se tem a impertinência da juventude e o encantamento inicial já se perdeu. Calculei que este casal seria de uma têmpera diferente e diferente seria a sua história: a de dois espíritos competitivos que, em conjunto, se estimulam e exasperam, fazendo da paixão uma longuíssima batalha pois sabem que uma certa dose de belicismo é necessária para que no amor – sobretudo no amor – se realizem feitos grandiosos.
Dirigi-me de imediato à Rua do Quebra-Costas. Desta vez, encontrei a igreja aberta. A autoridade emanada por um edifício como este é de natureza muito diferente da de uma igreja católica. Aqui, a autoridade, rigorosamente humana, é mais civil do que transcendente. O edifício não foi construído para maravilhar, nem para comover, mas para se impor pela justeza inequívoca das suas propostas. Ao fundo da igreja, de frente para o púlpito, há quatro painéis circunspectos com a declaração de fé, os dez mandamentos e o Pai-Nosso. A simplicidade é a de um edital: a crença, os deveres e a oração como os pilares de uma vida boa. Ao centro, está o real brasão de armas do Reino Unido com a divisa de Henrique V, “Dieu et Mon Droit”, e a divisa da Ordem da Jarreteira, “Honi Soit Qui Mal y Pense”.

Rua do Quebra-Costas, Funchal
Como no exterior, ali dentro há várias placas em memória de antigos membros da igreja. Por exemplo, é lembrado Robert Trail que, em Maio de 1914, casou naquela igreja com Mildred, filha de Charles John Cossart. Robert morreu a 1 de Dezembro de 1917, perto de Cambrai, durante a I Guerra Mundial. Dois anos depois, a 23 de Dezembro de 1919, o seu sogro morreu e é também recordado numa placa afixada atrás do púlpito, onde se pode ler a seguinte frase: “A good life hath but a few days. But a good name endureth forever.” Outra figura homenageada é a do cirurgião Michael Grabham que, durante quarenta anos, serviu no hospital Victoria Jubilee, em Kingston: “To the relief of human kind he dedicated his rich talents, rare gifts and the fruit of assiduous research study to show thy self approved unto God a workman that needeth not to be ashamed.” Por fim, há uma placa em memória de Edmund O. Krohn, nascido na Madeira a 13 de Novembro de 1898. Era Segundo-Tenente do 84º Esquadrão da RPC (Royal Pioneer Corps). Morreu em combate aéreo perto da floresta de Saint Gobain, a 1 de Março de 1918, aos dezanove anos. Os pais homenagearam-no desta forma simples.
Estas placas que lembram os mortos têm toda a dignidade da dor contida e nada do patetismo do sofrimento exibido como galardão. Uma pequena placa num banco de jardim, um azulejo num muro, uma dedicatória numa árvore extraem da morte o seu carácter grotesco, desumano. Mesmo se descontarmos alguns exageros, a crença no valor do bom nome, no trabalho honrado ao serviço dos outros, na dedicação ao bem comum, está longe da celebração meramente piedosa e sentimental do falecido. Além disso, as homenagens, apesar de simples, têm um poderoso efeito cumulativo, como se mesmo aqueles que morreram há um século ou mais, continuassem ali, integrados na comunidade dos vivos, como se a igreja vazia pertencesse tanto a uns como a outros.
Nesse momento, entrou uma senhora que recolheu os donativos da caixa verde à entrada. Dei-lhe os bons-dias e perguntei-lhe se haveria alguém com quem eu pudesse falar sobre a história da igreja.
– There is Kevin, but he lives in the northern part of the island – e acrescentou que Kevin só vinha uma ou duas vezes por semana. Quis ajudar-me de alguma maneira e deu-me uns folhetos com informações úteis sobre a igreja. Por cima da porta da entrada, estava a lista de todos os capelães que serviram a igreja, entre os quais R. T. Lowe. Mas para saber mais sobre ele teria de pesquisar na net e só à noite teria tempo de o fazer.
A ilha desconhecida
Durante o resto do dia, a parte mais elevada da ilha permaneceu velada pela neblina persistente capaz de atenuar as saudades de casa dos britânicos que, por força do convívio, contraem esse mal latino e que a nós, amantes do desporto-rei, tanto aporrinha pelos incontáveis adiamentos de jogos que lhe devemos.
Por falta de tempo e energia, não me aventurei para além do centro do Funchal, pelo que tudo o que possa dizer sobre a ilha é fundamentado por observações superficiais num espaço bastante limitado durante um curto período de tempo. No entanto, certas impressões são tão fortes ou tão forte é a necessidade de o escritor as registar que, confrontado com as mesmas, nenhum polícia literário lhes poderá exigir mais do que a obediência à gramática. Veja-se o caso de Raul Brandão, que passou pela Madeira a caminho dos Açores, viagem relatada em As Ilhas Desconhecidas. Nas poucas horas que aqui esteve – uma tarde – não saiu do navio: “Fico todo o dia a bordo, deslumbrado, contemplando a Madeira, a embeber-me no espectáculo da luz, que passa do cinzento ao azul e se modifica a todos os momentos, até ao fim da tarde, em que o mar se torna diáfano e os montes transparentes, com uma grande nuvem pousada em cima.” Não sei se o mar, ao fim da tarde, se torna diáfano e os montes transparentes, mas sei que se não tivesse lido estas linhas antes de ter visitado a Madeira certas particularidades da luz ter-me-iam passado despercebidas e, no sábado de manhã, teria ignorado a neblina a desfazer-se nas encostas, como o derradeiro fumo de um incêndio já extinto.
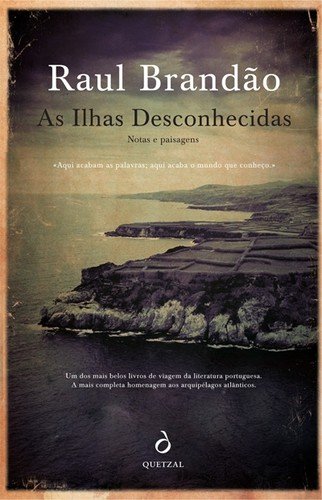
Daí que tenha de confiar que, do confronto entre o pouco que vi e o pouco que sabia, alguma verdade me tenha sido revelada. A Madeira, dizem, é um jardim, e naquelas centenas de metros que tive ocasião de visitar é visível o esforço para que a afirmação não possa ser desmentida. Coincidiu a minha visita com a Festa da Flor. Acontecimento menor, se comparado com o fim-de-ano ou o Carnaval, é um barómetro fiável do modo como a Madeira se quer apresentar ao visitante ocasional. Há tapetes de flores espalhados pelas ruas numa profusão infantil de cores. Ao lado de outros turistas vi quatro raparigas em idade núbil, criteriosamente escolhidas e certamente remuneradas, que desfilavam com trajes que deverão menos a tradições vetustas do que à necessidade em fazer de toda a área um laboratório de explosões cromáticas para as quais concorrem também os táxis de um berrante amarelo-Caracas. Esta parte da cidade é uma imensa sala de visitas e tudo o que se pode deduzir é o aprumo dos anfitriões, a sua preocupação em receber bem, mas nada das suas vidas interiores, o que só é mau se estivermos interessados em fazer literatura.
Fora estas considerações, ocupei o dia com uma entrevista à RDP Madeira, participei no debate sobre religião para o qual fui convidado e que decorreu sem episódios dignos de nota e jantei sushi num restaurante em que os funcionários, tão liberais no fornecimento de vinho, nos compensaram dos almoços no hotel regados a água e Brisa de maracujá. Uma chávena de café ajudou-me a despertar para finalmente fazer uma pesquisa mais demorada sobre o reverendo Richard Lowe. Eis o resultado dessa inquirição:
O nome de Richard Thomas Lowe (1802-1874) figura na história de Inglaterra graças a dois factos, ambos relacionados com a Madeira. Lowe chegou à ilha em 1826 para acompanhar a mãe tuberculosa e com uma bolsa da universidade de Cambridge para estudar a fauna e a flora locais. Em 1831 publicou em Inglaterra um livro – Primitiæ Faunæ et Floræ Maderæ et Portus Sancti – com o resultado do seu trabalho de exploração ao mesmo tempo que assumia um papel de destaque na igreja inglesa, cujo edifício fora concluído em 1824 sobretudo devido ao empenho do então cônsul, Henry Veitch, responsável pelo projecto arquitectónico e principal angariador das verbas para o concretizar. A posição proeminente de Veitch era incontestável, o que levantava problemas recorrentes com o capelão W. W. Deacon, de quem Lowe era bastante próximo. Numa querela por causa da remuneração, Deacon foi para Londres de licença e Lowe substituiu-o provisoriamente. Como não há nada tão permanente como uma decisão provisória, Lowe acabaria por passar os quinze anos seguintes como capelão da igreja anglicana na Madeira, um cargo que podia agradecer às intervenções insidiosas de um grupo liderado por um tal Stoddard, comerciante inglês que detestava o cônsul.
No entanto, os verdadeiros problemas de Lowe começaram quando ele, influenciado pelo Oxford Movement (um movimento tradicionalista no interior da igreja anglicana que procurava recuperar alguns dos costumes litúrgicos anteriores à Reforma), tentou introduzir algumas alterações escandalosas, como a marcação de um culto ao fim da tarde de Domingo ou a recolha de ofertas após a comunhão. Desorientado, o cônsul apresentou queixa de Lowe ao Ministério de Negócios Estrangeiros, mas foi o próprio Veitch a ser substituído depois de terem circulado rumores sobre o seu comportamento adúltero e de o terem acusado, de forma bastante criativa, de se ter dirigido a Napoleão Bonaparte, que fizera escala na Madeira a caminho do exílio em Santa Helena, como “Sua Majestade”. O seu lugar foi ocupado por Stoddard.
O idílio durou pouco. Durante uma licença em Inglaterra Lowe casou-se com a filha de um clérigo. Em 1843, instalados na Madeira, perceberam que a comunidade estava completamente dividida. Muitos fiéis, quando se cruzavam com a mulher de Lowe, mudavam de passeio. Stoddard zangou-se com o capelão e passou para o outro lado da barricada. A partir daí sucederam-se as cartas enviadas por representante de ambas as facções para o Bispo de Londres e para Lord Palmerston, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Além disso, os detractores de Lowe resolveram enviar uma exposição do caso à rainha Vitória em que acusavam o capelão dos crimes – gravíssimos neste contexto – de “inovação” e “mudança” e da ofensa maior de ter alegadamente feito a oração de costas para a congregação. No entanto, manobras diplomáticas evitaram que a carta tivesse chegado às mãos da soberana. Palmerston, também pressionado pelo conservador Benjamin Disraeli, exigiu a Stoddard que tomasse medidas para controlar o escândalo e autorizou a destituição imediata de Lowe.
Porém, o capelão, cuja figura ascética, quase espectral, impressionara os compatriotas vinte anos antes, não era homem para desistir à primeira. Assumiu a ruptura e, juntamente com os seus apoiantes, fundou na rua das Aranhas uma igreja que ficou conhecida como a Becco Church. Na década de 50, quando o reverendo Lowe regressou a Inglaterra, muitos fiéis voltaram à casa-mãe, mas a Becco manteve-se aberta durante quarenta e cinco anos, até 1893, quando as facções desavindas se reconciliaram. Porém, a memória do escândalo – considerado o maior da história da comunidade inglesa na ilha – permaneceu. Em 1990, Roy Nash, autor de livros como Explaining Inequalities ic School Achievement: A Realist Analysis e Schooling in Rural Societies, publicou uma obra intitulada precisamente Scandal in Madeira (para quem se interessar por estas curiosidades, diga-se que no site Goodreads os 14 livros de Nash só têm duas votações, ambas de três estrelas).
No dia seguinte, ao arrumar a minha mala, já não era em Jürgen Klopp e no dramático apuramento do Liverpool que eu pensava mas sim nas sumaúmas, grevíleas e barbusanos que encontrei enquanto passeava pelo jardim; pensava nos três pisos da livraria Esperança e no incêndio que o medo me fez imaginar, na singela e comovente homenagem pública a um tal João de Almada que durante anos cuidou dos jardins da igreja e do cemitério inglês; pensava no azulejo com que um casal decidiu lembrar os mortos na enxurrada de 2010 prometendo que não seriam esquecidos; nessa última manhã na Madeira, era no busto de João Fernandes Vieira, libertador de Pernambuco, na rua de São Francisco que eu pensava e pensava nas raparigas de vestidos cor-de-rosa que se ofereciam ritualmente às objectivas indecorosas dos forasteiros; pensava no casal do ténis de mesa (ainda interrompi as arrumações e espreitei lá para baixo mas a mesa estava vazia e daquele casal de combatentes do amor não havia sinal), pensava nos táxis amarelos e, já a caminho do aeroporto, vendo as Desertas e desejando absurdamente ali refugiar-me um dia e lembrei-me uma última vez do monástico reverendo Lowe que, por motivos de saúde e porque o seu interesse pela natureza da Madeira nunca esmoreceu, regressou várias vezes à ilha. Em 1874 embarcou em Liverpool, na companhia da mulher, com destino à ilha que amava e à qual, por bons e maus motivos, sabia que o seu nome estava eternamente ligado. Perto das ilhas Scilly o barco naufragou e todos os seus ocupantes desapareceram. Richard Thomas Lowe não voltou a ver a Madeira.
Bruno Vieira Amaral é crítico literário, tradutor e autor do romance As Primeiras Coisas, vencedor do prémio José Saramago em 2015

















