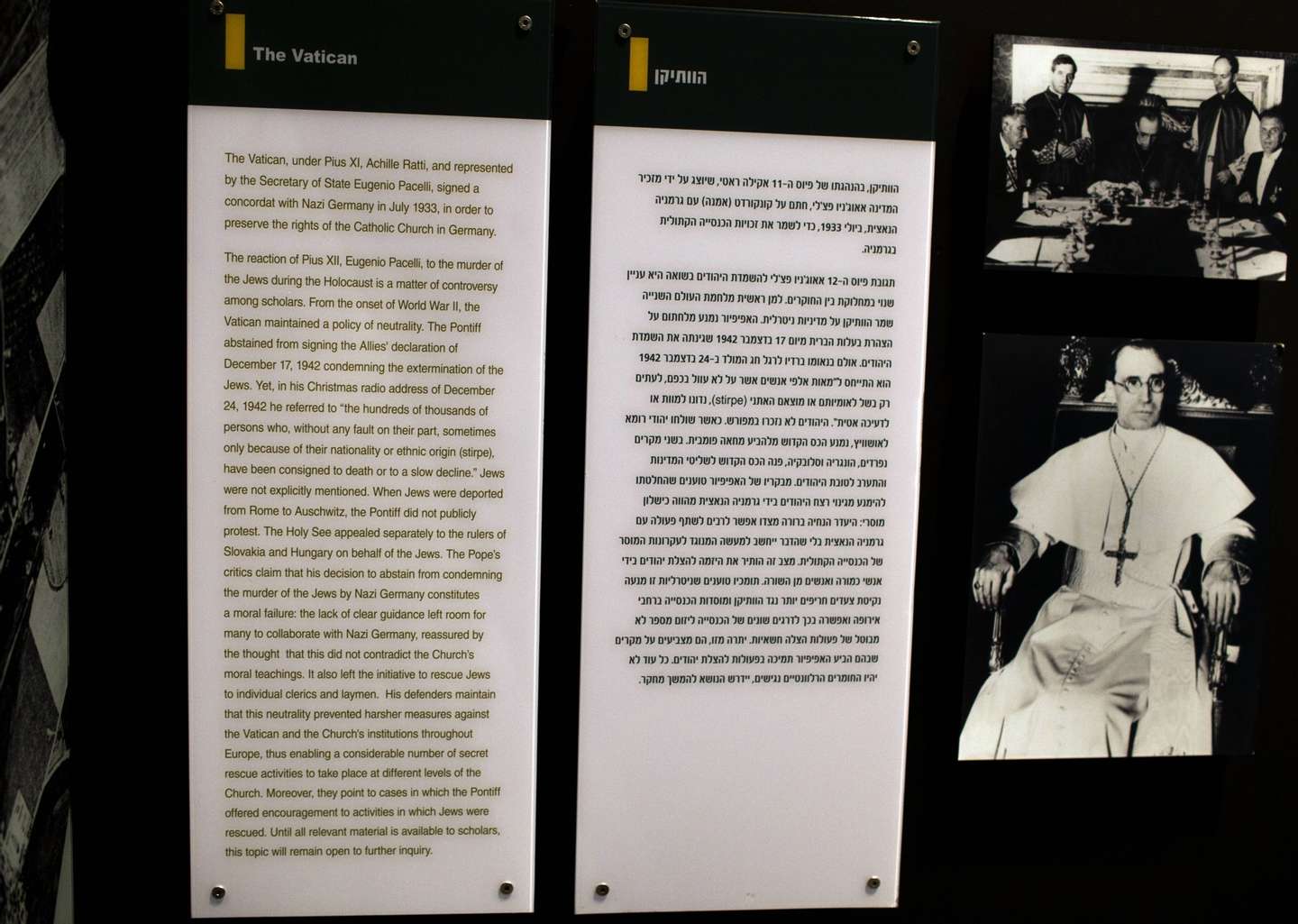Índice
Índice
Este artigo foi publicado originalmente a 27 de Janeiro de 2015 e é agora republicado, com ligeiras adaptações, a propósito da passagem do 75º aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, a 27 de Janeiro de 1945.
A torre de Birkenau fica mais ou menos a meio do longo edifício de tijolo vermelho. Mesmo em cima do arco por onde entravam os comboios. Lá do alto o nosso olhar pode pousar sobre o imenso campo que um dia foi de extermínio. Pode perder-se na sua imensidão.
À direita, meia dúzia de barracões de madeira escura são conservados como testemunho do tempo em que ali se acumulavam os prisioneiros. À nossa frente, a linha do comboio e as plataformas onde os SS dividiam os que chegavam entre os que iam diretamente para as câmaras de gás e aqueles que ainda serviam para trabalho escravo. Lá ao fundo, antes da fita verde do bosque de bétulas, estão os restos dos fornos crematórios e das câmaras de gás, feitos explodir pouco tempo antes de os soldados soviéticos chegarem, numa tentativa inglória de esconder o que aqui se tinha passado.

De resto, a toda a volta, a planície parece vazia. Do complexo de morte que aqui existia sobram pouco mais do que as ruínas das chaminés que existiam em cada uma das barracas. O olhar esvai-se na distância sem que consigamos perceber onde estão os limites do campo.
A máquina de matar: 20 mil por dia
Há espaços que não cabem dentro de uma fotografia ou de um filme, e este campo de Auschwitz II, o campo de Birkenau, é um espaço desses. Em parte pela sua imensidão: só este campo, o que estava dedicado ao extermínio, ocupa uma área que, se pousada sobre a cidade de Lisboa, ocuparia toda a zona que vai do rio até uma linha imaginária que fosse do Palácio de São Bento à Graça, passando pelo Rossio (no Porto podemos imaginar um espaço semelhante: o que estaria entre o rio e uma linha que unisse o Hospital de Santo António ao liceu Alexandre Herculano).
Mas não é apenas o espaço imenso que perturba. É mais o vazio atual que nos deixa imaginar o tempo em que aqui se podiam exterminar, matando e fazendo desaparecer os restos, até 20 mil seres humanos por dia. De forma eficiente, rotineira e implacável.
Conhecemos os números – ali morreram perto de um milhão judeus, mais algumas dezenas de milhares de ciganos, de prisioneiros de guerra soviéticos, de resistentes polacos e de homossexuais. Lemos os grandes romances de sobreviventes, como Se Isto é um Homem, de Primo Levi, ou A Noite, de Elie Wiesel. Testemunhos tocantes, como o do Diário de Anne Frank. Vimos documentários como o seminal Shoah, de Claude Lanzmann, ou o pioneiro Nuit et brouillard, de Alain Resnais. Ou filmes, de A Lista de Schindler a A Escolha de Sofia. Fomos até aos grandes museus de Jerusalém, de Berlim, de Washington.

Mas não sabemos nada. Pior: só sabemos que não sabemos nada aqui, em Auschwitz. É algo que se entranha quando vagueamos, em silêncio, por este lugar único e terrível. Algo em que pensamos ao descer as escadas do torreão. Ou ao percorrer devagar o longo cais onde eram despejados e selecionados os prisioneiros. Ou ainda ao descermos às caves do Bloco 11 em Auschwitz I, a prisão dentro da prisão. Até ao pararmos, na exposição, diante dos tecidos feitos com cabelo humano. Ou do monte de próteses.
Os judeus que ajudavam a matar judeus
Shlomo Venezia é o único sobrevivente de Auschwitz com quem tive oportunidade de conversar. Faz agora sete anos. Sendo que não é um sobrevivente qualquer: judeu de origem grega, nascido em Salónica, foi obrigado a fazer parte dos Sonderkommando, e isso era quase sempre muito pior do que ter morte imediata, pois eles eram os judeus que ajudavam a matar judeus. Eram essas equipas que faziam o trabalho mais abominável de limpeza das câmaras de gás e de levar os cadáveres para os fogos crematórios. No caso de Shlomo, a sua tarefa era cortar os cabelos às mulheres. O seu irmão tinha de arrancar os dentes de ouro da boca das vítimas.
“Aquilo que tínhamos de fazer era tão duro, tão impossível de acreditar, que por vezes o meu irmão ainda se interroga se não foi tudo um sonho ou se aconteceu mesmo”, disse-me quando conversámos. Só que aconteceu mesmo, por muito que custe perceber o que fez e como o fez: “Éramos autómatos, pois uma pessoa normal não resistiria. Acho que, ao fim de um certo tempo, nos transformámos em robots. É algo que nunca poderemos esquecer, algo que ficou connosco para sempre, pois em cada dia que passava não éramos mais a mesma pessoa.”

▲ A utilização do gás Ziklon B permitia matar em minutos centenas de pessoas sem o inconveniente "do sangue"
Getty Images
O seu trabalho era conviver com a morte no dia-a-dia. Uma morte concreta, física, de interação com os que iam morrer e da execução mecânica das tarefas que lhe estavam destinadas depois das portas dos “chuveiros”-câmaras de gás se abrirem e ser necessário tratar dos cadáveres.
Eis como ele recorda essa experiência:“Coube-me cortar os cabelos das mulheres e enfiá-los em sacos enormes. O meu irmão tinha de arrancar os dentes de ouro e devia fazê-lo depressa, pois era muito mais difícil quando os cadáveres arrefeciam e endureciam. Nos primeiros dias foi muito difícil, nunca tinha visto um morto. Mas depois tornei-me num especialista.”
Sabia para onde iam os cabelos? Impressionou-se quando voltou a Auschwitz e viu os tecidos que estão no museu?
“Não sabia, só soube muito depois. Parece que serviam sobretudo para o isolamento acústico dos submarinos. E no museu hoje aquilo já só é uma massa acinzentada. Mesmo quem lá vai e vê esses tecidos não pode imaginar o que nós tínhamos de fazer”.

▲ Metodicamente, os alemães registavam tudo. Sem falhas
Toca no ponto: mesmo vendo, não se imagina. No limite, não se acredita. De resto mesmo quem lá esteve viveu experiências diferentes. Primo Levi, por exemplo, nunca deixou de viver atormentado por ter sobrevivido. O seu romance é de resto disso testemunho: a pergunta “se isto é um homem?” não se dirige aos carrascos, incide sobre as vítimas. Porque para sobreviver também foi necessário descer aos limites da desumanidade, e isso pode ser – foi – muito insuportável. E Primo Levi nem sequer conheceu uma experiência como a de Slomo Venezia: “Ele não sabia nada, ele não viu nada. Estava em Auschwitz III, o campo de trabalho, nunca viu os crematórios”.
É verdade. Auschwitz III era apenas um campo de trabalho escravo, como tantos outros, talvez mais duro, um campo onde se amontoavam os que trabalhavam na imensa fábrica de borracha sintética da IG Farben, mas mesmo assim não era um campo de extermínio como Auschwitz II-Birkenau.
‘A roupa não lhe pertence, é do III Reich’
“A primeira noite de ‘trabalho’ passei-a junto da casa de um camponês que tinha sido adaptada para funcionar como mais uma câmara de gás. Era o ‘bunker 2’. Estava lá quando chegaram umas 300 ou 400 pessoas que não tinham cabido nas câmaras de gás maiores. Tudo se passou como depois soube que se passava sempre: obrigaram-nos a despirem-se, disseram-lhe que iam para o duche e gasearam-nos. A nós cabia pegar nos cadáveres e levá-los para uma enorme pira onde estavam a ser queimados. A certa altura, pelas onze da noite, ouvimos o motor de uma mota. Era o comandante dos crematórios, o ‘anjo da morte’. Começou logo a insultar-nos e, quando um amigo meu, com um corpo nos braços, parou sem ser capaz de se mover mais, dirigiu-se a ele, chamou-lhe ‘porco judeu’ e, como ele continuava paralisado, como não respondia, tirou o revólver e deu-lhe um tiro. Ele nem se moveu, como se não tivesse sido atingido. Só caiu ao terceiro tiro. Eu estava perto e chamou-me para o levar para o local onde se queimavam os mortos, mas mal lhe peguei obrigou-me a pousá-lo e a despi-lo. ‘A roupa não lhe pertence, é do III Reich’, gritou-me.”
Obedeceu. Obedeceu sempre até à última noite, a de 17 de Janeiro de 1945, quando os russos já estavam a poucos quilómetros e o campo foi evacuado. Nessa altura os 70 homens do Sonderkommando não ficaram no seu barracão isolado, como lhes tinham ordenado, mas fugiram para se juntarem aos que iam ser evacuados nas famosas “marchas da morte”.
Porquê?
“Porque sabíamos que iríamos ser mortos. Os SS não queriam deixar para trás nenhuma testemunha que pudesse contar o que se passara nas câmaras de gás e nos crematórios. Éramos só 70, até nem precisariam de fazer desaparecer os nossos corpos…”

▲ 70 anos depois
AFP/Getty Images
Salvou-se, foi para Itália, acabou por se casar e ter filhos. Mas o mais espantoso é que só quatro décadas depois, em 1992 teve coragem para lhes contar tudo o que lhe acontecera. “O que é que podia dizer aos meus filhos quando eles eram pequenos? Como lhes podia explicar à mesa, quando viam o número que me tatuaram no braço, 182127, o que se passara? Respondia-lhes apenas que era um número de telefone. E mesmo a minha mulher, que sabia que tinha estado em Auschwitz, não imaginava o que tinha sido obrigado a fazer.”
Pior: “Se tivesse contado ao princípio, nem acreditariam. Julgava-se que os judeus morriam naturalmente e só depois eram queimados, não se conseguia imaginar que chegavam vivos e os exterminavam daquela forma.”
Na altura em que falámos contava tudo, as vezes que fosse necessário, recordando que “a cada dia preferia morrer, e cada dia lutava por sobreviver”. Estava em Lisboa por causa do seu livro e da vontade que ninguém esquecesse, e por isso lutou até morrer, em 2012. Foi mais um sobrevivente que desapareceu, mais uma testemunha que não vai poder contar-nos o que viveu de viva voz. Com o passar dos anos são cada vez menos. Há 15 anos, quando em Auschwitz se comemorou o 60º aniversário da libertação, ainda puderam comparecer 1500 sobreviventes, há cinco anos os organizadores só conseguiram reunir 300. Como será este ano, onde eles serão ainda menos? E como será dentro em breve, quando mais ninguém estiver vivo para contar como foi, o que certamente tornará ainda mais difícil organizar a memória, mantê-la viva e continuar a tentar compreender o incompreensível? Isto é, o “como foi possível?”
Ver em cada vítima um ser humano igual a qualquer um de nós
Recordemos, por exemplo, A Lista de Schindler. Lembram-se como, em todo o filme a preto e branco, há apenas uma imagem a cor, a de uma miudinha com um casaco vermelho? E recordam-se por que é tão importante a sua fugaz passagem pelo ecrã?

▲ A menina de vermelho que chamou a atenção de Schindler
A resposta pode não ser óbvia mesmo para quem viu o filme mais de uma vez. E só a conhecemos porque Schindler, até aquele momento um industrial alemão que aderira ao nazismo, via judeus como seres sub-humanos e beneficiava da sua redução à escravatura, nos disse, muitos anos depois, que foi por ter visto essa rapariga e, depois, o mesmo casaco vermelho entre os despojos dos que tinham sido assassinados, que o despertou para a realidade do Holocausto. Depois tornou-se num “justo”, isto é, em alguém que passou a arriscar a vida e a fortuna para salvar judeus.
Mas o caso de Óscar Schindler é uma exceção. Ele deixou-nos o raro testemunho de alguém que era mais do que um observador passivo, que era quase um dos carrascos, e foi capaz de passar para o lado das vítimas. Mas será que a sua história, e o filme de Spielberg, para além de recordar o horror inimaginável, nos ajuda a perceber como foi humanamente possível?
Mario Sinay, que foi director do departamento para a educação do Holocausto no Yad Vashem, em Jerusalém, não tem uma resposta segura. “Não sei se algum dia vamos conseguir responder de forma definitiva ao problema de saber como foi humanamente possível. Há anos que estudo o Holocausto o número de questões que se me colocam não param de aumentar.” Algo que a sua mulher confirmou ao recordar-nos o impacto de uma viagem à Polónia: “Às vezes via-o enterrado no sofá, a olhar para a televisão mas sem seguir as nossas conversas, como se não estivesse ali. Tinha quase de acordá-lo: ‘Mario, ainda estás na Polónia, não estás’?”.
Contudo, se foi no território da Polónia que os alemães construíram quase todos os campos dedicados ao extermínio em massa – Auschwitz-Birkenau, o maior de todos, Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek e Chelmno, campos onde terão morrido quatro dos seis milhões judeus vítimas do Holocausto –, se metade do número total de vítimas eram judeus polacos, Mario Sinay acredita que sem dar um rosto e um nome a cada um dos que morreram é impossível começar sequer a sentir o que se passou há poucas décadas no coração da Europa. “Ninguém pode identificar-se com um monte de cadáveres”, justifica. “Mas podemos encontrar em cada vítima um ser humano igual a qualquer um de nós”.
É isso que será cada vez mais difícil conforme forem morrendo os últimos sobreviventes, mas foi precisamente isso – perceber que as vítimas, não seres anónimos – que aconteceu com Óscar Schindler. Na verdade, até ter reparado na rapariguinha do casaco vermelho, para ele os judeus eram números, seres abstratos que a propaganda nazi apresentava como valendo menos do que cães ou ratos; depois de ter reparado primeiro nela, e depois no que restava dela (o casaco entre um monte de despojos), tudo mudou.

É por isso que, no novo museu do Holocausto de Jerusalém, integrado no Yad Vashem, o critério é sempre dar um rosto e um nome às vítimas. Esther Mucznik, que conheceu o primeiro museu construído em 1960 e ampliado em 1973 e já visitou várias vezes o novo, inaugurado em 2005, não duvida que este segue fielmente o princípio de que, “contra a desumanização nazi, é fundamental humanizar as vitimas”, que “mais do que mostrar como morreram, importa contar como viveram”.
O dever da memória em Jerusalém
Desenhado pelo arquiteto Moshe Safdie, o novo museu histórico desenvolve-se no interior de uma colina e em torno de um gigantesco prisma triangular cujos topos, ao emergirem, marcam o início e o fim da travessia pela memória de um povo quase desaparecido: os judeus europeus, em especial os ashkenazitas de cultura yiddish.
A cada passo encontramos não apenas mapas, gráficos e descrições sobre o que se passou, não apenas reconstituições das habitações humildes e das ricas, depois das ruas dos guetos, por fim dos campos de concentração e extermínio, não apenas objetos de época que tanto podem ser medalhas ganhas por soldados judeus que lutaram no exército alemão durante a I Guerra como os tabuleiros utilizados para recolher as cinzas nos fornos crematórios de Birkenau, como centenas de testemunhos gravados em vídeo e que, passo a passo, nos dizem como se viveu e como se sobreviveu.
A narrativa começa antes da ascensão ao poder dos Nazis e termina depois da libertação dos campos, com a luta de muitos dos sobreviventes para chegarem à Palestina onde, depois, combateriam na guerra da independência de Israel. Mas o ponto central, o último por onde se passa antes do prisma se abrir numa varanda sobre as colinas de Jerusalém, é também o que condensa o sentido do trabalho do Yad Vashem: a Galeria dos Nomes, a enorme sala circular onde prateleiras sem fim acomodam os dossiers onde estão guardadas as fichas de todas as vítimas que foi possível identificar, a sala que é iluminada pela luz que entra pelo topo de uma cúpula forrada com os rostos de uma pequena parte dos que morreram.
Quando se emerge deste museu é impossível deixar de o comparar com o museu judaico de Berlim – um museu que não é um museu do Holocausto, mas onde este está presente. Só que de uma forma completamente diferente, apesar da visita se iniciar pela evocação da “solução final para o problema judeu” e terminar com a recordação das vítimas.
Quando temos de pisar as “Folhas Caídas”
Em Berlim não nos contam histórias, ou não nos contam muitas histórias: pedem-nos antes para tentar sentir o que poderão ter sentido os judeus alemães. O desafio é tão audacioso como perturbante.
Desenhado pelo arquitecto Daniel Libeskind, inaugurado em 2001, é o edifício, mais do que a exposição sobre mais de mil anos de judaísmo na Alemanha, que interpela o visitante. A começar pela audácia da “Torre do Holocausto”, um paralelepípedo vertical, com 24 metros de altura, oco e iluminado apenas por um minúsculo rasgão nas paredes de cimento.

Entramos nela através de uma pesada porta de aço e o desafio é que ali nos deixemos estar, sem falar, mas ouvindo o zumbido indecifrável dos muitos ruídos vindos do exterior, idealmente sozinhos. “A Torre do Holocausto é o espaço onde de alguma maneira termina a velha história de Berlim”, explicou Daniel Libeskind, e onde terminou foi neste vazio escuro. O vazio de um prisioneiro à espera da morte? Ou o vazio de uma cidade que perdeu – que perseguiu, expulsou, deportou e matou – uma parte dos seus habitantes, uma parte daqueles que tinham contribuído para a sua identidade?
A resposta fica para cada um, e cada um é depois levado a percorrer os diferentes eixos subterrâneos que Libeskind imaginou de forma a corresponderem ao cruzamento dos destinos diferentes do povo judeu. O mais escuro e estreito é o que leva à única entrada para a Torre do Holocausto. O mais amplo é o eixo “da continuidade”, que leva à exposição principal, o mais estranho o “da Emigração”, que conduz ao perturbante Jardim do Exílio. Neste somos desafiados a circular entre colunas ligeiramente inclinadas construídas numa base que também não é horizontal. O objetivo é sentir a cabeça andar à roda, como num navio que enfrenta um mar alteroso, e não é necessário muito tempo que para que comecemos a apoiar-nos nas colunas, meio tontos, meio enjoados.
Por fim, já depois de percorrido as salas onde se desdobra a exposição, a aposta conceptual de Libeskind leva-nos a outro espaço vazio de novo destinado a fazer-nos sentir perdidos e vazios: na passagem entre os dois edifícios do museu temos de percorrer um espaço vazio, limitado pelas paredes verticais, mas onde o chão está coberto por peças do artista israelita Menashe Kadishman. Chamou-lhe “Folhas Caídas” e são peças de bronze, pesadíssimas, que representam rostos humanos. Temos de as pisar para sair do museu. Temos de ouvir o ruído dos nossos passos sobre essas placas. Temos de…
Os que estiveram nos campos já contam as suas histórias
O mais conceptual dos museus onde se recorda o Holocausto, a obra de Libeskind em Berlim mostra relativamente pouco e apela para os outros sentidos, fechando o circuito com a experiência mais dura, exatamente o oposto do que sucede na obra concebida por Moshe Safdie para Jerusalém, que se abre à luz e, paradoxalmente, nos faz olhar o futuro e não recalcar o passado.

▲ Igor Malicky, um sobrevivente hoje com 90 anos, recorda o passado em Auscwitz
Getty Images
Mas também aqui há uma explicação. Marcelo Kisilevski, um especialista na forma como se constroem as memórias e como os povos se olham a si mesmos, comentou-nos que a forma como os judeus, e em especial os judeus de Israel, foram olhando para o Holocausto foi mudando como mudou a forma como se vêem a si mesmos.
“Nos primeiros tempos, havia os heróis, os que tinham resistido, os heróis do gueto de Varsóvia ou da resistência clandestina na Ucrânia, também os heróis dos kibbutz, os jovens idealistas e corajosos que tinham fundado Israel, os ‘sabra’. Mas também havia os que se tinham deixado levar para os campos, os que durante décadas não quiseram falar, os que escondiam as tatuagens nos pulsos utilizando mangas compridas mesmo no verão. Agora é diferente. Os ‘sabra’ também tiveram de colocar máscaras de gás durante a primeira guerra do Iraque. Os que estiveram nos campos já contam as suas histórias. E os que chegaram há menos tempo também trazem outras experiências”, explicou-nos.
E se a palavra-chave da israelidade – Aliá, que representa a subida até Jerusalém – ajuda a explicar a ligeira rampa que marca a saída do museu de Jerusalém, a opção de Moshe Safdie que rematar essa saída com um rasgar em leque das três faces do prisma que é o eixo central do museu também indica que os judeus já não se definem a si mesmos como no passado. “Víamo-nos como um povo que anda às arrecuas, de costas viradas para o futuro e os olhos presos ao passado”, tinha-nos dito Mario Sinay. Agora já não.
Vê-se, toca-se, não se sente
Algures entre o museu de Berlim e o de Jerusalém está o de Washington, inaugurado em 1998. É, como museu, perfeito. Sobretudo como museu didático, destinado a acolher uma parte dos milhões de visitantes que, todos os anos, acorrem a Washington para visitarem aquela que é, porventura, a maior concentração de grandes museus de todo o mundo: o conjunto do Smithsonian Institute. Mas essa sua perfeição labora, por vezes, num equívoco: a ideia de que se pode “sentir” o que sentiam os deportados entrando para dentro de um dos vagões para gado que serviram para alimentar os campos de extermínio. Impossível: faltam os apertos, a aflição, a fome, os mortos, a angústia, os cheiros – talvez sobretudo os cheiros –, o destino. Vê-se, toca-se, não se sente.

Para isso só há, porventura, um local. Auschwitz. Ou melhor, o campo II de Auschwitz, Birkenau. É por isso que lá voltamos, porque só lá é possível tentar perceber o caráter único deste genocídio – o caráter único do Holocausto.
É que o foi o único genocídio, nem sequer o primeiro: só no século XX dois outros se destacam pelos números e brutalidade, o dos arménios e o do Ruanda. Também não foi o ato de selvajaria inumana que causou mais vítimas: as fomes provocadas por Estaline ou o grande desastre do Grande Salto em Frente maoista originaram um número superior de mortos. Também não foi o único grande crime de extermínio baseado no fanatismo ideológico ou no racismo, já que o século XX também conheceu os “khmer vermelhos” do Camboja. Ou o enorme crime do “apartheid” sul-africano.
O que tornou o Holocausto único foi a sua dimensão industrial, sistemática, precisa, mecanizada, a forma como triturava seres humanos com a mesma frieza burocrática com que se organiza uma linha de montagem. O que tornou o Holocausto único foi aquilo que levou primeiro a filósofa Hannah Arendt a definir o totalitarismo como o “mal absoluto” e, depois, numa aparente contradição, a escrever sobre a “banalidade do mal” após assistir ao julgamento, em Jerusalém, de um dos seus principais arquitetos e executores, Adolf Eichmann.
O que tornou o Holocausto único foi sobretudo a desumanização ao mesmo tempo brutal e planeada que ele pressupunha. Ou, por outras palavras, foi único por causa de Auschwitz e do que representou o principal dos campos de extermínio. Foi único não por se basear apenas na intenção deliberada de exterminar todo um povo e de nessa missão ter envolvido centenas de milhares de executantes, mas por levar a cabo o genocídio com a frieza própria de quem identificou um problema e para ele encontrou a “solução final”.

O Holocausto começou antes de Auschwitz, mas mesmo contando a sua história em extraordinários museus como são os de Jerusalém, Berlim e Washington não se consegue perceber toda a dimensão de desumanidade que implicava, a dimensão da escala a que chegou. E a frieza: quando unidades de reservistas matavam às centenas de milhares os judeus dos territórios que a Wehrmacht atravessou a caminho de Moscovo, faziam-no com um enorme inconveniente: o sangue. E também o ter matar pessoa a pessoa, não em massa e anonimamente. Era desagradável e desmoralizava as tropas.
O fino verniz da civilização
Daí que, quando Rudolf Hoess foi encarregue de construir e, depois, comandar o complexo de campos de Auschwitz, uma das suas prioridades tenha sido instalar uma forma “limpa” de proceder ao extermínio. Nas memórias que escreveu depois de julgado e condenado à morte deu até conta do alívio que significou a entrada em funcionamento das câmaras de gás, que evitavam os fuzilamentos e poupavam as mulheres e as crianças à ansiedade dos momentos que precedem a morte (morriam quando pensavam estar no duche). Os fornos crematórios faziam o resto e já nem cadáveres havia para enterrar em valas comuns.

▲ Rudolf Hoess durante o seu julgamento em Nuremberga
Getty Images
Hoess, como a maior parte dos oficiais superiores das SS, tinha recebido uma boa educação, era um bom pai de família e apreciador de música clássica. No seu testemunho/confissão dá conta das dúvidas interiores que o assaltavam durante as tarefas de extermínio, dúvidas que os psiquiatras que estudaram estes casos dizem dever ser reais mas que nunca impediram estes homens de desempenharem as suas tarefas com um misto de eficácia e crueldade, de profissionalismo e de frieza.
Não o fizeram apenas por fanatismo, ou num momento de fúria, ou por cegueira momentânea, mas por uma mistura de racismo entranhado, de obediência e disciplina cegas e de crença inabalável num chefe que não se discutia.
O que é único, de novo, é tudo isto ter saído de um país que se apresentava como um dos mais civilizados e sofisticados, algo que levou o biógrafo de referência de Hitler, Ian Kershaw, a considerar que a Shoah nos deu “a mais clara e chocante indicação das capacidades da humanidade, uma visão da patologia da modernidade e a prova mais evidente do fino verniz da civilização”.
A explicação impossível
Daí a centralidade de Auschwitz e do seu complexo de campos. A centralidade de Auschwitz I, o campo onde ainda hoje se entra passando sob as ignominiosas palavras – Arbeit macht frei, o trabalho liberta – e que é o museu do horror, com os seus milhares de próteses, de sapatos, de despojos, com as suas amostras de tecidos feitos de cabelos humanos ou com o seu pequeno crematório. Daí sobretudo a centralidade de Birkenau, onde quase nada há para além da imensidão do espaço, das ruínas, da linha de comboio, e que é o horror em estado puro.
Em todo os outros lugares podemos tentar uma explicação racional do mal – em Birkenau é impossível. Porque nenhuma racionalidade explica que um Estado industrial, no auge de uma guerra de vida ou de morte, tenha, até ao último minuto, desviado uma parte dos seus ainda poderosos recursos apenas para exterminar, exterminar, exterminar.
É talvez aí que percebemos que não há resposta para a mais difícil das perguntas: “Como foi humanamente possível?”. E ainda mais difícil por causa do “humanamente”, pois que na verdade tudo foi ali obra de homens, muitos deles, a maioria deles, homens comuns.

AFP/Getty Images
Shlomo Venezia, quando nos falou, reconheceu que ainda não tinha vivido tempo suficiente para “sair verdadeiramente dos crematórios”. Não sei se chegou a viver todo o tempo que ainda precisava, mas sei que esse seu mal-estar é um pouco de todos nós, sobretudo de nós europeus, pois não sabemos, e não sabemos se algum dia saberemos, se podemos resgatar para sempre a humanidade dos crematórios de Auschwitz. Talvez por isso todos os europeus devessem ir pelo menos uma vez a Auschwitz. Pelo menos uma vez.
(Texto elaborado com base em trabalhos anteriores do mesmo autor)