O Amor em Lobito Bay, o quarto livro de contos de Lídia Jorge, é lançado esta segunda-feira, às 18h30, na Livraria Barata, em Lisboa. A autora de obras como O Dia dos Prodígios, A Costa dos Murmúrios, Combateremos a Sombra ou Os Memoráveis acredita que a literatura deve ser testemunha do seu tempo, ficcionando-o. Nascida em Boliqueime em 1946, Lídia Jorge já correu o mundo com os seus livros mas volta sempre às imagens de um Algarve rural que já não existe. É lá que escreve, na casa da família, e é lá que retorna, uma e outra vez.
O Amor em Lobito Bay é o seu quarto livro de contos, género de que gosta e a que retorna. O que é que o conto tem?
O conto faz-me falta. Os contos são a parte mais autobiográfica de um escritor, pontuados por reptos da vida quotidiana, encontros, viagens. É algo que não está estruturado. Mesmo que um romance não esteja estruturado à partida, a certa altura é como uma árvore: há uma arborescência e um esquema que a pessoa vai voluntária ou involuntariamente cumprindo. O conto resulta de momentos fugazes, de pensamentos soltos. Fica sempre algo de misterioso. Há uma espécie de desenlace que nunca se dá por completo. O conto é uma tentativa de revelar, de procurar o sentido para essa perturbação que a vida trás.
A sua escrita muda no conto?
O conto exige contenção. O escritor de romance gosta de uma atmosfera longa, de um tempo longo, de detalhe. O conto tem de se concentrar no essencial, é como um fósforo: arde rápido mas fica iluminando um bocadinho. Exige uma outra forma de escrita. É um género literário que anda entre a crónica e o poema. Há muitas décadas que tem sido apresentado como o género do futuro. Tenho a impressão de que é assim. Diz bem com a perspetiva fragmentária do mundo de hoje. Grande parte das pessoas não consegue encontrar tempo para se concentrar sobre uma narrativa longa. O conto pode ser uma forma de, diariamente, se ter acesso ao que a literatura faz: um transporte para outro mundo e um encontro com a individualidade. Não substitui o romance, que exige um mergulho numa atmosfera consequente e longa, mas permite esse encontro como uma consolação.

Estes contos foram escritos já a pensar no livro?
Alguns. O primeiro deles é O Amor em Lobito Bay, uma história que me foi contada e que me tocou muito. Tinha três já escritos e depois escrevi os outros cinco pensando no tom: em todos há uma desarmonia e, de repente, em torno de um elemento dessa desarmonia, uma reflexão em que se vê parte de um desenlace. Ontem alguém me dizia que todos podiam começar com ‘o amor em’. É o amor e o seu oposto. Se há uma unidade é essa.
Diz que o texto que dá título ao livro nasceu de uma história que lhe contaram. A história do rapaz a tentar apanhar a andorinha é então real?
Sim. Houve uma sessão na Universidade Católica sobre contos, os alunos pediram-me para ir lá falar. Depois houve um almoço, para poucas pessoas, com a reitora, alguns professores e o padre José Tolentino Mendonça. Nessa altura havia já uma situação política delicada. E tive a ideia de, em vez de falarmos da política, cada um de nós, nesse almoço, contar uma história pessoal. Quando chegou a vez do José Tolentino Mendonça ele contou a história da andorinha. Fiquei tão tocada que lhe perguntei se podia ficar com ela. E ele ofereceu-ma. Cruzei-a com o que conheço de África, com o que imagino, criei um filme em torno da história. Parece que ele não ficou zangado. É um conto de iniciação.
Não é o único, os primeiros contos são protagonizados por crianças ou adolescentes. O que lhe interessou? Esses momentos inaugurais?
Sem dúvida. A infância e a primeira adolescência são momentos muito fortes, em que o que acontece fica indelevelmente marcado na nossa vida. Ao envelhecer é a essas primeiras incisões que se regressa. Aos 15 anos quer-se vencer o mundo, compreendendo-o. Acho que os escritores ficam aí, num momento pré-filosófico, nessa fase em que o mundo mágico da infância ainda não foi ultrapassado mas já queremos recolher todos os dados do mundo julgando que o entendemos e que somos capazes de fazer uma viagem tão longa que vamos até ao seu fim. Há como que uma espécie de marinheiro, ou astronauta, dentro de cada escritor, com essa ideia romântica de que se consegue explicar o mundo. Nunca se consegue.
São os contos protagonizados pelos mais novos os mais violentos. Porquê? É nessa idade que as coisas mais marcantes acontecem?
Acho que sim. E nós não temos palavras para as explicar. Ficam como fantasmas. Demoram muito tempo a resolver. Possivelmente nunca se resolvem.
Todos são passados num outro local e num outro tempo. Porquê essa distância?
A distância é uma personagem. A poética vive sempre de uma estranheza, que pode ser da linguagem, física ou do tempo. A distância é como uma lente, permite ver um conjunto. O próximo vive da miopia. A distância permite uma compreensão lata. Gosto desses contos que vêm de longe. A distância é reveladora.
Diz que os contos são mais biográficos que o romance. O que há aqui de biográfico?
São processos de escuta. Não conheço nenhum escritor que não seja um bom ouvinte. As pessoas contam-me imensas histórias. Têm confiança. Um jornalista está viciado pela verdade. Nós estamos viciados por uma não verdade. Transfiguramos. As pessoas põem a sua história nas nossas mãos para que ela se altere.
Usa as histórias que lhe contam?
Sim, mas transfiguro-as, nunca são como as pessoas me contam. Gosto de me esconder, de não aparecer, de dar a voz a personagens. Gosto dessa voz que vem de fora. Posso cruzar o que penso com o que a figura pensa.
A escrita do conto é um intervalo entre romances ou escreve as duas coisas em paralelo?
Escrevo as duas coisas em paralelo. Alguns contos até resultam de partes de romance que não se encaixam, que têm a sua autonomia e que eu guardo. Tenho sempre uma carteira de contos. Gosto da narrativa. O conto é-me natural. Não tenho um pensamento filosófico estruturado. O meu pensamento começa por ‘Era uma vez’. E o seu silogismo é: ‘E afinal aconteceu isto’. O meu pensamento estrutura-se em torno dessa espécie de demonstração em ação.
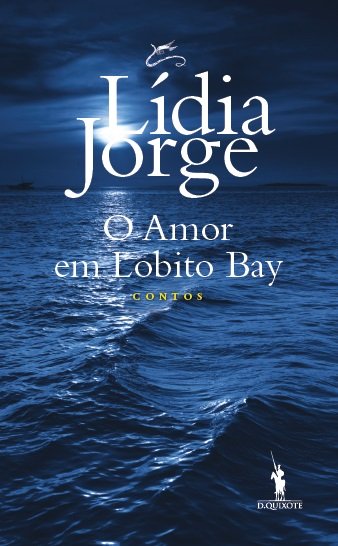
“O Amor em Lobito Bay”, de Lídia Jorge. Edição: Dom Quixote. 192 páginas. Preço: 14,90€
Falávamos há pouco dos episódios inaugurais. Quais os que a marcaram mais?
Imensos. Tive uma infância no meio da natureza, um mundo de grande ferocidade. Quando era pequenina ouvia a história de um homem que estava na prisão para não assassinar ninguém. Foi condenado porque uma pessoa dali contou o que sabia. Quando tinha uns oito anos esse homem saiu da prisão. E, ao segundo ou terceiro dia, assassinou essa testemunha. Foi o que mais me falou da natureza humana, essa vingança que durante anos e anos alguém preparou. Uma coisa brutal, horrível. E houve situações de outra natureza, maravilhosas, que ficaram para sempre na minha cabeça. Situações de uma solidariedade imensa. Na primária a nossa professora vivia na escola, onde tinha um quarto com cozinha. Um dia engravidou. Fomos assistindo à sua gravidez, até que ela teve a criança. Corria a ideia de que as cobras procuravam o leito das crianças porque lhes cheirava a leite, que a cobra mamava da mulher durante a noite pondo a cauda na boca da criança para esta se calar. Uma coisa arcaica. Um dia havia um rebuliço enorme: tinha-se descoberto uma cobra dentro da escola. E um rapazinho, o Guilherme, caçou a cobra e matou-a. Conseguiu esmagá-la nas suas mãozinhas e depois desmaiou, tal tinha sido o esforço. É de uma coragem enorme, de triunfo de uma criança, que quis salvar a professora e o bebé.
Há situações que não se esquecem.
Mas as situações mais intensas são talvez as que não têm figuras animadas, as de relação com o mundo natural. Viver na paisagem. Há outro aspeto muito marcante na minha vida: ver o trabalho rural, a dureza do trabalho rural. Talvez tenha sido o que mais me tocou para a questão social, ver a dureza do trabalho e a indiferença de quem pagava às pessoas. Deixou-me marca. Não foi em Marx que eu li. Vi ali como é fácil quando os homens estão desprovidos de meios serem instrumentalizados. No verão havia grandes incêndios nos trigais, via o que as pessoas faziam para os salvar, sem meios, era o corpo contra as chamas. Cenas muito fortes. E outras de beleza inexcedível, como da primeira vez que vi nevoeiro. Guardo-o como uma imagem primordial. Devia ter uns dois anos, a minha mãe levou-me ao colo para ver o nevoeiro, que é raro no Algarve. Estava tudo mudado. Durante muito tempo tive a ideia de que tinha ido a outro mundo, como se as árvores fossem outras. Uma imagem que me acompanhou toda a vida. Tenho a ideia de que o fim da vida é isso: nós a caminharmos entre o nevoeiro e uma revelação para além dele.
Cresceu em Boliqueime. Era o Algarve do campo ou da praia?
Do campo. O mar estava em frente. Era de onde eu achava que vinha tudo o que era bom. Tudo o que era progresso vinha do mar, do Sul. Não me cabia na cabeça que Lisboa ficassem a Norte. Tudo o que via a Norte era a montanha. Custava-me compreender que Lisboa ficasse a Norte, que o meu pai tivesse abalado para África a partir do Norte. Tudo era a Sul, era lá que via o sol, a praia, o mar. O contacto com o mar, com as ondas, era maravilhoso, uma experiência tão forte que me alimentava o ano todo. Mas não ia muito, ficávamos prisioneiros do ciclo da vida rural. Via o mar da varanda, misturado com o céu.
Os seus pais eram trabalhadores rurais?
Não. Mas os meus avós eram. O meu pai foi emigrante, a minha mãe ficou em casa. Primeiro foi para África, depois para a Argentina. Era viajante. Tinha uma camioneta e levava amostras dos produtos que apresentava, antes que chegasse a distribuição e as pessoas com as cargas.
Quando saiu pela primeira vez do Algarve?
Devia ter uns 12 anos, vim a Lisboa esperar o meu avô que vinha de África. Ele aproveitou e mostrou-me a cidade. Pensei: gostava de viver aqui. Ficámos num hotel da baixa, entrei nas lojas, andei pela Rua do Ouro, pela Rua da Prata, pelo Terreiro do Paço. Aos 15 anos voltei, com o meu pai, que me levou aos monumentos, ao Aquário Vasco da Gama, ao Jardim Zoológico, aos cinemas. Era deslumbrante, era aqui que queria ficar. Tinha uma experiência urbana, tinha vivido em Loulé, em Faro, mas Lisboa era diferente. Era o centro onde aconteciam coisas extraordinárias. Depois vim para a faculdade, com 17 anos. Foi maravilhoso.
Como foi deixar a casa da família, o Algarve e vir para Lisboa? Já fazia parte do plano ou teve de lutar por isso?
Fazia parte do meu plano mas tive de lutar por isso. Vim com uma bolsa da Gulbenkian. O meu pai tinha construído uma nova família, ou alguém me ajudava financeiramente ou eu não estudaria. Foi muito bom. Mas uma luta difícil.

HUGO AMARAL/OBSERVADOR
Era uma menina solteira a vir viver sozinha na cidade. Foi uma luta nesse aspeto também?
A minha mãe no seu meio foi pioneira. Fui a primeira criança da zona que, aos 10 anos, se separou da família para ir para o liceu, em Faro. E fiquei por minha conta. Na altura as pessoas olharam para a minha mãe como alguém que se desprendia da filha, não percebiam. Passados três anos, as filhas das outras pessoas também foram. Perceberam que eu voltava e não me tinha perdido. A faculdade já surgiu com outra naturalidade, o mundo era diferente e eu tinha-me afirmado como boa aluna, como rapariga equilibrada. A minha mãe ficou muito ofendida com o meu pai ter partido, quis clarificar a situação, divorciar-se. Foi muito mau, as pessoas falavam da minha mãe, não se queriam sentar ao pé dela por ser divorciada. Tenho-lhe muito a agradecer. Com a minha avó aprendi o rigor, com a minha mãe aprendi a independência, a autonomia. A minha mãe percebeu muito bem que as mulheres não podiam ficar vítimas da ignorância, vítimas do território fechado, que eu tinha de sair. Teve sempre um olhar aberto, avançado, moderno, para o seu meio e para a sua época.
Queria para a filha algo que lhe tinha faltado?
Queria para a filha aquilo que ela não tinha podido fazer. Não quis para a filha o seu destino. Foi uma grande dádiva. As mulheres da minha idade têm muitas destas histórias. Foram as mães que as ajudaram a libertar-se. Às vezes evito contá-lo, para um jovem isto é uma ideia arcaica. Mas vale a pena contar porque tudo regressa. Nada é adquirido. Volta-se para trás. O progresso é como a paz: alguma coisa que permanentemente se está perdendo e que, se quisermos, permanentemente se está reconstruindo. A paz também é assim: todos os dias estamos à beira de uma guerra e a todos os momentos estamos à beira de a evitar.
Quando termina o curso vai para África, para se casar. Como foi chegar a Luanda?
África não era desconhecida. Tinha tido lá o meu pai emigrado, o meu avô também. Era uma espécie de território de namoro, à distância. Um sítio prometido. O meu pai falava-me de África como um paraíso. Tinha a ideia de um paraíso pacífico mas encontrei em Angola uma sociedade agressiva, com uma guerra muito dura. Morria muita gente, via muitas pessoas a quererem abalar, a situação era muito delicada. Estava-se a viver um momento final. O mesmo em Moçambique, para onde fui dois anos depois. Eram mortes inúteis, percebia-se que se estava no estertor do momento. Sofri muito. Achei que toda a gente ia morrer.
Temeu pela vida?
Várias vezes. Uma vez, já depois do 25 de abril, prestes a vir-me embora, fui a uma serração. Ia com um rapaz que cuidava dos meus filhos. Entrei por uma zona habitacional com o carro, que às tantas foi rodeado de gente. Ia acontecer qualquer coisa. Mas o rapaz disse-me: primeiro teriam que me matar a mim. Saiu e foi falar com as pessoas. Percebi que estava cheio de medo. Mas voltou a entrar no carro e disse-me: voltamos para trás. Chamava-se Mário Semente. Quando me vim embora ele queria vir e eu queria trazê-lo. Mas aqui aconselharam-me a não o fazer. Ele tinha aprendido a ler e escrever em minha casa. E deixou-me uma fotografia, onde escreveu, com umas letras ainda tortas: ‘De Mário Semente, seu menino’. Foi das coisas mais tocantes da minha vida. Ainda tenho a fotografia. Ele, que cuidava dos meus meninos, assumiu-se, também, como meu menino.

HUGO AMARAL/OBSERVADOR
Como foi o regresso a Portugal?
Em plena revolução. E sob uma emoção muito grande, de perceber que o mundo estava a mudar, que Portugal estava a mudar. Foi o deslumbramento de encontrar um país completamente mudado e foi um grande susto, de não saber o que ia acontecer. Esteve-se à beira de uma guerra civil. Cinquenta anos de ditadura não criam relações cívicas normais entre as pessoas. Admiro-me como, apesar de tudo, não houve uma guerra civil. Sei que para muita gente pareço lírica mas não me importo de o dizer: houve aqui uma situação exemplar. Claro que este lado bom do nosso temperamento, este lado pacífico, tem depois outro lado, uma espécie de cobardia, não avançamos para as grandes decisões, não somos claros, mantemos um segredo sempre escondido, temos medo de dizermos quem somos. Mas o lado bom foi muito importante. E foi construído nas ruas. É importante rever esse momento. E, sempre que lhe volto, o meu saldo é positivo.
Sobre o Algarve escreveu O Dia dos Prodígios, sobre África A Costa dos Murmúrios, sobre o 25 de abril Os Memoráveis. É-lhe importante que tudo isto esteja nos livros?
Cada escritor tem o seu projeto. Os projetos nascem sempre do nosso sonho e da nossa limitação. Como escritora, pertenço ao grupo que acredita que ser testemunha do seu tempo é importante, que é importante transfigurar o seu tempo, dando outra verdade, uma segunda história, como diz o Carlos Fuentes. Foi a escolha que fiz. Pode o futuro pôr os meus livros de parte, dizer “esta mulher não é importante para nós”. Mas é o que tenho para dar aos meus contemporâneos: um testemunho transfigurado do que temos vivido. Mas escrevo sempre com a ideia de que a geração próxima, a que vem a seguir, gostará de perceber a herança que lhes deixávamos. A literatura é a forma fundamental de o fazer, pode dar uma verdade sintetizada dos momentos cruciais da evolução da humanidade. A arte faz uma síntese dando, em reduzido espaço, a inteireza dessa verdade. O plano é ser testemunha deste tempo, fazer uma espécie de longa crónica pessoal e social do que aconteceu, transfigurando-o. É um jogar sem rede, mas vale a pena. Se não formos nós testemunhas, alucinados e em delírio, mais ninguém o será. Outros poderão falar desta época, mas à distância. Este é o meu projeto. E vou continuar com ele.
Tem tido sempre um voz ativa na sociedade: defendeu a despenalização do aborto, na política apoiou já vários candidatos, de Mário Soares a António Costa. É a escritora Lídia Jorge a falar ou a cidadã?
Não se distinguem. Se não fosse escritora continuava a pensar o que penso mas ninguém mo perguntava. Tudo o que é exposição pública é áspero. Os demagogos procuram ir pela zona mais fácil para ter muito número. Quem escreve tem o dever de não pactuar com o denominador comum mas com aquilo em que acredita. Não podemos ter medo de errar em público. Nem de expressar em público o que não é consensual. O analista triunfante está sempre de acordo com o dominante do momento. Mas acho que é nosso dever expormo-nos nesse campo.
Apoiou António Costa quando se candidatou à Câmara. Voltou agora a apoiá-lo na candidatura ao Governo? Participou no seu almoço com a Cultura?
Não estava cá, se estivesse teria ido. Vejo com expectativa o que está a acontecer. Ele encontrou uma solução que, pelo menos, é de intervalo. Mesmo que não triunfe e não tenha continuidade, faz-se uma experiência que vai ser positiva. Demonstra uma outra visão, diz à Europa que não se pode continuar nesta situação. Há uma clivagem entre o Norte e o Sul na Europa que não está correta. O mundo financeiro está criando uma rede que vai além da política, uma rede obscura perante a qual os cidadãos estão indefesos. O que está a acontecer na Europa é a submissão a interesses obscuros, que não têm nome, que não sei onde estão, e que são apenas financeiros. Apoiar a política é apoiar alternativas. São posições simbólicas. Mas esse simbolismo vale na medida em que diz que poderá haver uma alternativa diferente. As alternativas são positivas. Saúdo a alternância democrática. Sou pela política, que nos permite fazer escolhas. Os jovens hoje estão penalizados por um sistema em que se sentem sem escolhas. É perante esse mundo que devemos reivindicar em voz alta que a política, e não a finança, tome conta do governo do mundo.

HUGO AMARAL/OBSERVADOR
Tem esperança? Os Panama Papers, por exemplo, vêm deitar luz sobre esse tema da finança.
Sim. Os últimos dias têm sido de esperança, com este grupo de pessoas que tentam clarificar os jogos de interesses obscuros de que falávamos. Posso ser ingénua mas fico comovida, são heróis verdadeiros, capazes de não caluniar, cuidadosos, corajosos na denúncia. Publiquei Combateremos a Sombra em 2007. Esse livro foi escrito porque houve um conselheiro de um Presidente da República que me disse que 40% da economia portuguesa era paralela e que havia pessoas envolvidas de todos os quadrantes. Entretanto fiquei a saber de histórias particulares que o confirmavam mas, quando publiquei o livro disseram-me que não era real, que era uma invenção. Afinal não era invenção nenhuma. Houve muitos escritores na altura que se aperceberam desse mundo obscuro. Hoje percebemos que ele envolve tráfico de crianças, de droga, de armas… Houve quem o percebesse à distância mas sem ser capaz de identificar os rostos, esse é trabalho para os jornalistas e os juízes. Mas os escritores foram capazes de perceber o que aí vinha.



















