Quem não leu ainda Madame Bovary, o romance que Gustave Flaubert escreveu há 160 anos e com o qual inaugurou o Realismo na literatura, ainda está a tempo. Até porque acaba de sair uma nova edição do romance na editora Guerra & Paz, que vem acompanhado de um pequeno ensaio de Baudelaire, e a Relógio D’Água também o reeditou na sua coleção de clássicos. Cada livro custa cerca de 14 euros, é um pouco mais caro que revistas como a Caras ou a Lux, mas, mudando os nomes das personagens e o brilho do papel, o resto é tudo parecido: mulheres fúteis a tentarem imitar um certo ideal de vida burguesa, mulheres entediadas à procura de amores arrebatados. Pessoas pobres a imitarem tristemente a vida dos ricos. Festas de casamento onde o mais importante é o que se veste. Festas mundanas onde se exibem prosperidades e se conhecem pessoas que prometem ser mais excitantes que o cônjuge. Filhos, solidão, zangas, frustrações, encontros com amantes em lugares obscuros. Felicidade, culpa, desespero, compras, dividas, esquecimento.
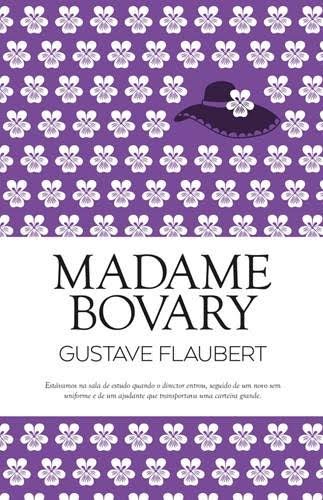
Madame Bovary, com ensaio de Baudelaire na Guerra&Paz
Um critico literário escreveu, a propósito da Bovary e Anna Karenina (a heroína adúltera de Tolstoi), que, a avaliar pela literatura, a coisa mais interessante que aconteceu na Europa e na América do século XIX foi o adultério. Se acrescentarmos aqui a Luísa de Eça de Queirós (O Primo Basílio) e as personagens femininas criadas por Edith Wharton, Strindberg ou Ibsen, tendemos a dar-lhe razão. Porém, mais de um século depois, a avaliar pela literatura, o cinema, os livros de auto-ajuda, os tabloides e os artigos pastelões nas revistas femininas, a coisa mais excitante a acontecer na vida das pessoas continua a ser o adultério. O seu e o dos outros. Agora já não na versão de escândalo moral e social mas na versão de crise existencial. A problemática deslocou-se da destruição da instituição casamento para a destruição dos laços amorosos e das expectativas individuais.
E se um dia Flaubert declarou, “Bovary c’est moi”, hoje podemos dizer, ” Bovary c’est nous”. Por que esta mulher “casada, quotidiana e fútil”, deslumbrada com a riqueza alheia, sonhando com uma vida cheia de frenesi e paixões que enganassem a solidão tornou-se um retrato impiedosamente certeiro das mulheres e homens do século XXI.
É que, se hoje em boa parte do mundo a condição feminina mudou, a palavra adultério se tornou um anacronismo, se a mulher deixou de ser vista como propriedade do homem e passou a ser vista como sujeito da sua existência, a verdade é que a vida pequeno-burguesa passou a ser o modelo vigente das sociedades do século XXI. O bem-estar económico, a saúde, o tempo livre, o acesso a pequenos confortos aliados à difusão da ideia de que “a paixão comanda a vida” tornaram o quotidiano, naturalmente banal tão ou mais insuportável do que o era para Madame Bovary, na província francesa do século XIX. Generalizaram-se as almas enfadadas, a monotonia dos casamentos tornou-se motivo de alarme. E, de repente, ter um amante tornou-se, para a maioria das mulheres e homens (sim, a maioria) tão banal como ter um frigorífico. Em 160 anos o adultério deixou de ser um pecado que se pagava com o ostracismo social e o suicídio e passou a ser “uma aventura excitante”.
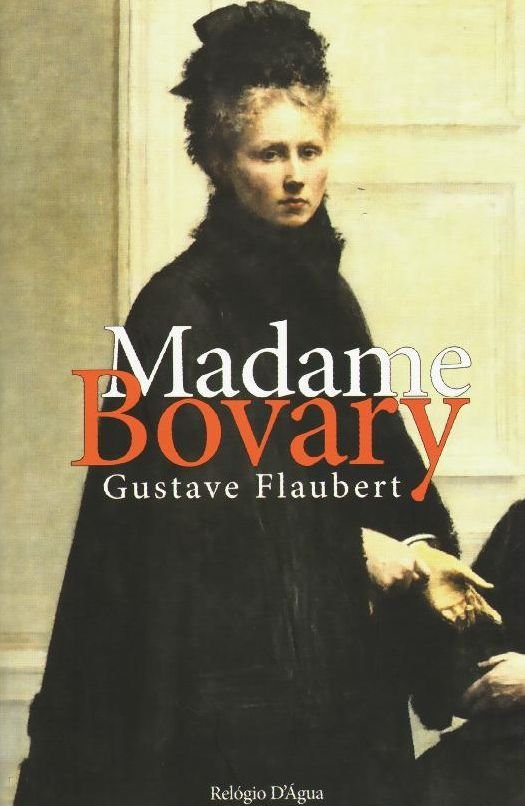
Madame Bovary na edição da Relógio D’ Água
E aí reside a genialidade de Flaubert e a atemporalidade de Madame Bovary: é que Emma, o seu marido e os seus amantes remetem incessantemente para a grande tragédia humana: a busca de um sentido para a vida quando Deus não chega, quando o amor pelos filhos não chega, quando se sabe, ou se pressente, que a nossa necessidade de consolo é impossível de satisfazer. Quando nos sentimos encurralados numa existência em que nos prometeram o absoluto mas onde tudo o que temos é um enorme vazio.
Por isso, Emma Bovary não é só a primeira anti-heroína do realismo; é também uma personagem profundamente moderna, um Fausto feminino que vende a alma ao diabo para ter uma vida excitante, e que não se detém perante nenhum obstáculo para que a sua vida real seja igual à sua vida imaginária.
Aliás quanto mais próximas estivessem as coisas, mais o pensamento se lhe desviava delas. Tudo quanto a rodeava de perto, o campo enfadonho, burguesinhos imbecis, mediocridade da existência, lhe parecia uma exceção no mundo, um acaso particular a que ela se achava ligada, enquanto além se estendia, a perder de vista, o imenso país da felicidade e das paixões alheias. No seu desejo ela confundia as sensualidades do luxo com as alegrias do coração, a elegância dos costumes com as delicadezas do sentimento (…) sentia, ao mesmo tempo, vontade de morrer ou de morar em Paris…”
Quantas mulheres e homens do século XXI não devoram revistas cor-de-rosa com os mesmos sonhos infantis e pequeno-burgueses de quererem ter uma vida igual à dos famosos porque acham que a vida destes é mais preenchida e feliz do que a sua? E, por outro lado, quantos amores com direito a vestido de noiva kitsch não se atolam igualmente na mediocridade, no desprezo crescente por um marido ou uma mulher que afinal têm poucas qualidades, quantos famosos não se vergam a uma solidão e um desespero igual ao dos suburbanos que os contemplam? No final, uns e outros não caminham igualmente cegos, de esperança em esperança, de sonho em sonho, de amante em amante até a ruína final?
Emma Bovary: a puta que sobreviveu ao seu criador
Condenado por atentado à moral e à religião, o primeiro romance de Flaubert, chegou aos tribunais antes de chegar ao público. Depois tornou-se um livro de culto ao ponto de toda a restante obra do autor ter ficado obscurecida. Conta-se que um dia, exasperado pela omnipresença da sua criatura, ele terá declarado: “Irei morrer, mas a puta da Bovary irá sobreviver-me”. E estava certo. Bovary não só sobrevive como garante que Flaubert sobreviva também (não obstante o autor ter outras obras imperdíveis como Bouvard & Pécuchet, por exemplo). E, 160 anos depois do primeiro livro, a sua escrita despojada e precisa continua a deslumbrar leitores, a influenciar romancistas, poetas e jornalistas (afinal, é no realismo inaugurado pelo escritor francês que ancora, até hoje, a forma narrativa da Reportagem).

Gustave Flaubert (1821-1880) inventou o realismo com o romance “Madame Bovary” influenciando indelevelmente a literatura e o jornalismo
A trama é simples: Charles Bovary é um homem sem qualidades. Um médico medíocre de província. Casa com a jovem e bela Emma que vê nele a materialização dos seus sonhos românticos de adolescente. Criada num convento, já tinha trocado Deus pelas suas fantasias com cavaleiros de esporas e bigode. Rapidamente Emma se aborrece do marido e sonha com uma vida em Paris, com bailes faustosos, ceias depois da meia-noite, teatros, luxo. Conhece o jovem Leon por quem se encanta, depois conhece Rodolphe de quem se torna amante. Espera de ambos que a levem daquela aldeia entediante da Normandia para uma vida excitante e luminosa como a dos seus sonhos. É abandonada por ambos. Presa a dívidas e à reputação de imoral, acaba por se suicidar tomando arsénico.
Ao ver-se ao espelho, Emma repetia a si mesma:
Tenho um amante! Um amante! e deleitava-se nesta ideia como se fosse a da chegada de uma nova puberdade. Ia então possuir por fim aquela alegrias do amor, aquela febre de felicidade de que já havia desesperado. Entrava no que quer que fosse de maravilhoso, em que tudo seria paixão, êxtase, delírio, sentia-se circundada por uma imensidão de azul, os píncaros do sentimento cintilavam-lhe na imaginação e a existência ordinária só lhe aparecia muito longe…”
Sabemos que sem Flaubert não teria havido Luísa d’O Primo Basílio, O Vale Abrãao de Agustina Bessa Luís. Provavelmente nem mesmo Maria das Mercês, n’O Delfim de Cardoso Pires. Mais recentemente, Vasco Luís Curado, no romance Gare do Oriente, fez Bovary reviver em das mulheres Lígia e Raquel, e mostrou que depois do 25 de Abril, da revolução sexual da geração de 90, das auto-estradas cavaquistas e da educação universitária, muitas mulheres portuguesas, da província ou da cidade, continuam a fazer a sua existência girar em torno das relações amorosas como se aí residisse a sua única salvação, como se só aí a sua vida se cumprisse:
Raquel disse-me que comprou um luxuoso vestido vermelho, para usar no casamento de alguém. Raquel disse-me que terminou o amor pelo namorado com quem viveu durante anos e com quem tinha uma relação gasta e constante. Raquel disse-me que lhe contou tudo sobre o seu novo amante. Que o namorado chora e lhe escreve cartas de amor. Raquel disse-me que o amante veio ao fim da tarde, que estendeu sobre a cama os lençóis novos. Que depois ele toma banho e parte. Volta para a mulher. Disse-me que ele lhe escreveu um poema. Que ele e a mulher estão a tentar ter um filho. Raquel disse-me que vai deixar definitivamente o amante. Disse-me que só o deseja a ele. Que tentou seduzir outro colega de trabalho. Disse-me que comprou um vestido vermelho porque se sentia bela. Disse-me que está desesperada, fraca, gasta…”
Hoje é comum encontrarmos fotografias do romance Madame Bovary em blogues de moda, produções fotográficas. E durante todo o século XX romancistas como Anaïs Nin, Marguerite Duras ou Simone de Beauvoir, cineastas como Bergman, Godard, Truffaut, Manoel de Oliveira não cessaram de abordar o tema da infidelidade e o seu pathos.

O Vale Abraão, filme de Manoel de Oliveira, a partir do romance de Agustina Bessa Luís, que traz Madame Bovary para o Portugal contemporâneo. Ema é interpretada pela atriz Leonor Silveira
Mas, entre 1852 e 1856, quando Flaubert escreve o seu romance, as mulheres ainda eram consideradas uma propriedade masculina (do pai, do marido) logo, ao fazer dela uma mulher que persegue os seus desejos sensuais, ao dotá-la de um poder e uma força, que até aí só eram permitidas aos homens, o escritor mostra uma realidade que já estava a emergir: a emancipação feminina. É que Emma, embora motivada por ilusões, persegue uma liberdade radical. Uma liberdade ainda hoje inquietante, porque há nela uma total disruptividade face às convenções. Bovary deseja dois homens ao mesmo tempo, não gosta da filha, é egoísta, perdulária, superficial, tem com os outros uma relação meramente utilitária, vê no luxo e na vida mundana a realização da sua felicidade.
Tudo o que hoje é considerado belo nas relações amorosas, todo o imaginário, a linguagem, os clichés do enamoramento e amor são, sob o olhar impiedoso de Flaubert, algo grotesco, ridículo, mais expressão de narcisismo e egoísmo do que de troca.














