Título: “Magalhães, o homem e o seu feito”
Autor: Stefan Zweig
Editora: Assírio & Alvim
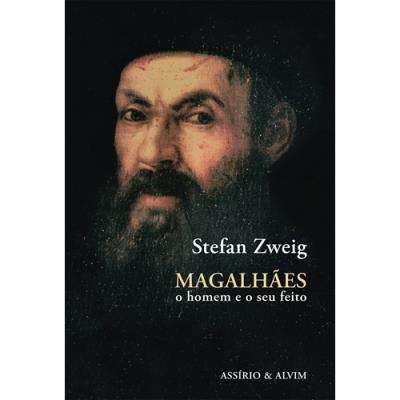
Conhecido pelo nome de Magellan, uma corruptela anglo-saxónica (via latim?) do nome verdadeiro – há por esse mundo fora quem, se calhar, nem se lembre de que Fernão de Magalhães foi um herói português, um herói mal fadado que “quis cingir o materno vulto —/Cingi-lo, dos homens, o primeiro” e não chegou a viver a sua vitória nem colheu os frutos da sua proeza, “na praia ao longe por fim sepulto”. De resto, das duas centenas e meia de homens que sob o seu comando partiram de Sevilha, no regresso estavam poucos. A expedição levou cerca de mil dias mais que os 80 da volta ao mundo do Phileas Fogg de Verne, mas Fogg não viajou só por mar. Hoje, a troco de um generoso punhado de dólares, pode ser comodamente emulada a bordo de um transatlântico, em três meses ou menos.
Magellan foi o nome adoptado na versão original da história do navegador quinhentista estudada e narrada pelo escritor austríaco Stefan Zweig. Depois de muitos anos de valiosos mas discretos serviços à Coroa portuguesa, escorraçado por D. Manuel I (porquê, é outra história), mas com o seu displicente beneplácito, foi ao serviço de um rei estrangeiro (e logo espanhol!, exclama Zweig) que Fernão de Magalhães partiu em 1519 para o seu “feito”. No contrato firmado com o Rei de Espanha, Carlos I, depois Imperador Carlos V, o navegador português assinou Hernando de Magallanes. É com uma pedra no sapato que Camões o canta nos Lusíadas. São versos citados na tradução brasileira de 1938, numa página que, entre outras, por qualquer razão, não consta da presente edição portuguesa: “O Magalhães, no feito, com verdade,/Português, porém não na lealdade”.
Na Mensagem, o supra-Camões é menos esquisito: Fernão de Magalhães tem a sua elegia, na segunda Parte, “Mar Português”, que abre com o poema dedicado a “O Infante”. Zweig, de resto, também dá o devido lugar ao “Navegador” que pouco navegou e pouco precisou de navegar – a clarividência não se mede ao quilómetro viajado. Escreve Zweig: “Abstraindo de uma curta incursão guerreira em Ceuta, o Infante D. Henrique nunca entrou num barco, não existe um único livro, um único tratado de navegação, um único mapa concebidos por sua mão. Não obstante, a História pode, com toda a Justiça, conceder-lhe esse cognome, pois foi exclusivamente às viagens de navegação e aos navegadores que este Príncipe dedicou vida e fortuna”; um “singular entusiasta” que escolheu “a solidão produtiva como forma de vida” e “prepar(ou), durante cinquenta anos, a viagem marítima para a Índia e, com ela, a grande ofensiva contra o mare incognitum“.
Stefan Zweig foi em dado momento – entre as duas guerras-mundiais, sobretudo – uma das glórias mais populares da chamada “literatura universal”. Por causa da bem-vinda reedição, ou reimpressão, do seu Fernão de Magalhães, traduzido por Gabriela Fragoso, pus-me a ler uma edição francesa da sua novela O jogador de xadrez, esquecida havia uns anos na estante. Foi a última obra de ficção que o autor escreveu, pouco antes de morrer por suas próprias mãos, em Petrópolis, Brasil, num famoso pacto de suicídio. O jogador de xadrez foi e continua a ser um grande sucesso de “bilheteira” (em França, só em edições de bolso, diz-se que vai em mais de um milhão de exemplares vendidos). É uma leitura fácil e inconsequente, uma construção artificiosa mas eficaz, em que escorrem sem aparente esforço as observações banais e as frases feitas, fazendo jus à fama desdenhosa que sempre perseguiu o autor nos meios literários mais pesporrentes. (Compare-se com o que fez Nabokov em A defesa Lujin.)
O percurso de Zweig na Viena rutilante da Belle Époque não foi muito diferente do que almejava pela mesma altura o Artur Corvelo da Capital pulha de Eça de Queirós: livrinho de poemas, drama posto em cena, consagração. Zweig foi desde o princípio bafejado pelo êxito, que fez dele um dos escritores mais traduzidos e mais lidos em toda a parte (cinquenta línguas, milhões de exemplares em circulação). Em Portugal foi muito publicado e quase todos as traduções tiveram várias edições: Vinte e quatro horas da vida de uma mulher, um dos títulos mais conhecidos do autor, numa das suas versões, teve pelo menos 18 edições.) A Civilização especializou-se nele nos anos 30 e 40 do século passado, com traduções na sua maioria de Alice Ogando (nos currículos da viúva de André Brun figura mesmo como uma das suas ocupações a de tradutora de Stefan Zweig). Mas nunca mereceu por parte de sucessivas gerações de luminárias da criação e da crítica literárias qualquer boa palavra sem a sua pitada de desdém ou de sarcasmo, menorizado como “fábrica” de livros, catalogado como escritor de literatura “de estação de caminho-de-ferro” ou, como se diz hoje, “de aeroporto”.
Alguém qualificou Zweig depreciativamente de “talento hollywoodesco”. E o cinema interessou-se repetidamente pela sua obra, sem especial brilho, é verdade, se exceptuarmos a “Carta de uma desconhecida” realizada em Hollywood por outro judeu alemão exilado, Max Ophüls, um melodrama bastante inacreditável cuja adaptação cinematográfica se tornou um filme “de culto” para alguns críticos.
[trailer de “Carta de uma desconhecida”:]
A entrada da sua obra no domínio público (fez setenta anos em 2012 que Zweig morreu) provocou uma sonora ressurreição do autor – se assim se pode dizer de alguém que, com altos e baixos, com alguns eclipses, nunca chegou editorialmente a morrer. Estranho fascínio este de uma obra tão presa a um fantasioso “mundo de ontem” – senão de anteontem. Em quase toda a sua prolífica e prolixa e extraordinariamente bem-sucedida carreira como ficcionista, a novela foi o formato de eleição de Zweig. Contra a sabedoria editorial convencional foi nos géneros do conto e da novela que fez a sua fortuna nacional e internacional.
Na sua longa vida de escritor – morreu, em 1942, com pouco mais de 60 anos mas escreveu muito, desde muito cedo – publicou apenas um romance propriamente dito; foi nas biografias, em que também foi pródigo, que se manifestou uma circunscrita veia romanesca que precisava para se exprimir do apoio da realidade histórica e algumas delas – mau grado o labéu associado às empresas de “vulgarização” – são, certamente, a parte mais meritória da sua obra. Lêem-se, de facto, como um romance como diz o estafado chavão. “Apóstolo do culto do entusiasmo”, nas palavras do escritor belga Patrick Roegiers, é em livros como este Fernão de Magalhães que esse culto foi mais bem servido por ele. Zweig disse algures que “onde acaba a investigação estritamente dedicada aos factos palpáveis começa a adivinhação; onde falha a paleontologia, deve intervir a psicologia – e as suas hipóteses, desde que logicamente arquitectadas, são muitas vezes mais verdadeiras do que a seca verdade dos dossiers e dos factos”. A “adivinhação” em Fernão de Magalhães é convincente e a “seca verdade” parece escrupulosamente averiguada, como na sua Maria Antonieta que mereceu ser incluída na selecta bibliografia de um severo Dicionário Crítico da Revolução Francesa feito por especialistas.
A presente tradução portuguesa é desembaraçada e fluente. Fora algumas pechas menores, estranha que, em português, se trate D. Manuel I, o Venturoso, por o “fortunado” ou se dê ao seu fiel e infeliz escravo malaio o nome de Enrique, sem agá.














