Durante uns tempos, foi uma espécie de profeta do futuro, a anunciar as mudanças que estavam por vir. Pegou em histórias de gente real e deu-lhes a volta, confrontando-as com a sua América natal, captando-as a partir de um ângulo que quase nunca era o mais previsível. Com o tempo foi-se tornando esquivo, menos claro, tentando explicar que nem tudo era preto ou branco e nem tudo tinha de ser percetível. A banda apoiava, mas na dianteira estava sempre ele, o destaque era evidentemente ele, a voz e a guitarra, primeiro acústica e depois elétrica.
Hoje, 60 anos passados desde que pegou trouxas, abandonou a faculdade a meio do primeiro ano e rumou a Nova Iorque porque queria era ser músico, Bob Dylan soa a outra coisa: a um profeta do passado, ao ancião que conta e canta a história honrando a tradição oral, a um já homem-fantasma que revê a história ocidental e os ecos (memórias, referências, símbolos) da sua longa vida com um tom de despedida, rodeado de uma banda que desacelerou, que hoje sabe como poucas a importância de não tocar nota nenhuma mas também, quando as toca, de as tocar tempo suficiente para nos arrepiar.
É arriscado fazer previsões quanto ao que será o futuro de Bob Dylan. Será Rough and Rowdy Ways, o novo álbum que edita esta sexta-feira — o 39.º álbum de estúdio —, o último de originais que grava? Coloca-se na balança a idade (79 anos) e o facto de ser o primeiro disco de canções próprias em oito anos, depois de andar entretido a cantar o cancioneiro americano clássico que ouviu em Sinatra e companhia, e a dúvida torna-se legítima.
A boa notícia? Se for uma despedida — batamos três vezes na madeira para não dar azar — é uma despedida em grande, um disco absolutamente único, que sugere que à beira dos 80 anos Bob Dylan voltou a encontrar um novo tom para a sua música. O que não quer dizer que alguém deva ficar surpreendido se Bob Dylan vier a lançar mais discos e a reinventar-se outra vez, tantas foram as peles diferentes que já teve, musicais e de personalidade.
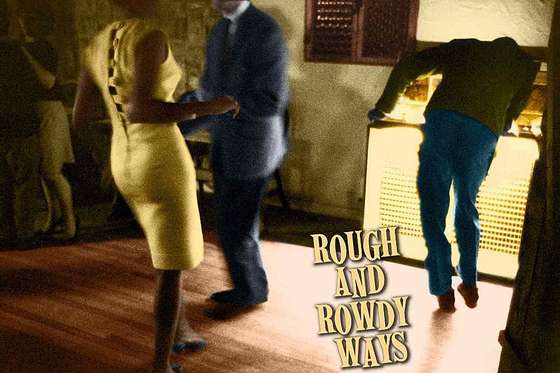
A capa do novo álbum de Bob Dylan, ‘Rough and Rowdy Ways’
Bastam uns segundos para se perceber as diferenças entre o último álbum de originais, o já velhinho (de 2012) Tempest e este novo Rough and Rowdy Ways. Põe-se a tocar o anterior e recordamo-nos logo de como era: o início naquele tom gingão, de rock and roll de outras eras tocado em jukebox ao fim da noite, até se tornar um rock americano até ao osso, a tradição do blues e da folk elétrica que ele ajudou a impulsionar toda lá metida. E sobretudo uma voz já rouca dos anos e da vida, a cantar ainda com o tom de malícia e de vivacidade que sempre teve, bem alto, até mordaz. Imaginamo-lo nesses dias agarrado ao microfone como crooner do rock, impecavelmente vestido, sem medo de expor as falhas da voz deteriorada (dizem que é sinal de experiência) a querer ainda impor o seu canto ao barulho do mundo, a gingar com o ouvinte e com as expectativas alheias, “you say I’m a gambler / you say I’m a man”.
Avança-se para este novo e o tom de arranque não poderia ser mais diferente: uma nota fantasmagórica, uma guitarra dolente, um tom de despedida e de elegia de um tempo que já não volta. Repitamos: se fosse um adeus perfeito, era assim que começava. De repente entra a voz de Dylan, velho sábio, mestre que nunca esteve tão plácido, contemplativo, que nunca esteve tão pouco focado em contar histórias e a desenvolver narrativas (mais ou menos intrincadas) para se ocupar tanto com anotações, cenas macabras, frases avulsas. Começa a cantar, e assim há-de continuar, em tom mais baixo, quase como narrador de uma história musicada, a meio caminho entre o canto e a spoken word. A voz soa agora quase cansada, como se cada palavra fosse arrancada ao baú dos últimos versos, definitivos, quase terríveis pela forma como são entoados.
Nem todas as canções de Rough and Rowdy Ways são como “I Contain Multitudes”, com título roubado a Walt Whitman, sem percussão, com as palavras cantadas sílaba a sílaba, quase lentamente soletradas. Nem todas são assim, como esta, em que Dylan diz ou canta que há-de “beber à verdade e às coisas que dissemos, beber ao homem que partilha contigo a cama”, que é um homem de contradições, de muitos humores e que contém multidões dentro de si (e musicalmente não foi tanta gente diferentes ao longo de todos este anos?), que é “como a Anne Frank, como o Indiana Jones e como aqueles bad boys britânicos, os Rolling Stones“, que pinta paisagens (e pinta mesmo, não só na música).
Talvez nenhuma outra canção seja, porém, tão nitidamente e diretamente marcada pela morte, tema aliás de que Dylan já muito se ocupou nas últimas décadas, mas que aqui regressa: os primeiros versos cantados que se ouvem do disco, logo no arranque do primeiro tema, são “hoje, amanhã e ontem também, as flores estão a morrer e todas as coisas o estão também”, embora a tradução não faça jus à rima nem à ausência de repetição (“Today, tomorrow and yesterday too / the flowers are dyin’ like all things do”) e a cantiga não pode terminar sem que Dylan declare: “Durmo com a vida e a morte na mesma cama”.
São muitas linhas só para o arranque, mas as saudades eram muitas: o mundo confinou, deprimiu, precisava de ouvir velhos heróis que nos encorajassem a todos, com o charme que só eles têm a cantar sobre fúrias, promessas de vinganças desabridas, falhas humanas, crimes antigos e como forjaram e espelharam eles a identidade ocidental. A melhor prova é que “Murder Most Foul”, tema com quase 17 minutos, foi o primeiro single da carreira de Bob Dylan a entrar diretamente para nº 1 do top de audições da Billboard.
O disco acelera ligeiramente, prossegue com o blues-rock de “False Prophet”, ainda assim com a contenção e a fantasmagoria de outras eras. Não é preciso reinventar a roda, a guitarra não precisa de muitas notas nem de riffs muito diferentes, só do balanço bluesy da canção que é inspirada numa gravação antiga de um rapaz pouco conhecido do rhythm and blues chamado Billy “The Kid” Emerson. E precisa de Dylan, feroz como antes a fintar a morte, a atirar com a voz de desafio “para onde é que estás a olhar”, “põe o teu chapéu”, “olha para cima se te atreves” ou “não me conheces, querida”, a dizer que ainda vai subir montanhas e ainda se há-de vingar, a dizer que não é falso profeta nenhum, já menos em registo fala e mais em registo canto, ainda assim com as palavras arrancadas às entranhas.
Queremos mais morbidez, trevas, escuridão? Vem logo à terceira faixa, “My Own Version of You”, a história de um homem que anda por morgues e cemitérios à procura de partes de corpos para recriar em laboratório um velho amor humano. Não é uma daquelas canções charneira, é mais uma canção ponte, a meio caminho entre a ferocidade da anterior e as de palavras balbuciadas, é tema de banda que tem em Dylan um bom vocalista esgrouviado, daquelas cantigas que não deixam ninguém embasbacado mas que caem muito bem ao longo de um disco. Tal como mais à frente o é “Black Rider”, cantiga sem grandes truques, cheia de belos silêncios, em que a palavra é tudo, em que as notas são sobretudo tocadas quando Dylan não está a cantar e aqui e ali nervosamente.
Melhor é “I’ve Made Up My Mind To Give Myself To You”, balada lindíssima para os slows de fim de noite, vozes discretamente a entoar “uhhhhh” em fundo, Dylan a voltar aos clássicos pré-rock and roll e pré folk-rock, a cantar (a alguém?) que acha que não vai ser capaz de viver a vida sozinho, a percussão belíssima a acompanhar. Qual é o problema com vozes de cana rachada quando cantam assim, como se fossem dotadas, comoventes até pelas falhas que não se escondem (a Rolling Stone escreve que a voz soa “maravilhosamente ágil e delicada” no disco, mas enfim, há que dar o desconto, é Bob Dylan e é a Rolling Stone em 2020), comoventes pelas palavras que atentamente se revelam, “I hope that the Gods go easy with me”. Tem ainda um excelente solo de guitarra, que se intromete discretamente e meio a medo no romantismo de Dylan.

@ Michael Kovac/WireImage
Ainda o disco vai a metade, cinco canções despachadas e mais cinco por ouvir, e que melhor maneira de começar a segunda parte do que com um blues mais acelerado, “Goodbye Jimmy Reed”, canção em homenagem ao guitarrista e músico nascido no Mississippi que é também homenagem ao blues que foi a raiz de todo o rock and roll. Novamente: nada de especialmente novo, só blues-rock bem tocado, com uma banda que não falha uma nota, até porque como Bob Dylan dizia recentemente em entrevista ao The New York Times a improvisação não é para ele, abre espaço a bons e maus momentos e Dylan só quer os bons, prefere especializar-se naquilo que sabe fazer e fazê-lo bem.
É porém quando volta a desacelerar, quando volta ao tom de baladeiro de fim de noite, que Bob Dylan regressa aos momentos ímpares, aqueles em que não soa a ninguém se não a ele próprio e à sua nova fase. Fá-lo logo a seguir em “Mother of Muses”: por mais que a cante ao nível de alguns rejeitados de concursos de talentos, diz que “canta do coração” e isso é bonito, canta quase como quem fala melodicamente, deixa a canção respirar em silêncios constantes, evoca os militares que lutaram pela liberdade, que “abriram caminho a que o Presley cantasse, que esculpiram o caminho para o Martin Luther King” e ainda deixa escapar umas confissões, “fiquei tão cansado de perseguir mentiras”, “já vivi muito mais tempo do que era suposto”.
Mais do que em outras aproximações aos blues ao longo do disco, em “Crossing the Rubicon” Dylan acerta em cheio, já não há tons mordazes nem malícia de tempos antigos mas há um sentido de ritmo e um groove inabaláveis, mais desacelerados do que noutros blues-rock em que se meteu. Eis Dylan a cantar como bluesman antigo, cansado da vida de estrada mas com uma força que o impele para a música e o canto, que o leva ainda a estremecer de fúria e violência (“Vou fazer da tua noiva viúva / nunca chegarás à meia idade”). Ouvimos palavras sobre o Purgatório, sobre quanto tempo pode isto continuar, sobre ter pagado as suas dívidas e ter atravessado o rio, ouvimos uma música que parece que se prolonga infinitamente, até desaguar numa pequena jam de uma banda que nunca perde o travão, em riffs de guitarra que nos recordam a classe dos blues.
É mesmo na ponta final que o álbum se confirma como tomo maior da carreira de Bob Dylan pelo menos desde a fase de “cristão novo” dos anos 1980. E é curiosamente depois de “Crossing the Rubicon”, já com os blues arrumados na prateleira, com a instrumentação espectral e baladeira que tão bem se adequa à sua voz atual e às palavras que canta hoje, que Bob Dylan ascende mais uma vez ao Olimpo.
Em “Key West (Philosopher Pirate)”, o penúltimo tema, tudo soa final e definitivo, quase as mesmíssimas e discretíssimas notas tocadas durante muito tempo a levarem o ouvinte a perder-se no novelo das palavras e mundos de Dylan, uma espécie de elegia cheia de classe e sem pressa alguma sobre a poeira que ficou para trás, o convívio com gente como Ginsberg e o universo aventureiro de Kerouac, as viagens pela “Route 1”, tudo com um acordeão imperdível. É uma cantiga que entra diretamente para a galeria de melhores canções de Bob Dylan, que recria um tom de quietude que nas sessões do mítico Blood on the Tracks (de 1975) era de desencanto e fel e aqui é pacificado, mais melancólico e nostálgico do que amargurado.
O disco acaba com “Murder Most Foul”, o primeiro single lançado do álbum, a canção em que Dylan se desprendeu como nunca antes de quaisquer modelos já testados da pop, alternativa ou não. Não há cronómetro para ninguém e se houvesse não marcaria os três a quatro minutos da praxe, marcaria dezasseis minutos e 54 segundos. Interminável, recorda as grandes figuras da história e da cultura ocidental a que Bob Dylan foi beber, que forjaram parte das canções americanas e da história ocidental. Não é só sobre o assassinato de John F. Kennedy, que, esquecem-se muitos, já tinha dado a Dylan polémica bastante quando Bob foi receber o prémio Tom Paine ao Grand Ballroom, em Chicago, e alcoolizado fez um pequeno paralelismo entre si e Lee Oswald, o homicida, o que levou a que os presentes o olhassem “como se fosse um animal” quando “não estava” a celebrar a morte de Kennedy, estava apenas a “pensar na vida de Oswald”.
O que aqui ouvimos pode ser uma espécie de redenção desse mal entendido, com Dylan nunca se sabe, mas Kennedy e a morte que mudou a América (“no dia em que o mataram alguém me disse / filho, a época do Anticristo ainda só agora começou”, ouvimo-lo cantar) serve aqui para Dylan rever não a vida mas o que lhe alimentou a vida tantas décadas a fio: os The Beatles, os The Who e os The Rolling Stones que vieram revolucionar o rock e deixar a folk acústica para trás, o piano tocado por Oscar Peterson, o jazz de Charlie Parker, Thelonious Monk e companhia, os disc-jokeys e os Cadillacs, as baladas de crime e de sangue, os crimes reais que chocaram a América, Patsy Cline e Etta James, o festival Woodstock e o festival Altamont, o “freedom, oh freedom, over me” cantado por Belafonte e pelos que procuram liberdade há 50 anos (mas “só os homens mortos são livres”), Marilyn Monroe e as canções de John Lee Hooker, os Eagles e Carl Wilson, os Queen e os Dead Kennedys, Fleetwood Mac e Nat King Cole.
A lista é interminável. Como refere a New Musical Express, estão lá os bluesmen, os palhaços dos filmes mudos, as rainhas da soul, as grandes figuras do jazz, os rockers, os hippies e as pin-up girls. Mas o que é impressionante é a coleção longa, com a lista interminável de referências, ser meio cantada meio dita, com a banda a saber discretamente compor o ramalhete, o piano e o violino impecavelmente tocados, a bateria só de quando em vez a dar um sinal de sua graça (ouve-se genialmente aos oito minutos), as notas a prolongarem-se como um bom adeus deve ser, longo e sem deixar nada para dizer.
Isto até pode não ser o fim, Dylan pode voltar a aparecer e poucos como ele têm o dom de se reinventar quando tudo já parece ter sido dito — quase quarenta álbuns depois, 60 anos depois de rumar a Nova Iorque para ser músico, ainda ouvimos isto tudo e ainda isto tudo é novo —, mas que era difícil imaginar despedida melhor, era.
















