As mãos da filósofa portuguesa Maria Filomena Molder movem-se frenéticas entre os poemas de Carlos de Oliveira. De livro em livro, sublinhados, setas, riscos, uma constelação traçada sobre as palavras de um homem sobre o qual diz “podia escrever vários livros sobre ele”. Sabe de cor as palavras mais repetidas (e são muitas) os seus símbolos, a sua geologia e a sua geografia. Movemo-nos entre Trabalho Poético, Finisterra e Aprendiz de Feiticeiro “um dos meus livros de cabeceira”. Morto há 40 anos (em 1 de julho de 1981), retirado dos currículos escolares, demasiado marxista para uns, não suficientemente marxista para outros. Desobediente da ortodoxia Neorealista, desobediente de todas as ortodoxias em geral, homem sóbrio, que falava só para dizer a palavra certa, tal como reescrevia incessantemente para encontrar só a palavra certa, que é como quem diz, a estrela, o orvalho, a estalactite, o que transpõe os umbrais de todas as eras geológicas, o que transforma a morte em vida, o que brilha na noite escura. Como tal Carlos de Oliveira tem tudo o que é preciso para que Portugal se esqueça dele. “Poeta precoce, publica o primeiro livro aos 21 anos, ele tem uma relação com as palavras que eu não encontro em mais nenhum poeta. Ele criou uma verdadeira ars poetica, em que palavra e imagem vivem num chamamento comum. Não há nele nenhum litígio entre imagem e palavra, exatamente como em Wittgenstein”, afirma Molder, que acaba de publicar um ensaio sobre o poeta, intitulado Escrever na Pedra (Documenta)*.

O jovem Carlos Oliveira, na época em que fazia parte do grupo Neorealista, anos 40/50
Esta terça-feira, 10 de agosto, passam 100 anos sobre o nascimento do poeta e autor do inesquecível romance Uma Abelha na Chuva e, para além dos habituais colóquios de academias nada mais há a dizer. O ministério de Cultura estará a beber um drink ao fim da tarde, as demais instituições culturais preparam, com azáfama, o centenário de José Saramago, para 2022, como em 2019 prepararam o de Sophia de Mello Breyner. Pelo meio os vencidos da vida; Jorge de Sena, Egito Gonçalves, Carlos de Oliveira e, ainda este ano, Manuel da Fonseca. É certo que, como escreveu Séneca, “nenhum vento convém a um barco que não sabe para onde se dirige”, é assim a Cultura lusitana: um barco à deriva puxado para onde sopram os ventos dos prémios, das modas, do poder das editoras ou das elites. O próprio Carlos de Oliveira sabia que era irrisória e difícil a vida de um escritor e, em Aprendiz de Feiticeiro (1971) de si próprio dirá:
Pensando bem, não tenho biografia. Melhor, todo o escritor português marginalizado sofre biograficamente do que posso denominar complexo de Iceberg: um terço visível, dois terços debaixo de água. A parte submersa pelas circunstâncias que nos impediram de exprimir o que pensamos, de participar na vida publica, é um peso (quase morto) que dia a dia nos puxa para o fundo. Entretanto a linha de flutuação vai subindo e a parte que se vê diminui proporcionalmente”
Escrita antes da revolução de Abril, esta reflexão “sobriamente atormentada” como o próprio escritor (Manuel Gusmão) continua, como podemos constatar, atualíssima. É pois quase bizarro que Maria Filomena Molder, a pensadora desobediente mais importante da nossa atualidade, insista em querer que olhemos e olhemos de novo esta estrela, cujo brilho tão intenso e a alta concentração de energia a fez explodir, mas cuja luz nós continuamos a ver brilhar décadas, séculos depois, num reenvio fecundo entre vida e morte, fim e principio. “A poesia de Carlos de Oliveira é única na literatura portuguesa: uma compreensão contida e profunda do processo poético. O modo como a memória atua nela, como pó, como cal, como areia, não é rememoração. É memória involuntária.Ou seja, as coisas vêm ter com ele, as imagens em todo o seu poder a pedirem para ser ditas mesmo quando as palavras não as querem dizer.”
E são sempre as mesmas memórias filtradas pela infância e de acentuado valor simbólico. O também poeta e ensaísta Manuel Gusmão assinala que em toda a obra de Oliveira há uma ideia constante: a paisagem e o povoamento. Palavras que serão o subtítulo do seu último e explosivo romance-poema Finisterra:Paisagem e Povoamento (1978). A geologia, a geografia e os homens, assim mesmo, sempre no plural porque Oliveira não gostava de palavras-conceito como o Homem, a Vida, a Morte. Para ele, sempre houve muitos homens e mulheres, cada um carregando as suas pedras, fazendo a sua casa de adobe para durar o tempo de uma vida e carregando a pedra da sua sepultura. Vidas e mortes cada um tem a sua e, nesta inflexível individualidade ele constrói duas das linhas do seu carácter, diz Gusmão “solitário e solidário”.
“O meu pai era médico de aldeia, uma aldeia pobríssima: Nossa Senhora das Febres[Cantanhede]. Lagoas pantanosas, desolação, calcário, areia. Cresci cercado pela grande pobreza dos camponeses, por uma mortalidade infantil enorme, uma emigração espantosa. Natural portanto que tudo isso me tenha tocado (melhor tatuado).”
[O Aprendiz de Feiticeiro, 1971]
Porque é sempre de poesia que falamos quando falamos de Carlos de Oliveira, mesmo quando aludimos a um romance ou um inominável como O Aprendiz de Feiticeiro, sobre o qual Filomena Molder escreveu “seguramente o livro mais obscuro no que respeita ao género a que pertencerá, reunindo pequenas narrativas; meditações sobre as próprias obras, com particular ênfase para Micropaisagem; interpretações de outros poetas; respostas a um inquérito autobiográfico não publicado: eis o menos biografável dos nossos poetas contemporâneos”. Porque a poesia é sempre a argamassa, o cimento, a cal, o cálcio, os ossos de tudo o que ele escreveu, Manuel Gusmão traça-lhe a geografia natural, humana e literária assim: “febres, sezões, maleitas, lagoas, pântanos, apodrecimento animal e vegetal, solidão, desolação, morte, calcário, cal, areia, sílica, o poema como cal e grafia, a pobreza, o fantasma da miséria, a morte do filho, a ausência do filho, a emigração, a transumância dos camponeses.” Num exercício semelhante e lembrando o virtuosismo de Oliveira a trabalhar, a entretecer palavras e imagens, Molder lembra como ele genialmente decompôs a palavra “Cálcio” em cal+ cio, ou seja ato sexual, regeneração da vida e morte, decomposição e mineral “nunca vi uma palavra condensar tão bem a vida e a morte”.
Há coisas que só se podem encontrar dentro das palavras e nunca no mundo real e Oliveira soube explorar os ecos da linguagem, a sedimentação de um poema sobre outro poema, de uma voz sobre outra voz. Mas Molder aprofunda a questão e escreve: “(…) na poesia de Carlos de Oliveira o cinema e a fotografia ou a pintura são gerados no gesto poético, absorvidos e expelidos pelo gesto poético. Claro que há sempre – e como poderia ser doutra maneira? – o fora da palavra, a fonte anónima, mesmo que tenha nome, não só os líquenes, os animais, o musgo, mas também as casas, o cinema, a fotografia, o fulgor. O poeta chama-os, ou melhor, as palavras chamam-nos, vibrantes, trazidas da casa do avô, ou da colina em explosão, dos rebentamentos de sílica que estalam na vidraça. Às vezes elas são exaladas pelos dicionários, por outros poemas, as primeiras palavras anteriores à escrita, rumor que o poeta sente despontar como uma variação da atmosfera do quarto, substâncias voláteis ou que tentam voar, desprendidas pela biblioteca (…)

Carlos de Oliveira e Ângela Oliveira, a Gelnaa, de Aprendiz de Feiticeiro, em 1960. Foto de Augusto Cabrita
A impossibilidade do novo Real(ismo)
Carlos de Oliveira nasceu no Brasil, em Belém do Pará, Amazónia, onde os pais estavam emigrados. Com dois anos veio para Portugal e instalou-se na árida região da Gândara, uma paisagem à qual voltará incansavelmente em toda a sua obra, profundamente marcada pela suas primeiras impressões de infância. A floresta Amazónica e a geografia gandaresa marcam o seu primeiro livro, Turismo, publicado com apenas 21 anos e onde presta homenagem ao poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, num poema intitulado Terra sem uma Gota de Céu. Fará o liceu e a faculdade em Coimbra onde conhece Fernando Namora, Joaquim Barradas, Joaquim Namorado, João José Cachofel, Mário Dionísio que, nessa década de 40, constituíam já o núcleo duro do chamado movimento do Novo Realismo ou Neorealismo. Este movimento não visava um regresso ao Realismo de oitocentos que desprezava, mas queria ser uma revolução, como fora o Renascimento “onde cabiam todas as tendências, todas as escolas, todas as tradições e todas as inovações (…), escreverá Mário Dionísio que “nós queríamos a realidade em total movimento”. Nessa década terrível da IIª Guerra Mundial, Oliveira vai colaborar com a Seara Nova e a Vértice, duas revistas fundamentais ao movimento de matriz marxista e ligadas ao PCP. Em 1949, casa com a Ângela que transfigurará anagramaticamente em Gelneaa ou Ann Gall, a mulher que atravessa fantasmaticamente vários dos seus livros. Em 1950, fixa-se em Lisboa e a trabalhos precários. Faz amizade como José Gomes Ferreira, com quem vai elaborar uma obra de recolha de poesia oral, Manuel da Fonseca, Joel Serrão, Augusto Abelaira, Cardoso Pires, Herberto Helder (que o considerava um dos mestres) ou João César Monteiro.
Os seus livros, apesar de atípicos dentro da ortodoxia Neorealista, são bem recebidos, e a sua reputação como grande promessa da literatura portuguesa consolida-se. Pelo menos até 1953, quando publica o seu mais famoso romance Uma Abelha na Chuva, onde já anunciava com firmeza o seu desvio (mas não rutura) face ao Neorealismo. O livro, que teve uma boa critica de João Gaspar Simões (muito mais próximo do movimento rival, o presencismo) teria que corresponder a uma crítica negativa de Óscar Lopes. De facto é preciso esperar um ano até que saia uma critica frontal e acintosa ao romance. Ela vem de Armando Bacelar e vai dar origem a uma acesa polémica, na qual, contra o seu feitio reservado, Carlos de Oliveira desce à liça e responde defendendo furiosamente a sua obra, que fora por Bacelar considerada “ultrapassada” pois falar de aristocratas em decadência e comerciantes abastados que compram a ascensão social com um casamento era uma toada demasiado “camiliana”, com demasiada “psicologia” e pior: laivos de “romantismo” ao associar fenómenos exteriores com o mundo interior das personagens. Em suma: “nada de típico e representativo dos problemas do mundo de hoje encontramos nestas páginas. Estamos no domínio da pura intriga e do puro enredo camiliano”, escreverá Bacelar na revista Vértice, em 1954, onde até cita Henri Lefebrve, o papa do Neorealismo. Carlos de Oliveira escreverá uma longa resposta em que lembra Bacelar que se a realidade que não é a atualidade está ultrapassada porque não riscar da literatura A Guerra e Paz de Tolstoi,a literatura francesa,a russa, além de Eça ou Aquilino.”Será preciso dizer a Armando Bacelar que dum romance histórico, duma fábula, de um símbolo, se podem extrair paralelos, ideias, situações da mais flagrante atualidade?”, escreverá Oliveira. “A realidade”, dirá ainda” não é uma construção mental, livresca, importada por mais que a gente queira; é o que é, por menos que a gente possa desejar.” Armando Bacelar escreverá ainda uma resposta, mas Oliveira, já há muito que não estava ali. Porque tudo nele era lento e vinha de eras remotas como a formação do cosmos ou de uma estalactite numa gruta escura (mais uma das suas imagens recorrentes de processos geológicos milenares que ele usava como imagem da sua escrita). A rutura com o movimento consolida-se com a obra poética Cantata de 1960. Mas como escreverá Rosa Maria Martelo: “será sempre um marxista com laivos de tragédia”.
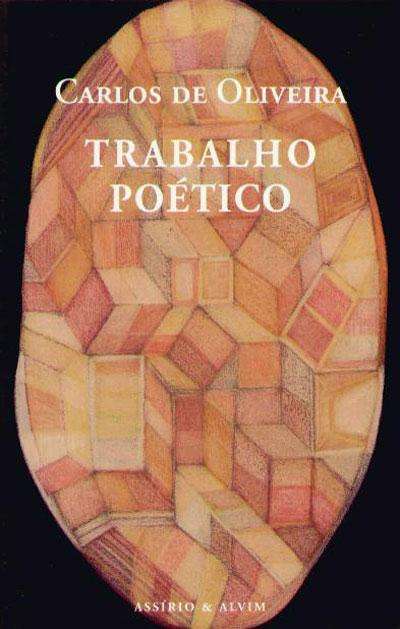
Trabalho Poético, súmula da obra poética de Carlos de Oliveira, depois de totalmente reescrita. Assírio e Alvim
Sobre isto diz Filomena Molder em entrevista ao Observador: “ele não podia continuar naquilo. Ele estava a escrever vinho novo em odres velhos e isso vai, mais tarde ou mais cedo, fazer rebentar os odres. O mesmo aconteceu com Nietzshe, n’O Nascimento da Tragédia, ele já tinha ultrapassado todos aqueles a que ele ainda se agarrava”.
Um livro mineral que continua a ser escrito
Sem nunca apagar os camponeses, os animais degolados, imolados, a morte das casas, Carlos de Oliveira já não acredita (se é que algum dia acreditou) em amanhãs que cantam. Pelo contrário ele não via qualquer salvação para a pobreza e a miséria dos camponeses, eternamente condenados à condição de escravos, e que só a morte poderia salvar. A partir de 1953 o escritor vai publicar pouco e dedica-se a um processo obsessivo de reescrita de toda a sua obra. Entenda-se aqui que reescrever é sobretudo cortar. O seus poemas tornam-se cada vez mais reduzidos, expurgados. Mas, esse tempo corresponde também a uma redescoberta das formas clássicas da poesia, como a rima e o soneto e a sua lírica ganha uma polifonia. Como diz Manuel Gusmão: “O poeta não tem para a poesia mais do que as palavras dos outros ou as palavras de outrem. Até porque não há outras. Há quem viva mal com isso, mas de facto nenhum de nós inventa a língua em que se fala/escreve”. A sua a obra assume cada vez mais a imagem de camadas de sedimentos, que vem dos outros, da memória, das experiências concretas, corpóreas e psíquicas.A ensaísta Rosa Maria Martelo, Manuel Gusmão e Filomena Molder concordam nesta imagem da escrita como camadas geológicas que num tempo longo, impercetível se vão depositando umas sobre as outras e é esse processo de sedimentação, que é também uma bela metáfora da passagem das gerações humanas sobre a terra, é o poema.
“Do íntimo do ouvido ao encontro do olhar, a palavra é movida por, a palavra move-se, a palavra faz mover. As palavras transportam com vários graus de intensidade, e criando várias camadas de sedimentação, de diante para trás, de trás para diante. A imagem é um trabalho do olhar, está dentro da palavra e fora dela. Como diz Goethe, “palavras e imagens são correlatos que se procuram incessantemente”, dirigem-se umas às outras: “o que era dito ao íntimo do ouvido devia ir ao encontro do olhar” (Goethe, Máxima 907).No poema “Estalactite” esta intimidade atinge graus intensíssimos de combustão”, reflete Molder no ensaio Escrever na Pedra.
Localiza/ na frágil espessura/do tempo,/que a linguagem/pôs/em vibração/o ponto morto/onde a velocidade/se fractura/e aí/determinar/com exactidão/o foco/do silêncio.//Algures/o poema sonha/o arquétipo/do voo/inutilmente/porque repete/apenas/o signo, o desenho/do Outono/aéreo/onde se perde a asa/quando vier/o instante/de voar//Caem/do céu calcário,/acordam flores/milénios depois,/rolam de verso/em verso/fechadas/como gotas,/e ouve-se/ao fim da página/um murmúrio/orvalhado./
[Micropaisagem, 1968]
Como sabemos o realismo,tal como a realidade é sempre múltipla, evanescente, incapturável a não ser com palavras que rapidamente e sob novas circunstancias já não servem. Segundo Molder, Carlos de Oliveira, como muitos outros grandes poetas que “sentem que o que escreveram estava a pedir para ser escrito, veio ter com eles”. Por outro lado sabem “isto que eu escrevi é a morte daquilo que eu vi (Carlos de Oliveira). Porque, em última instância as palavras sendo uma fonte de vida são também a lápide de experiências que foram outrora vivas, logo indizíveis.
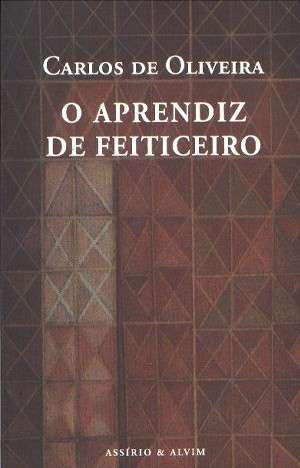
O Aprendiz de Feiticeiro é uma reunião de textos de vários géneros literários. Para alguns a obra-prima do autor
Há portanto, em Carlos Oliveira, a perceção de que o Real nunca pode ser apreendido, por ele é sempre filtrado pelas imagens e palavras com que se dá a ver. O trabalho de ouvir, olhar e escrever são um só. As palavras são o espelho onde a imagem se reflete, e só a isso podemos aceder do mundo.
Nos anos seguintes, o poeta vai publicar sobretudo poesia e só em 1978 voltará ao romance com Finisterra, sobre o qual Joaquim Magalhães dirá: “O que nele [Carlos de Oliveira] há de prosador e o que nele há de poeta chama-se Finisterra, mais do que um lugar geográfico ou simbólico é esse estranho ponto onde dois estilos se encontram.”(Jornal A Capital, 1978)

Finiterras: Paisagem e povoamento é para Manuel Gusmão “a apoteose da escrita” de Carlos de Oliveira. O fim da Terra, o fim do mundo.
A 1 de julho de 1981, pouco antes fazer 60 anos, o coração, ao qual ele dizia ter sempre um estilete apontado, uma dor contínua, parou de bater. No céu de pedra das grutas as estalactites continuaram gota a gota a fazer crescer flores de pedra, no fundo dos lagos continuaram a depositar-se detritos, a a putrefação continuou o seu labor no fundo dos solos, dos corpos das árvore e dos homens. Mas, tal como uma estrela ao explodir pode dar origem a centenas de novas estrelas que brilharão no céu noturno e desesperado dos insones, também na superfície dos lagos e lagoas se pode ver o céu e a terra invertidos, como se nascessem debaixo para cima. E, nas profundezas das florestas, as raízes das árvores cortadas para fazer chão, continuam a crescer e a engrossar para fora da terra para se virem emaranhar no poema e no poeta. Pois o poder das raízes, como o das estrelas é que elas encontram sempre um caminho para sobreviverem.
*O ensaio Escrever Na Pedra, de Maria Filomena Molder está integrado no livro Escrita e Imagem, organização e nota introdutória de Elisabete Marques e Rita Benis, Documenta, Sistema Solar, Lisboa, 2021
*Os excertos da polémica literária entre Carlos de Oliveira e Armando Bacelar pertencem ao livro Uma Abelha na Chuva, Uma Revisão, organizado por Pedro Serra. Editora Angelus Novus, 2003





![Poeta e romancista, Carlos de Oliveira {1921-1981] no Brasil na região da floresta amazónica e cresceu em Portugal na região areia e pinhais, a Gândara](https://bordalo.observador.pt/v2/q:60/rs:fill:980/c:1768:995:nowe:0:0/plain/https://s3.observador.pt/wp-content/uploads/2021/08/10010249/carlos-oliveira.jpg)











