O Museu Nacional de Etnologia vive uma letargia profunda que vem do obscuro e nefasto tempo — 22 penosos anos! — do seu director Joaquim Pais de Brito, e desde 2015 ainda não encontrou maneira de se curar disso. Instituição pública que vivera uma época dourada, e como nenhuma outra do seu género entre nós foi instalada num edifício construído de raiz (arquitectura de 1965, e não adaptação forçada e incómoda de conventos ou palácios centenários), perdeu a chama que lhe havia sido dada por uma pléiade de investigadores e museólogos cujos nomes, só por si, quando pronunciados, recebiam e recebem ainda ipso facto respeito e gratidão.
Tudo isso desapareceu e o que ficou dá muito pequena prova de si, quase se podendo dizer que este Museu com estatuto de Nacional — e que podia ganhar especial evidência — prefere hoje passar tão despercebido a ponto de quase ninguém se lembrar que existe: as exposições são raras e fracas, elementos da equipa procuram colocações mais estimulantes noutro funcionalismo e a tutela do Museu de Arte Popular não criou mais do que uma sucursal à vibrante beira-rio para exposições que muito pouco têm a ver com — e muito menos dão a ver — o vasto e rico património recolhido (“Um cento de cestos”, ali patente, é uma excepção, dura um ano mas não tem catálogo…). Publicações não faz, e à sua biblioteca faltarão por certo os recursos para aquisições que por regra escasseiam nos museus públicos portugueses, que não são — ao contrário do que deveriam ser — centros de investigação dignos desse nome, habilitando os seus próprios quadros, reforçando continuamente as suas competências e atraindo leitores caturras e fiéis aos temas da sua especialidade.
Não surpreende, por isso, que dê o seu aval e selo institucional a este livro, que abordando tema de grande interesse o faz da maneira mais imprudente, desastrada e incompleta possível. Desde logo, a publicação de qualquer epistolário só ganha sentido quando se torna possível reunir a correspondência de parte a parte, que é a única maneira de se entender a profundidade e validade das trocas entre pares. Neste caso concreto, optou-se pela lei do menor esforço, que consistiu em retirar de gavetas a correspondência de 26 antropólogos e folcloristas brasileiros para Jorge Dias (1907-73), sem que as cartas do português fossem buscadas nos espólios dos seus colegas de além-Atlântico, se não de todos, pelo menos dos mais relevantes, tarefa esta que investigador de cá poderia ter assinalável ou incontornável dificuldade em cumprir mas que a organizadora Ana Teles da Silva, doutorada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 2014 teve suficiente ocasião e proximidade para o fazer. Outros autores brasileiros interessaram-se sobre Jorge Dias e o Brasil, como Lorenzo Macagno (2002) e Gustavo Anderson (2015), mas também nenhum deles visou resgatar esse material. (Há duas cartas de Jorge Dias, de 1965 e 1972, provavelmente por cópia; v. pp. 208-9 e 221-23.) E ao contrário do que diz Maria Cavalcanti, muito mais terá de ser feito para “iluminar sob novo ângulo a história das ciências sociais, em especial da antropologia, em Portugal e no Brasil” (p. 17), em particular a dum período em que antropologias brasileira e portuguesa se afirmavam, convergiam e divergiam em temas e geografias de trabalho, partilhavam os seus escritos ou discutiam novidades bibliográficas europeias e norte-americanas.
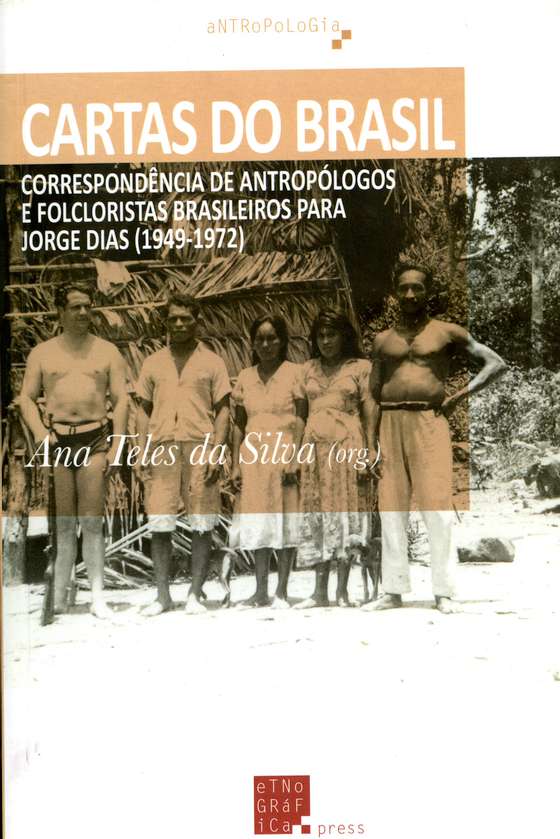
Prefácio: Maria Laura Castro Cavalcanti
Ensaios: Ana Teles da Silva e João Leal
Editor: Etnográfica Press e Museu Nacional de Etnologia
Páginas: 284
A segunda crítica forte a fazer a este livro é a escandalosa ausência dum índice onomástico, ou mesmo analítico, que torne produtiva a sua consulta por estudiosos ou curiosos de qualquer tipo. Não é tolerável que académicos desprezem a importância de tais ferramentas em publicações que, ademais, pretendem expor a novidade do seu assunto, e menos ainda que as instituições que as legitimam — mas também, urge dizê-lo, os próprios coordenadores da respectiva colecção editorial — as deixem correr sem um aparato tão relevante. Além disso, é tão fácil e imediato ver que falta, em atenção aos leitores portugueses (e, caramba, é de supor que os haja, por poucos que sejam), uma apresentação biobibliográfica dos correspondentes brasileiros de Jorge Dias, que diga quem eram e o que faziam ou haviam feito à época das cartas que deles lemos.
Como se não bastasse, a antologia epistolar está organizada pela sequência alfabética dos seus autores, desde Anita Nowinsky, cuja primeira carta é de Março de 1968, até Thales de Azevedo, idem Outubro de 1957, numa perturbação do que haveria de ser a verdadeira expressão cronológica da aproximação entre um colectivo de pares, entorse que nem um subíndice das datas das cartas minimiza. Depois, aqui e ali é por de mais evidente a falta de notas que expliquem ou contextualizem factos e instituições referidos, cuja presença num tempo já longínquo carece ser esclarecida. O trabalho do editor, que também consiste em colocar-se na posição do leitor comum, que sabe menos que ele nas matérias em causa, simplesmente não existe aqui. Fotografias feitas por Jorge Dias no Brasil foram espalhadas pelo livro, mas por algum motivo Ana Teles da Silva “esqueceu-se” do velho e sensato hábito de indexar a iconografia dos livros, e ninguém lhe chamou a atenção para isso. E quando se julgava que já não podia ser pior, eis que o livro está todo ele salpicado de lapsos de transcrição e grafia e quem o leia de lápis na mão vai mesmo ter de o afiar algumas vezes.
Por onde andam o bom senso e os referee quando tanto se precisa deles?!… E que saber-fazer profissional haverá em quem produz livros assim?
Dias e os seus pares mereciam bastante melhor. De acordo com João Leal, tratou-se de “um namoro, não um casamento. Mas enquanto durou, o namoro, embora breve, foi intenso” (p. 65). Renato Almeida escreveu em Novembro de 1961: “Hoje foi dia de festa aqui em casa. Quando recebi a sua carta, só não mandei repicar sinos, porque não os tenho, nem dar salvas de artilharia, porque também não tenho canhões. Mas a alegria foi enorme” (p. 256). Jorge Dias, pelo seu lado, refere-se a “uma porta que tantas vezes se abriu acolhedoramente” (p. 223). Estamos diante dum feixe de intercâmbios, realizações e projectos a que a radical “viragem africana” do “mais importante antropólogo português da segunda metade do século XX” (pp. 9, 49) terá posto fim, depois dum ciclo de deslocações frequentes ao Brasil para cursos e colóquios académicos, desde Setembro-Outubro de 1951, três anos após Vilarinho da Furna. Uma aldeia comunitária, “monografia regional” considerada “padrão para estudos iguais aqui no Brasil” (Manuel Diégues Júnior, Abril de 1952; cit. p. 38). O próprio Jorge Dias escreveria, tardiamente, aos 58 anos: “Eu sou sempre pela aventura e por isso mesmo gosto tanto do Brasil” (p. 208). Em 1961-62 tentavam, em vão, seduzi-lo com uma estadia anual paga pelas Nações Unidas. Dez anos depois, ainda quiseram convencê-lo a um semestre de aulas em 1972…
As primeiras cartas datam de 1949 e as últimas de 1972, mas quase metade delas concentram-se nos anos 1952-56, um pouco antes e um pouco depois da celebrada monografia Rio de Onor. Comunitarismo agro-pastoril — “um período da sua biografia intelectual marcado pela efervescência científica e académica e pela sua afirmação nacional e internacional” (Leal, p. 49), na Europa e nos Estados Unidos da América, como conferencista, congressista e professor convidado. Dias passou boas temporadas no Brasil em 1953 e 1954, e o seu interesse pelo país está indesmentivelmente comprovado pelas c. 240 publicações e 270 fotografias (60 das quais tiradas na Amazónia) conservadas no espólio do casal Margot e Jorge Dias, e pelos ensaios sobre as “continuidades luso-brasileiras” que ele ali publicou. Tudo isto amplifica ainda mais a perplexidade perante o atraso e a ligeireza dum estudo como o deste epistolário-pela-metade.

▲ O Etnólogo Jorge Dias nasceu em 1907 no Porto e morreu em 1973 em Lisboa
Em 1967 Jorge Dias será já sobejamente reconhecido como “uma das figuras centrais da etnologia europeia” (Leal, p. 53), integrando desde a primeira hora o comité editorial da nova e prestigiada — e ainda existente — revista Ethnologia Europaea. O seu tratado sobre os Macondes do norte de Moçambique, obra de 1964 e 1970, dera-lhe bons créditos em particular junto de destacadas figuras da antropologia britânica dita africanista (p. 64, n. 20). Todavia, parece lícito dizer, sempre com João Leal, que o Brasil foi “um investimento central no percurso científico e académico de Jorge Dias” (p. 62) e a primeira e “natural” — pela língua e não só — via para uma almejada internacionalização, feita sobre patamares inéditos de cooperação científica que se traduziriam na sua nomeação para sócio correspondente da Associação Brasileira de Antropologia, criada em 1955 (p. 61), o que sucedeu pouco depois de Loureiro Fernandes e Diégues Jr., dois dos maiores correspondentes de Dias, terem assumido a direcção (e isto tão-pouco nos é dito). E apesar de algum distanciamento nos últimos anos, ou, inversamente, apesar da esperança num regresso ao trabalho de campo e ao ensino no Brasil que o fim da vida inviabilizou de vez, a verdade é que nessa “espécie de velório académico que são os livros póstumos que homenageiam “sábios” desaparecidos» — Leal dixit, p. 65 — alguns dos correspondentes brasileiros de Jorge Dias não deixaram de marcar presença.
As cartas tratam em geral de pedidos de informações ou troca de bibliografia entre pares, acertos de viagens e encontros de ocasião, convites universitários ou afins, mas há também curiosidades como a de Darcy Ribeiro — e é a única — pedindo apoio para a candidatura do indigenista Cândido Rondon (1865-1958) para prémio Nobel da paz, em 1956. Perdida no meio deste descalabro editorial, raramente visto, fica a questão da importante “colecção brasileira” de Victor Bandeira, cuja incorporação no Museu Nacional de Etnologia é referida em cartas de Manuel Diégues Júnior de Setembro de 1968 (p. 213) e de Pedro Agostinho de Maio de 1970 (p. 241), a primeira das quais citando a Fundação Calouste Gulbenkian e o seu presidente José de Azeredo Perdigão como suportes duma eventual compra.
Correspondentes há, como Thales de Azevedo (1904-95) e Emilio Willems (1905-97), que escrevem desde departamentos em universidades norte-americanas. As cartas destes são, aliás, das mais interessantes desta recolha, a par das de Florestan Fernandes (1920-95), da USP, ou, pelo humor e pelas risadas, as de Hildegardes Vianna, “aquela brasileira que engoliu a agulha da vitrola” (p. 150). José Loureiro Fernandes (1903-77), médico e antropólogo de Curitiba, que manteve troca epistolar com Jorge Dias desde Fevereiro de 1952, parece ter sido quem chamou a atenção (v. p. 156) do português formado na Alemanha para uma recente colónia suábia no Paraná, movendo depois, em 1955, consideráveis esforços, inclusive junto da Unesco, para obter financiamento que permitisse aos Dias dedicarem um estudo etnográfico a essa comunidade de agricultores deslocados que ainda hoje mantém forte identidade cultural. E não surpreende de todo, dado o verdadeiro encantamento — e com razão — que tanto Vilarinho da Furna. Uma aldeia comunitária como Rio de Onor. Comunitarismo agro-pastoril haviam gerado na comunidade científica brasileira.
















