Para os que que estimam a solidão e o risco, os livros sempre fizeram parte dos verões, das férias, da modorra, do tédio das tardes quentes. Companhia de sofás, lençóis frescos, espreguiçadeiras, toalhas estendidas na praia, do silêncio que deslizava como as paisagens pelas janelas dos comboios ou dos autocarros, os livros eram uma viagem para outros mundos possíveis. A maior parte dos livros que lembramos com mais nostalgia foram precisamente os que lemos durante as férias de verão
Para os leitores, o tempo livre das férias estivais não tem que ser sinónimo de consumir museus, monumentos ou bolas de Berlim. As férias são sinónimo de disponibilidade mental, tranquilidade para a aventura de um livro. A grande delícia de umas ferias de verão pode ter a leitura dos 7 volumes do romance de Proust, ou a obra completa de Rimbaud, ou mesmo as sagas islandesas. Porque não? Tudo se tornará memória e aí os que viajaram nos livros talvez tenham feito um caminho mais inolvidável.
Há, no tempo estival, um convite a ir pelas cidades visíveis ou invisíveis, sejam as de Italo Calvino, sejam nas de João Miguel Fernandes Jorge, as de Kaváfis, as de Louise Glück, onde o passado e o presente se encontram. Recusando a ideia de turismo mas sublinhando a ideia de viagem fincamos melhor os pés no chão, no esplendor na relva, na areia quente, no restolho crespo. Por isso muitas das obras que sugerimos neste artigo têm a Natureza como grande tema.
Tendo recebido o cognome de “silly season”, os meses de verão tornaram-se um período do ano em que parece ser obrigatório não pensar, logo deixar os livros, os filmes, as recordações, as melancolias fechadas na gaveta. Felizmente há ainda muita gente que não deixa que “a banalidade se arrogue no direito de exclusividade”, como escreveu Silvina Rodrigues Lopes, precisamente a defender uma Cultura que não seja “uma indústria”, uma literatura que não esteja domesticada pelos “públicos-alvo” e uma poesia que seja para ser lida na sua integridade e não cortada em versos que circulam depois pelas redes sociais, para que leitores preguiçosos possam passar por eruditos.
Por que não, uma esplanada, uma sombra, um jardim, uma brisa marítima e o novo livro-animal da Canina Andreia C. Faria, o olhar vindo “de eras pré-humanas” de Pier Paolo Pasolini (que este ano faria 100 anos), o diálogo do corpo com a gravidade do bailarino e poeta japonês Ushio Amagatsu, a fúria e o fulgor da língua portuguesa desse poeta, gigante esquecido, que foi ao inferno e voltou para contar; João Pedro Grabato Dias. E se em vez de conchas e pedras coloridas recolhermos os poemas filosóficos de António Gedeão, agora que a Relógio D’Água reeditou a sua obra completa, ou formos à descoberta das ilhas gregas nos pardos americanos da prémio Nobel Louise Glück?
Sigamos a aventura de um sábio que se retira para o mato com a ideia que ali vai encontrar água e fazer renascer vida, onde só há areia e eucaliptos e fogos. Um zaratustra no mato português, com uma voz poética obstinada, dura, como as árvores que resistem às chamas mais mortíferas e são, por isso, guardiãs da vida. A Charca, que marca a estreia fulgurante de Manuel Bivar é um dos melhores retratos poéticos e apocalípticos que se escreveram sobre o nosso país.
Num ano que está a ser particularmente feliz para a reedição de obras clássicas, Maria Alzira Seixo, relembra, no prefácio do clássico, Fedra, de Racine, que é tão necessário conhecermos o passado como compreender o presente. Esta obra da Grécia antiga, aqui contada pelo poeta e dramaturgo barroco francês Jean Racine, é de uma beleza que nos chama para os abismos da condição humana. Dentro desse passado cabe também a poesia que não ensina a cair. Mas antes a poesia que faz cair, que empurra, que nos explode a alma e o coração como a de outro homem que sendo de outro tempo, o Renascimento, fala claramente à nossa época: Francisco Sá de Miranda. O contemporâneo de Camões e Bernardim Ribeiro que, como estes, viu o tempo de tantas liberdades e abertura que foi o século XVI transformar-se no tempo sombrio da inquisição, do silêncio, das sombras.
Falando em homens em tempos sombrios, importa referir que a Relógio d’ Água que, este ano, celebra, 40 anos, reeditou dois livros do poeta judeu, Paul Celan, Arte Poética e A Morte é Uma Flor. O primeiro é uma antologia de textos, o segundo é o último livro do poeta antes do seu suicídio, em abril de 1970. Traduzido por João Barrento para a Cotovia, em 1998, Celan regressa agora com a força simultaneamente hermética e dialogante da sua poesia para ser descoberto por novos leitores.
Se, para muitos, a poesia é escrever versos, muitos outros estão aí para mostrar que a poesia é, sobretudo, uma forma de ver e viver. Habitar poeticamente o mundo, eis o que fez Goethe que, além de poesia e romances, escreveu um compêndio sobre as plantas, onde a ciência, a classificação, a análise, se fundem com a poesia e a observação poética das plantas. Nenhuma obra era mais certeira neste tempo de luta pela preservação da Natureza do que este A Metamorfose das Plantas, uma reedição das Edições do Saguão.
Quem também se estreia em Portugal é Audre Lorde (já exista uma tradução brasileira, intitulada Entre Nós Mesmas). Poeta de culto no mundo anglo-saxónico, Lorde, americana, negra, homossexual, sobrevivente de muitas libertações, intimidades e violências, chega-nos pela mão da nova e prometedora chancela independente Sr Teste, e intitula-se, simplesmente, Entre Nós.
“Canina”, Andreia C. Faria

Canina. Eis que Andreia C. Faria não se enreda em perfomances identitárias, nem aspira a ser estrela de cinema. Ela diz ao que vem e ela morde. Não é assim tão fácil um cão morder um homem. É preciso que ele se conheça bem a si mesmo, ao ponto de não temer levar um pontapé. Sobre este livro a poeta disse ao Observador: “é sobre o perigo partilhado das espécies e o apaziguar-me com a pertença à espécie humana, a angústia e a beleza do fogo e de um mundo/clima que muda tão violentamente, o amor como perda, ilegitimidade e autoderisão”. Há nos livros de Andreia uma calma de morte que se pode confundir com serendipidade: ela colhe indícios, transforma detalhes insignificantes em imagens de grande força poética e, ao mesmo tempo que rodeia e morde sugestões, significados, reelabora e reconfigura o mundo, quando ainda que sem ideal nem esperança. Ela “recria em olhos secos a luz das emoções possíveis”.
Comove-nos a sua juventude ter forjado um universo tão avesso ao sentimentalismo tóxico que nos inunda, e tão avesso à charlatanice, aos eternos filhos da Poesia 61, aos viúvos do Herberto Helder e do Fernando Pessoa, aos que ainda dão murros abstratos no Real dos poetas do Cartucho. Andreia C. Faria é outro lugar e outra circunstância. Ela é “uma mulher “impraticável” que “da tristeza da matéria” vai “erguendo um plano”, como um coração “fundo, maduro, fora do tempo”.
“Obra Completa”, António Gedeão
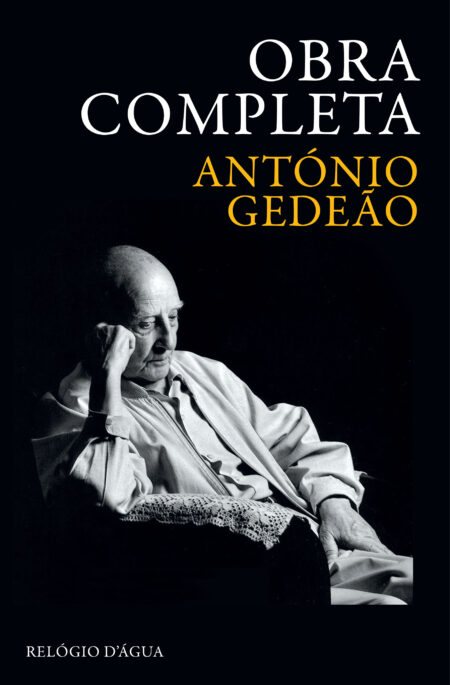
António Gedeão/Rómulo de Carvalho foi um cometa que atravessou a vida e para nossa sorte nasceu em Portugal. Deixou uma obra tão grande, quanto, em nós, uma divida impagável para com a sua inteligência, a sua sensibilidade rara, a sua ciência, fotografia, pedagogia, poesia. Não, a sua obra não se resume aos poemas Pedra Filosofal e Lágrima de Preta (este arrisca-se mesmo a ser cancelado por usar o adjetivo preta e não negra) e por isso é um ganho nosso que a Relógio d’Água a tenha reeditado.
Como todos os que não sabem pertencer a um grupo, exibir-se nos braços do poder, seja ele qual for, como todos os solitários, independentes, incapazes de cumprir as regras do jogo do tempo, Rómulo/ Gedeão foi arrumado como um poeta do PREC, dos cantautores, de uma esquerda à qual ele nunca pertenceu. E se hoje ninguém o cita, se os seus versos não ensinam a cair, é uma sorte para ele. Tal como Pasolini, ou Grabato Dias (de que falaremos a seguir) ser apagado talvez seja a melhor maneira de elogiar um poeta atualmente. Significa que ele não entrou na máquina de moer paisagens, palavras, poemas, pensamento que tecnologia digital está a promover. Reeditar Gedeão hoje é um risco mas também um luxo. O regresso às livrarias dos seus poemas levá-lo-á certamente a novos leitores, trará uma luz que não é a da atualidade mas da inatualidade, que é a que mais convém aos que escreveram com a sabedoria do passado e os olhos no futuro. Ou, nas suas palavras:“(…) enquanto for preciso lutar até ao desespero da agonia,/o poeta escreverá com alcatrão nos muros da cidade:/ABAIXO O MISTÉRIO DA POESIA.”
“Entre Nós”, Audre Lorde

“The Master’s Tools Will Not Dismantle the Master’s House” é o título de um dos seus ensaios Queer mais canónicos, mas que também explica a sua trajetória intelectual e a sua poesia. Falamos de Audre Lorde, uma poeta cuja obra está profundamente interligada com as lutas pelos direitos cívicos nos EUA, ao ponto de a vermos sobretudo como uma guerreira mais do que como a grande poeta que foi.
Publicou o primeiro livro de poesia em 1966, “As Primeiras Cidades”, casou, teve dois filhos, foi bibliotecária em várias escolas de Nova Iorque, onde nasceu, em 1934, engajou-se na luta pelos direitos cívicos dos negros, das mulheres, dos homossexuais. Os críticos apontam a paixão, a “sinceridade e perceção profundas” da sua poesia, considerada também uma canção de protesto que ecoo nos céus da sociedade americana dos anos 60 e 70. Ao contrário de tantas outras poetas negras, Lorde não estava no púlpito do poder como hoje Amanda Gorman, não estava na academia. Estava na rua, escrevia um diário onde anotava os acontecimentos, como o assassinato de uma criança negra por um policia, e dai nasceria um poema. Também as questões feministas, a sexualidade marcam muito a sua obra. Ou como ela disse numa entrevista: “Minha sexualidade é parte integrante de quem eu sou, e minha poesia vem da interseção de mim e meus mundos… objeção do senador branco e conservador Jesse Helmes ao meu trabalho por causa da sua suposta obscenidade… ou mesmo sobre sexo. É porque ele fala sobre revolução e mudança.”
Há tantas raízes na árvore da raiva
que às vezes os galhos estilhaçam-se
antes de brotar.Sentadas em Nedicks
as mulheres reunem-se antes de marchar
discutindo as jovens problemáticas
que empregam para que se libertem.
Um balconista quase branco ignora
um irmão que espera para servi-las primeiro
e as senhoras não notam nem rejeitam
os prazeres fugazes da sua escravidão.
Mas eu, que estou vinculada ao meu espelho
assim como à minha cama,
vejo causas na cor
assim como no sexoe sento-me aqui a imaginar
qual de mim sobreviverá
a todas estas libertações”.[Audre Lorde,Quem Disse Que Seria Simples?]
“Poesia”, Francisco Sá de Miranda

“Ora os suspiro que são/salvo palavras ao vento?/onde brada um coração/nossos ouvidos não vão/ deixam tudo ao entendimento.”, este vilancete pertence a Francisco Sá de Miranda, poeta renascentista, contemporâneo de Camões e Bernardim Ribeiro. Como estes foi uma das mentes mais brilhantes da nossa história literária. E não apenas porque jogava bem com as palavras, não porque sabia fazer trabalho de oficina, nem porque viajara por Itália e de lá trouxera ideias e formas artísticas que vieram a influenciar muito a sua obra. Sá de Miranda foi/é grandioso porque fazia da sua poesia uma forma de dialogar filosoficamente com o mundo. Lê-lo será um enorme e prazer para os que procuram a sabedoria.
A Imprensa Nacional (INCM) acaba de lançar a obra completa deste poeta, um volume de mais de 1500 páginas, com notas e todo o aparato crítico necessário à sua compreensão. A sua poesia gera e é gerada numa contínua fonte de inquietação. Nada é o que parece, tudo está coberto de véus. Véus tecidos pelo coração, pelas emoções, pela subjetividade, mas também pelo poder, pelo Mal travestido de Bem. Só a razão pode dar uma chão sólido para pisarmos. Assim se para Camões (ou Montaigne) tudo se baseava na experiência, em Sá de Miranda tudo se baseia na “mutabilidade constante” de tudo e todos. Como se fora um homem do iluminismo, ele acreditava que o sono da razão criava monstros, mas também sabia que o que é razão ou o que é desrazão depende da forma de poder que se afirma como tal. Um gesto individual pode ser considerado loucura, mas se esse gesto for imposto pelo poder ele passa a ser razão, verdade. A poesia de Sá de Miranda “é a “experiência da incomodidade”, escreve Helder Macedo, no livro Viagens do Olhar, sobre o Renascimento Português. Para este escritor que escreveu bastante sobre Sá de Miranda, o poeta renascentista “também denuncia (nesse e noutros poemas) a escravatura. E o imperialismo (então no seu início) como uma forma de empobrecimento nacional. É, em suma, um defensor da liberdade de consciência (o “entendimento” individual) e contra os “fortes amos” que querem impor o seu entendimento (e razões de ordem política ou, implicitamente, religiosa) à consciência individual servida pela “boa razão”.”
Essa mudança constante do mundo e do ser humano, gerava nele uma grande angústia que ele transportou para uma poesia bucolista, pastoril, mas nunca naif. Se ele evocava o paraíso, era sobretudo para lembrar a queda na idade do ferro, portanto o Paraíso era um engano. Tal como Camões foi um crítico do imperialismo português e cedo percebeu que toda aquela riqueza escondia uma grande pobreza, que a glória apenas precedia a decadência e novas prisões.
Cinco séculos depois a sua poesia continua atual como nunca até porque também nós vivemos tempos conturbados onde a vida humana se gasta em aparências, em imagens, enganos. “Tornou-se-me tudo em vento”, escreveu, mais uma vez contrariando a ideia de um tempo linear, algo que para ele era impossível, pois a morte tudo leva, e tudo muda como as estações. Talvez o verão seja mesmo a melhor altura para descobrir ou redescobrir esta poesia que é também sabedoria profunda. Pois o verão corresponde também a um tempo da vida humana, aquele que mais promessas de felicidade nos traz, também é o tempo em que tudo em redor está seco e mudo. Foram feitas as colheitas, tudo se renova, que é o mesmo que dizer tudo se perde, está na hora de sermos outros. Sim porque até Pessoa entenderia muito bem este homem que viveu no século XVI e escreveu coisas assim: “quién osará ser amigo/ del enemigo de si?“.
“Fedra”, Jean Racine

“Na vida como na arte, não conseguimos desprender-nos do passado, mesmo que dediquemos toda a atenção ao preenchimento futuro”, escreve a ensaísta Maria Alzira Seixo, no prefácio desta edição de Fedra, obra maior do dramaturgo e poeta barroco francês Jean Racine. Traduzida por Vasco Graça Moura, a obra estava perdida nos arquivos da desaparecida Guimarães editores, e a Quetzal reedita-a agora, não apenas para aqueles que sabem que, só quem tem intimidade com o passado pode compreender o presente como para aqueles que não estão esmagados pela obsessão do futuro. Pois, como Fedra amargamente aprenderá, todo o futuro é acaso, acidente, fruto de uma escolha, de uma decisão e nele não está necessariamente inscrita a felicidade, a gloria, mas pode estar inscrita a violência, o ciume, o amor não correspondido, a morte. Foi porque Fedra escolheu contar o seu amor pelo enteado, Hipólito, embora fosse casada com Teseu e Hipólito amasse outra mulher, foi porque eles não compreenderam o seu presente e o seu passado que ela chamou a si e aos seus toda a tragédia.
A história de Fedra e Hipólito já a conhecemos, e nem sequer consideramos tabu. No século XXI, a relação de uma mulher com o seu enteado seria algo banal, o que não acontecia na antiga Grécia. Sim, sim, esta história já foi contada e recontada mil vezes em romances, filmes, telenovelas. Porém, nunca ninguém a contou como Racine, em exigentes e rigorosos versos alexandrinos, que nas suas entrelinhas apertadas fazem saltar o furor das paixões, do ciume, da vingança e, por fim, da tragédia.
“Odes Didácticas”, João Pedro Grabato Dias

O inferno não é para qualquer um. Nem todos poderão passar uma estação no inferno e depois voltar com selfies com o diabo. e postar nas redes sociais. Veja-se que, na antiguidade, só lá foram e voltaram para contar a história Ulisses, Eneias, Orfeu e Deméter. No século XX português podemos nomear João Pedro Grabato Dias, como um dos escolhidos para essa viagem iniciática.
Hoje, perdida nos arquivos da literatura portuguesa do século XX, a obra de Grabato teve este ano direito a uma pequena recolha feita pela Tinta da China, na sua coleção de poesia. O livro Odes Didácticas saiu sem que ninguém desse conta de que estamos a falar de uma estirpe rara: um decisivo, robusto e intemporal poeta. Odes saiu no início deste ano sob um total silêncio nos media. Isto apesara de Grabatos Dias ser, indiscutivelmente um poeta e um artista maior da segunda metade do século XX português. Um caso sério na tecelagem de palavras que deixou das centenas de poemas, e vários livros. Dessa extenso produção este Odes Didaticas mostra apenas uma ínfima parte.
Mas quem foi afinal Grabato Dias, um ilustre desconhecido, um ilustre esquecido, um ilustre ignorado, que teve um punhado de heterónimos como Fernando Pessoa e escreveu um épico mais extenso que Os Lusíadas? Não importa quem foi. E de facto, ele nunca fez nada para ser um fidalgo literário, famoso, coroado de louros, bem pelo contrário. A sua ironia, o seu sarcasmo e o seu olhar critico, as posições e acções políticas refletidas na sua obra, deixam muitos de pé, nunca lhe deram espaço para respirar. Precisamente quando o lemos percebemos que não há qualquer mal em ser-se desconhecido, pois isso não muda a grandeza da sua obra, apenas nos faz a nós, leitores, mais pobres. Mas Grabato Dias estava-se nas tintas para os leitores, e nem os prémios que ganhou foi receber.
Nasceu em Viseu, em 1933, e morreu em 1994. Foi registado com o nome António Augusto Melo Lucena Quadros mas, na verdade chamava-se João Pedro Grabato Dias ou Frey Ioannes Garabatus, outras vezes António Quadros “Pintor” isto quando não era um guerrilheiro morto chamado Mutimati Barnabé João. Teve muitos nomes, mostrou que a heteronímia não é esquizofrenia, ficou conhecido como artista gráfico, mas foi também apicultor e artista plástico, especialmente ceramista, gravurista, fotografo. Entre Portugal e Moçambique devemos-lhe ainda a descoberta da Rosa Ramalho, uma das principais criadoras de Arte Bruta em Portugal. Quando partiu para África com Herberto Helder a ideia era fixarem-se ambos em Moçambique, mas HH ficou em Angola, Grabato seguiu para Maputo, aproximou-se da Frelimo, escreveu manuais de pedagogia e trabalhou como educador de adultos e, claro, escreveu muito.
Como João Pedro Grabato Dias estreou-se, em 1968, com o livro 40 e tal sonetos de Amor e Circunstância e uma Canção Desesperada. Livro que foi logo muito bem recebido pela crítica. Mas no seu furor Grabato Dias lançou-se também a competir com Camões e, em 1972, publica um objeto inusitado chamado Quybyrycas assinado por um tal Frey Joannes Grabatus. Um trabalho de linguagem sem igual, ele escreve uma epopeia em XI cantos (mais um do que os Lusíadas, a medir-se ironicamente com o poeta renascentista).
Mas o seu livro mais importante talvez seja Eu, Povo, um conjunto de poemas em tom épico assinados por um tal Mutimáti Barnabé João, guerrilheiro que antes de morrer o “entregou” a Grabato Dias. Ele, por sua vez, entregou o livro à Frelimo, e a comoção que esse livro provocou não o levou a desmentir-se. Mutimati estava morto e Grabato Dias quis que ele assim continuasse. Mesmo quando a obra se tornou uma espécie de poema nacional e fundacional da Moçambique independente, ele se reclamou autor do livro e inventor desse guerrilheiro-poeta.
O volume agora editado pela Tinta da China deixa-nos com fome de mais, pois, desde a sua morte, em 1994, a obra deste poeta nunca mais foi reeditada e nem em alfarrabistas se encontra. Ora, não conhecer poesia de Grabato, e seus heterónimos equivale a não conhecer Herberto, Ruy Belo, Eugénio de Andrade, Sophia… É que ao evitar os perigos da lisonja, ao rejeitar entrar no lodoso meio literário, Grabato ficou entregue a uma geração de amigos e sortudos que puderam ler os seus livros. Mas até nessa fome ele vem explicar-nos “a técnica minuciosa para não chorar certas lágrimas/o código das mil pequeninas astucias serenas/os concretos maneirismos viuvos que resultam neta/ptetrificada imobilidade, nesta insónia alheada/de fazer medo aos amigos a decompor-lhes os mil modos/correctos de hibernar em estatua passante,/desmontar-lhes, preciso, o sangrento teor das rodas/dentadas no indisível terror de aqui estar/de não ver o fim/de temer qualquer fim que seja (…)”
“A Metamorfose das Plantas”, Goethe
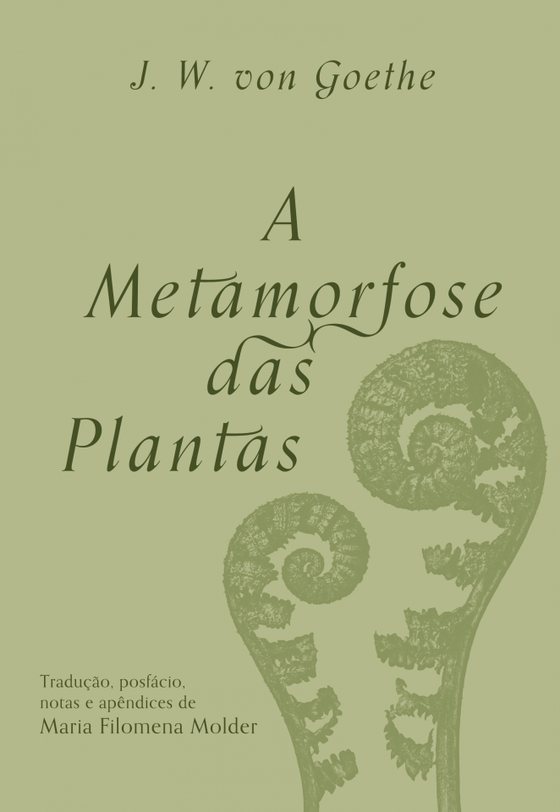
Se a poesia é sempre um excesso que nos desvia da obrigação de nos entregarmos às exigências de pragmatismo e utilitarismo que, esta nossa grande época, quer incutir a toda a arte. Se ela é uma das forças mais transformadoras do universo porque estilhaça qualquer ideia de que a Vida é um lugar imóvel. que a Vida não que se pode isolar e estudar em laboratório como pretendem as ciências, da História à Biologia, mas que está em constante estado de nascimento, está sempre a emergir, a estilhaçar o Real então este livro é o melhor testemunho sobre a mistura entre o fazer ciência e o fazer poesia. Entre os factos e a linguagem que lhes dá forma. Ninguém se atreve a dizer isso hoje, quando está em curso uma Logomaquia, mas… sem linguagem, sem nomes, palavras, frases não haveria ciência, economia, finanças, etc.
Posto isto, os poetas são e, serão sempre, os que engendram novos mundos, os que contrariam o que está instituído, os que se atrevem a olhar para as classificações e os laboratórios arrumados e assépticos e ver numa, grelha classificativa da morfologia das plantas, toda uma potência poética. Foi que que fez Goethe ao perscrutar os misterioso factos que acontecem no nascimento de uma folha e descobrindo a metamorfose que se dá entre a semente adormecida na terra e o glorioso fruto solar.
Neste livro inclassificável, publicado em 1790, J.W von Goethe não recusa a ciência, a filosofia, as classificações em que Lineu e Rosseau arrumaram o mundo vegetal, mas junta ao entendimento a emoção, o espanto perante um segredo universal que lhe foi comunicado. Goethe, poeta, romancista já reconhecido teve dificuldade em fazer publicar este livro, pois não era era permitido construir uma morfologia poética das plantas, nem fazer uma filosofia da ciência. Tudo deveria estar bem compartimentado e as misturas eram mal vistas.
A Metamorfose das Plantas, aqui traduzido do alemão por Maria Filomena Molder (a edição anterior estava esgotada), acompanhado de um generoso posfácio escrito pela filósofa portuguesa, é um livro dificil para quem conhece as plantas, dificílimo para quem nunca seguiu a vida de uma. Porém, depois de dobradas as barreiras que esta obra apresenta ao leitor leigo nós nunca mais olharemos para uma planta da mesma forma. Goethe injecta-nos um tal fascínio pelo mundo vegetal, que hoje, em plena crise ecológica, nos faz amar ainda mais o mundo ao nosso redor.
“Meadowlands”, Louise Glück
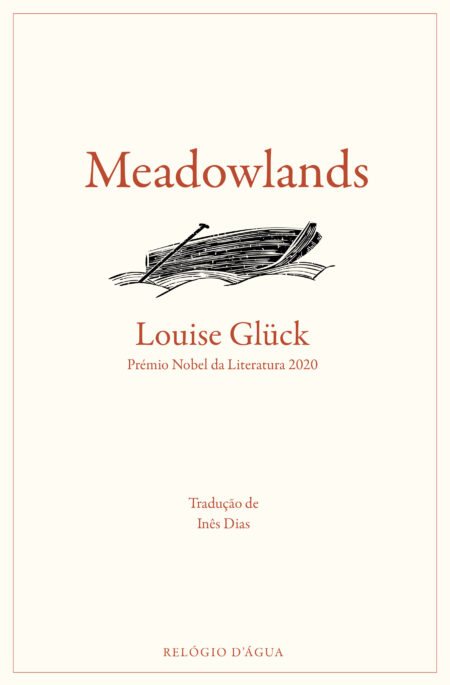
Uma das linhas de força da poesia de Louise Glück, a poeta americana que ganhou o prémio Nobel da Literatura, em 2020, e que está a ser publicada na Relógio d’Água, é a forma como ela faz confluir os mitos com a vida moderna, criando um poço de ar acometido por ventos que reescrevem os mitos e a modernidade ao mesmo tempo. Meadowlands, escrito em 1996, acaba de sair e é mais um exemplo dessa urdidura que faz de Glück uma autora que é sempre fascinante descobrir.
Se em Averno ela recorria ao mito de Perséfone para falar das relações entre uma mãe e uma filha, neste prado (a geografia, as paisagens naturais também usadas simbolicamente são outra das sua marcas) a poeta fala-nos de um amor, de uma relação em fim de caminho. Do fim do erotismo entre os amantes, dos desencontros familiares. Cada poema entretece-se com outro em que ela recorre à família homérica Ulisses, Penélope e Telémaco e a compara com a sua vida quotidianq.
O resultado deste jogo de espelhos é que difentes eras ressoam uma na outra e alteram a forma como vemos a nossa vida banal e fútil plasmada num tempo sem fim, e, ao mesmo tempo, retiramos a carga mitológica e eterna ao odisseu e sua mulher e filho. Todos afinal a viver uma guerra muito particular consigo mesmos, carregando amarguras, momentos de ternura, ardis, desencontros.
“A noite não está escura;o mundo está escuro//fica comigo um pouco mais,/As tuas mãoes nas costas da cadeira –/é o que eu vou recordar./Antes disso, acariciando ao de leve os meus ombros/como um homem apendendo a fiugir ao coração (…)”
“A Charca”, Manuel Bivar
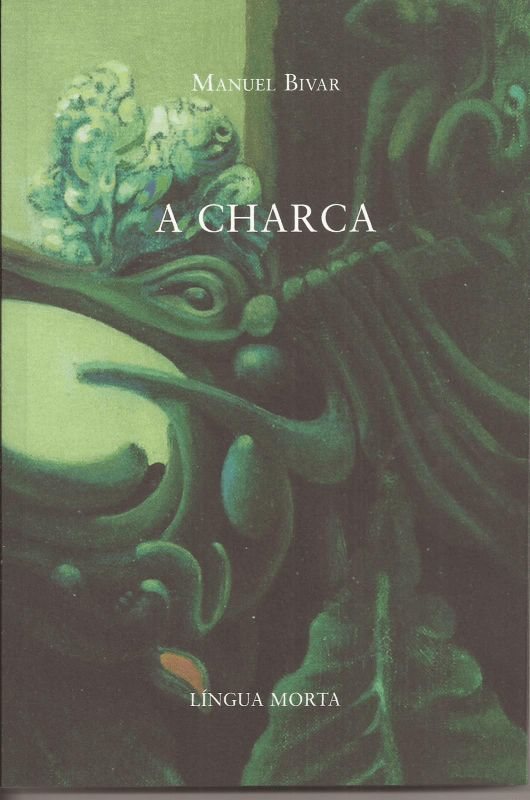
Tendo saido em 2021 e logo reeditado no inicio deste ano, A Charca, é um daqueles livros que não se esperam, nem se imagina que existam, e por isso, causam grandes sustos à ordem estabelecida. Talvez por isso e, apesar de ter esgotado duas edições, ninguém falou dele. O que impressiona nesta Charca construída no meio do mato, entre eucaliptais, num areal e com com poucas possibilidades de sobreviver, é o que ela contém de força anímica, de fúria, de inferno, de um ódio quente. Manuel Bivar, um absoluto ciclope estreante não malha em ferro frio. E se o que escreve não são versos mas uma reflexão, feita de uma escrita e um olhar poético, o que realmente impressiona é a sua Natureza. Uma Natureza que é o oposto da ecologia e dos bons sentimentos.
N’ A Charca, a Natureza não se contempla de longe como uma paisagem para turistas. A Natureza É. Está por todo o lado e nós estamos nela. Desde o corpo do anacoreta que abandona a cidade e se interna no mato, a ver a vida renascer depois dos fogos: os arbustos, dos carvalhos, os medronheiros a brotarem à revelia dos eucaliptos e dos incêndios, aos homens que passam o dia nos gabinetes, ao asfaltos das cidades, à terra asfixiada pela calçada enxameada de pombos. Bivar mostra-nos aqui que não há um lugar fora da Natureza onde alguém se possa colocar a mirá-la e a debitar verdades ou ameaçar com apocalipses vários a partir de um ecrã de computador. A Natureza somos nós.
A Charca começa por ser uma promessa de recomeçar a vida, como uma nascente no interior de uma montanha, que se encherá de peixes que já ninguém quer pescar ou comer, flora subaquática, margens férteis onde se cultivam as mais raras plantas, bolbos, árvores de fruto, cogumelos torna-se afinal uma poça estagnada e impossível. Esta poça é afinal a metáfora do Portugal do século XXI, um ajuste de contas, escrita por uma espécie de Zaratustra com um conhecimento esmagador da fauna e da flora, dos solos, da atmosfera, da História e da sociedade portuguesa. De recorte nietzschiano este é um livro que promete deixar qualquer um deslumbrado e à espera do que mais tem a verve de Manuel Bivar para nos dar.
A Morte é Uma Flor, Paul Celan

Paul Celan, judeu nascido na Bucovina, região que fazia parte do império austro-húngaro e hoje faz parte da Ucrânia, ganhou recentemente uma estátua na sua vila natal. Mas as estátuas, como sabemos, são o principio do esquecimento. Celan, foi-nos trazido em 1993 com um livro que já é uma espécie de salmo sobre os horrores do extermínio judaico do III Reich, em especial devido à popularização (e distorção) do celebre poema A Fuga da Morte. Esse livro, que levou o belíssimo título Sete Rosas Mais Tarde resultou de um trabalho conjunto de João Barrento e da poeta Yvete K. Centeno que, ao longo de vários anos, verteram poemas do alemão para o português e construíram esta antologia.
O facto de André Jorge ter acolhido a obra de Paul Celan na sua Cotovia, em 1994, deverá sempre que ser sublinhado pois, graças a ele, nos anos 90, várias gerações de leitores portugueses descobriram uma poesia sem igual, onde a contenção absoluta da palavra e do poema, resultam do facto de Celan, como qualquer judeu, saber a força ressonante e emergente de cada palavra, de deixar as imagens suspensas como corpos de enforcados tornados estranhos frutos. No judaísmo sabe~se que a palavra é o sopro que nomeia, e que só o nome faz nascer as coisas do mundo. Ler Paul Celan, não é, nem pode ser, uma apropriação da íntima dor alheia, a dor do povo judaico, mas é também um confronto com uma poesia radicalmente diferente. Em A Morte é uma Flor, que reúne poemas não publicados em vida do artista, é, diz-nos João Barrento, “uma obra mais elegíaca do que trágica, atravessada pela esperança que se eleva, repetidas vezes, sem euforia mas luminosidade, das trevas da morte”. Este verão, em que duas obras do poeta voltaram a ficar disponíveis, para os que, ao contrário de Theodore Adorno, sabem que a poesia foi possível depois de Auschwitz, porque a natureza humana é desmedida para o Bem ou para o Mal, e que a memória pode fossilizar, mas nunca desaparece totalmente. Paul Celan escolheu não esquecer e pagou por isso. A dor dorme com as palavras.
“A Poesia é Uma Mercadoria Inconsumível”, Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) explicava a sua poesia com o oxímoro “é uma mercadoria inconsumível”. Este oxímoro não se aplica só à sua poesia mas, de facto, a toda a sua obra; romances filmes, ensaios, teatro. Assim, escorregadio, independente, selvagem como um gato dos telhados, que nunca se deixou apanhar nem pela Esquerda, nem pela Direita, nem pela religião, nem pelo ateísmo. Nunca se dando alianças, nunca aceitando fazer parte dos grupos que o queriam como membro e sempre profundamente solitário. A solidão é um dos traços mais marcantes da sua poesia.
Neste ano em que se comemora o seu centenário, a editora independente Sr Teste fez sair um pequeno livro intitulado precisamente A Poesia é Uma Mercadoria Inconsumível, onde junta a sua voz poética, um “olhar vindo de eras pré-humanas”, feita com a força que só a solidão e do risco dão e tiram. Uma poesia profética,na qual ele parece estar sempre a adivinhar a sua morte, (tal como também acontece com a poesia de Luís Miguel Nava).
“Temos de queimar para chegarmos/consumidos ao derradeiro fogo”, escreve num dos poemas deste livro. E como é boa a sua poesia. Tão boa que só podemos lamentar que o livro não seja muito maior e que o próprio tenha deixado cedo de escrever poemas para escrever romances e depois encontrar no cinema a sua ars poetica porque, como disse numa entrevista “já não suportava a linguagem verbal”. Deste volume fazem ainda parte um conjunto de pequenos ensaios que Pasolini escreveu sobre literatura.Ensaios críticos de uma frontalidade e lucidez que hoje seriam rotulados certamente como “discurso de ódio” e cancelados.
Vivendo sobre a lâmina da navalha, como se soubesse que nada havia a fazer e como se, inconscientemente, procurasse mesmo a morte que teve, não buscava consolações e era sempre moralmente intransigente. Este estranho profeta que, logo num dos seus primeiros filmes, Passarinhos e Passarões/Uccellacci e Uccellini, de 1966, protagonizado pelo famoso comediante italiano Tóto, criou um corvo marxista, como seu alter-ego. Corvo esse que, depois de uma longa viagem, acaba morto, assado, comido e a carcaça abandonada na berma de uma estrada (não muito diferente foi a sua morte, assassinado em 1975, aos 53 anos, na berma de uma estrada).
Vale ainda a pena assinalar que a editora VS, publicou há umas semanas a obra Entrevistas Corsárias, uma compilação de entrevistas que o cineasta deu, entre 1955 e 1975, e onde ele fala de poesia, de política, de cinema, da juventude, do PCI e muito mais, sempre no seu estilo colérico que lhe valeu tantos inimigos. Os mesmos que da Esquerda à Direita, depois da sua morte se tentaram apropriar dele como mártir. Felizmente na morte como na vida, Pasolini era um gato selvagem. Nunca se deixou apanhar.
“Existir”, Yvette K. Centeno

Yvette Kace Centeno é uma poeta, romancista, tradutora e investigadora das religiões, símbolos e alquimias que escreve há mais de meio século, sem nunca ter pertencido a nenhum grupo, nenhuma paisagem bem situada, sem nunca ter sido um lugar fácil de habitar. À sua voz poética, solitária, dissonante, contida, trabalhada no osso na linguagem, muitos passa o atestado de óbito de “hermética”, que em Portugal é a o termo que se usa para designar algo que exige trabalho, luta, escavação no esmeril. Janela sem forma geométrica nomeável, não confundir uma poesia que mesmo na sua contenção sabe sempre para onde vai, com tanta mercadoria que se vende com o mesmo nome e é tão só uma forma de naufrágio.
Existir, é o mais recente livro desta autora, tão preciosa para quem gosta de uma poesia descarnada, cheia de silêncios onde cada palavra dita pode ecoar e, nesses espaços vazios captar símbolos, significados, ideias, sabedorias antigas, coisas escondidas. A poesia de Centeno, como a de Celan, que ela traduziu, é uma poesia que joga com a linguagem cifrada, as ondas concêntricas formadas pelos símbolos, que tem os olhos e os ouvidos no abismo do incomunicável. Este livro não é exceção. “Bebem no leite da mãe/um odio ancestral tão antigo/que faz do outro/ o inimigo/ sem direito a existir…/oferendas de Caim/a um Deus indiferente/nem cordeiros imolados/nem do deserto/as serpentes/aguarda este deus sentado/na nuvem da eternidade/que um dia se chegue ao fim/não repetirá o erro/ de criar mundos iguais/na água nem mais um peixe/nem na terra os animais/o Éden será despido/nem árvores/nem sementes/nem verbos primordiais.”
“Diálogo com a Gravidade”, Ushio Amatsu

Dialogo com a Gravidade, do bailarino e coreografo japonês Ushio Amatsu é de uma beleza translucida, finíssima, que dá medo tocar porque parece escrita na água. Nas águas primordiais do planeta, nas água primordiais do útero materno. Um objeto raro que nos dá a conhecer Amatsu para lá da sua obra no mundo da dança (os seus espetáculos admiráveis, onde a dança contemporânea se cruza com o folclore japonês e o Butô costumam estrear no Thèatre de Ville, em Paris). Mas, ao mesmo tempo a edição deste livro em Portugal, mostra-nos a importância da existência de editoras independentes que arriscam sair dos trilhos das frases batidas e riscam do seu vocabulário palavras como “popularidade”, “fama” ou “prémios literários”. Ao publicar este pequeno livro Vasco Santos, editor da VS, dá-nos a possibilidade de dialogarmos com Amatsu ( a VS acaba de lançar também Interpretação do Tango, do espanhol Ramon Gómez de la Serna, apostando no cruzamento da literatura com as artes performativas).
Começamos por ser um organismo unicelular, depois fomos girinos, nadámos no fundo do mar com amonites, até ao dia que colocamos a patas terra e depois apenas os dois pés. Dois pés, uma plataforma de escassos centímetros que emerge da noite dos tempos, alarga, povoa continentes, cria comunidades, cultura, arte. Um ser que contraria a gravidade e dança. Somo um animal que dança com o corpo, o espírito, cujo corpo está em tensão ou distenção e, consoante esse jogo de equilíbrios, cria movimentos que transformam o espaço e o tempo.
O Dialogo com a Gravidade de Amatso é poético, filosófico, antropológico porque, para ele a dança permite que tanto bailarinos como público renovem a memória arcaica do seu começo ontogenético e filogenético:
“posição do pé na faixa entre a terra e o mar/em frente, estendendo-se a perder de vista o horizonte/por baixo uma efervescência de peixes/que desde as profundezas sixam a superficie das águaa/os seus inumeraveis corações fazem um grande alarido (…)“.















