Índice
Índice
O detentor de um magno segredo que pode mudar o rumo da História é assassinado por um frio e implacável hitman tatuado que recebe instruções de uma poderosa organização secreta de inspiração místico-religiosa. Outras pessoas que, de algum modo, tiveram acesso ao segredo são eliminadas sucessivamente. Robert Langdon, professor de simbologia e iconologia religiosa em Harvard, vê-se envolvido no imbróglio e uma infeliz combinação de equívocos e urdiduras faz com que pareça estar implicado no(s) crime(s), de forma que, além de ter de decifrar uma série de charadas que permitirão deter uma conspiração à escala mundial e combater a seita maligna por trás dela (e que o toma como alvo), tem também de iludir a perseguição das autoridades. Na sua fuga/busca, que passa por vários monumentos históricos e pontos de interesse turístico, tem a cumplicidade de uma mulher atraente e inteligente, mas, apesar da óbvia química que se estabelece entre ambos, no final Langdon volta à rotina de professor universitário solteiro.
É uma sinopse de Origem, o quinto volume da série iniciada em 2000 com Anjos e Demónios, mas, com alterações de pormenor, é também a sinopse dos outros quatro volumes – Dan Brown escreve há 17 anos o mesmo livro. Cada tomo tem um “Grande Tema” e um roteiro turístico próprios, mas, de resto, pouco muda.
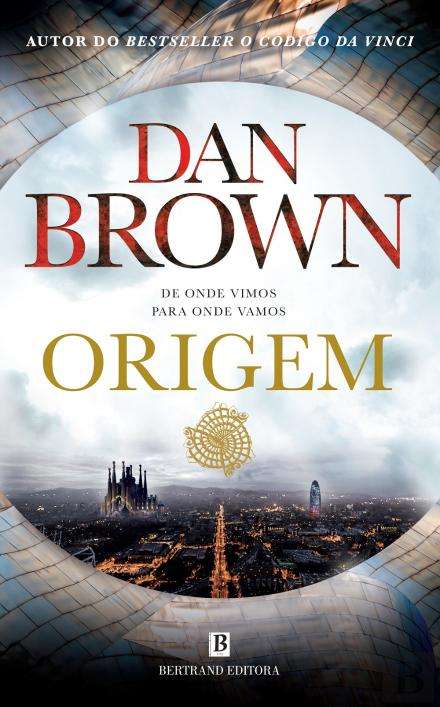
“A Origem”, de Dan Brown (Bertrand)
Spoiler alert: nas considerações que se seguem será revelada informação que poderá comprometer a fruição da leitura de Origem.
O cenário: Uma Espanha de fancaria
A Fórmula Dan Brown® combina ingredientes de thriller com um roteiro turístico que parece ter por alvo o americano ignaro que identifica a América Central com o Kansas e confunde Rimbaud com Rambo. Poderia não ser intenção do autor quando iniciou a série, mas, empurrado pelos sucessos dos livros e dos filmes deles adaptados, o roteiro turístico associado a cada livro acabou por ter concretização real, com as agências turísticas a oferecer pacotes de viagens aos locais e monumentos históricos mencionados no enredo. O Turismo de Portugal poderia pensar em aliciar Brown a trazer Langdon a Portugal: Sintra e o Mosteiro de Tomar proporcionam múltiplas oportunidades para charadas esotéricas e mistérios dos Templários, os Jerónimos oferecem bastas oportunidades para elucidações históricas e perseguições trepidantes e o Panteão Nacional, que tem vindo a mostrar a sua vocação multiusos, é perfeito para acolher a cena climáctica em que Langdon decifra, in extremis, o enigma e derrota o vilão (mas não fica com a rapariga).

O Museu Guggenheim de Bilbao, ponto de partida para o roteiro espanhol de Robert Langdon
O Roteiro Origem® – que já deve estar a ser cozinhado por várias agências de viagem nos dois lados do Atlântico – tem três pólos, um em Bilbao – Museu Guggenheim –, outro em Madrid e arredores – Palácio Real de Madrid, catedral de Almudena, Escorial e Valle de los Caídos – e outro em Barcelona – Mosteiro de Montserrat, Parc Güell, Casa Milà (La Pedrera), Sagrada Família.

Palácio Real de Madrid
Percebe-se que a série Robert Langdon está a perder gás: o Brown dos primeiros tempos não perderia a oportunidade de ter Langdon em Espanha para promover também uma perseguição pelo meio dos encapuzados da procissão dos nazarenos na Semana Santa de Sevilha, uma decifração de mensagens ocultas nas esculturas do tímpano do Pórtico de la Glória na catedral de Santiago de Compostela, uma tentativa de homicídio-por-interposto-touro na Festa de San Fermín, em Pamplona, uma luta de tomates explosivos na Tomatina de Buñol.

Origem é também uma “Arte Moderna para totós”: Robert Langdon entra em cena a contemplar o “Puppy” de Jeff Koons, no exterior do Museu Guggenheim de Bilbao
As personagens indígenas proferem, de tempos a tempos, expressões como “Cielos!”, mas a Espanha de Origem faz pensar menos na Espanha real e mais naqueles países europeus ficcionais que figuravam nos filmes de Hollywood dos anos 30 ou 40 ou na Sildávia dos álbuns de Tintin.
Brown toma a liberdade de inventar uma realidade política para Espanha, que assiste à passagem do poder do rei moribundo, aconselhado pelo bispo Antonio Valdespino, para Julián, o príncipe herdeiro quarentão, que está noivo de Ambra Vidal, directora do Museu Guggenheim de Bilbao. É um país dilacerado por um “profundo dilema religioso”, que se encontra numa “encruzilhada política”, dividido entre um impulso progressista e um sentimento de que “o país só poderia ser salvo por uma poderosa religião estatal, um governo mais autoritário e a imposição de directrizes morais mais claras”. A fim de sustentar este cenário, toda a realidade política espanhola – Governo, partidos, aspirações independentistas da Catalunha, erosão da respeitabilidade da Casa Real por escândalos – é suprimida, dando a ver uma monarquia absolutista, em que todo o poder está centrado no rei, cuja família, diz-nos Brown, “detém a coroa há mais de quatro séculos” (não é verdade: o primeiro Borbón a subir ao trono de Espanha foi Filipe V, em 1700).

Mosteiro do Escorial: Dan Brown faz um fio narrativo passar pelo Escorial, mas o desvio é gratuito e não desempenha qualquer papel na economia narrativa
A Espanha de Origem “ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de poder pertencer plenamente ao mundo moderno” e nela a religião paira opressivamente sobre a vida quotidiana, com as mães solteiras a serem implacavelmente perseguidas pela comunidade e a buscar refúgio em conventos, onde acabam por suicidar-se.
Dir-se-ia que a pesquisa de Brown sobre Espanha se baseou em Spanish village, a célebre reportagem fotográfica que W. Eugene Smith publicou em 1951 na revista Time. Se tivesse consultado fontes mais recentes, talvez Brown compreendesse que a Espanha é hoje, apesar da espectacularidade de algumas manifestações públicas de devoção, um país mais laico do que os EUA de Brown, onde nenhum candidato presidencial que não vá à igreja todos os domingos não tem a mais pequena chance nas eleições. No que diz respeito ao fundamentalismo religioso e ao obscurantismo, é bem provável que a percentagem de espanhóis que crê que Adão e Eva tiveram existência real, que os eventos narrados na Bíblia devem ser interpretados literalmente, que o Apocalipse terá lugar durante o seu período de vida, que o Sol gira em torno da Terra, que os extra-terrestres andam a raptar humanos e que Elvis Presley está vivo seja bem inferior à que se observa entre os compatriotas de Brown. E que Barcelona e Madrid são tão dinâmicas e cosmopolitas como qualquer grande metrópole do planeta.
Outro aspecto curioso do livro é que, com excepção de Ambra Vidal, directora do Museu Guggenheim, todas as personagens espanholas do livro são membros ou funcionários da Casa Real ou agentes das forças da ordem. Cabe também referir que Origem dá uma imagem miserabilista das Forças Armadas espanholas: o almirante reformado Luís Ávila, que é o assassino tatuado de plantão, queixa-se de que “a marinha, a que dedicara a sua vida, deixara-o com uma modesta pensão de reforma que praticamente não lhe chegava para viver” (afinal não é um problema exclusivo dos Presidentes da República Portuguesa).
O tema: Religião vs. Ciência
No cerne da intriga de Origem está Edmond Kirsch, “futurista”, ateu, visionário e bilionário das novas tecnologias – uma fusão de Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Paddy Cosgrave, Ray Kurzweil e Elon Musk, com umas pitadas de Christopher Hitchens –, cujas pesquisas conduziram a uma descoberta científica cuja divulgação significará, automaticamente, o fim para todas as religiões do mundo – uma ideia tão pueril que só pode provir de quem não faz a mais pequena ideia do que é a religião e do que é a ciência.
Aparentemente, a tensão do enredo de Origem resulta do confronto entre a intenção de Kirsch de comunicar essa descoberta ao mundo e as maquinações de quem pretende impedi-lo de o fazer (depois há uma reviravolta e o leitor percebe que foi ludibriado por pistas falsas). Brown não pára de tentar empolar a relevância da descoberta de Kirsch ao longo do romance, levando o leitor ingénuo a esperar ouvir a detonação de uma bomba de hidrogénio. Afinal é só um traque: Kirsch desenvolveu um super-computador (um “computador quântico”, pois Brown faz questão de mostrar que tanto domina os segredos dos caldeus e egípcios como os mais recentes desenvolvimentos da ciência) a quem deu a missão de simular as condições na Terra há 4.000 milhões de anos para tentar averiguar se seria possível que a vida surgisse sem intervenção divina a partir de uma “sopa primordial” – e a resposta do super-computador foi “sim”.
Como Brown (e os seus assistentes e consultores) não fez pesquisa suficientemente séria, usou como ponto de partida para a simulação da evolução a experiência Miller-Urey.

Diagrama da experiência Miller-Urey
Em 1952, Stanley Miller e Harold Urey tentaram, inspirados pela menção de Charles Darwin a um “charcozito morno” que poderia ter sido o berço da vida, replicar aquilo que julgavam ser as condições na Terra pré-vida: submeteram um balão contendo água, metano, amónia e hidrogénio a calor e descargas eléctricas durante um dia – as reacções químicas produziram alguns aminoácidos mas não se materializou nenhuma trilobite, nem sequer uma modesta amiba. A experiência Miller-Urey costuma ser citada nos manuais de biologia, mas não prova rigorosamente nada sobre a origem da vida requerer ou não intervenção divina; para mais, investigações posteriores sugerem que a composição da atmosfera primeva definida por Miller e Urey poderia ter pouco a ver com a realidade. Ora, se as condições iniciais são incorrectas, como pode esperar-se que um computador – mesmo que, por absurdo, fosse infalível – chegar a uma conclusão correcta?
Miller e Urey foram os primeiros a tentar simular a “sopa primordial”, mas não foram os últimos e desde 1952 outros cientistas têm conduzido experiências da mesma natureza, com ingredientes e temperaturas diversas, sem, claro, chegar a qualquer resultado mais sofisticado do que aminoácidos. E hoje, muitos cientistas inclinam-se para que a vida tenha nascido não no “charcozito morno” de Darwin mas em fontes hidrotermais no fundo dos oceanos, com condições químicas e físicas completamente diversas das de Miller e Urey. Quem se interesse por estes assuntos tirará mais proveito da leitura de A espiral da vida: As dez mais notáveis invenções da evolução, de Nick Lane (Gradiva), que atravessa, sem intervenção do dedo do Todo-Poderoso, as várias etapas da vida na Terra entre o Eoarqueano (há 4000-3600 milhões de anos) e a aparição do Homo sapiens.

Fontes hidrotermais na Fossa das Marianas: já há algumas décadas que a especulação sobre a origem na vida da Terra se deslocou das águas mornas e superficiais para as profundezas escaldantes
Seja como for, a ideia de que um computador será capaz de rebobinar o fio da história ao longo de 4.000 milhões de anos e reconstituir, infalivelmente, as condições precisas do aparecimento da vida é de uma infantilidade estarrecedora. É uma ideia que só é superada em absurdo pelo pressuposto de que os crentes religiosos de todo o mundo, ao serem confrontados com a notícia de que um computador fizera uns cálculos e concluíra que a vida aparecera sem necessidade de intervenção de deuses, logo renegariam a sua fé e deixariam vazias as igreja e mesquitas.

“Criação de Adão”, detalhe dos frescos de Michelangelo na Capela Sistina, c. 1511
O tema, parte 2: A singularidade
Satisfeito com os resultados da simulação do passado, Kirsch pediu depois ao seu super-computador quântico que seguisse em frente e revelasse o que nos reserva o futuro – e então há uma comoção na assistência: em 2050, o Homo sapiens extinguir-se-á. Mas tranquilizem-se, não há motivo para alarme: o obsoleto símio dará lugar a uma mirífica fusão homem-máquina, a “singularidade” anunciada por Ray Kurzweil e encarada como possível, desejável e até inevitável por milionários de Silicon Valley e Indústria 4.0 e gurus da Web Summit e que foi explanada e extrapolada por Yuval Harari no delirante Homo Deus, editado este ano em Portugal (ver “Quer tornar-se num deus? Pergunte como a Yuval“).

Raymond Kurzweil, um dos mais inflamados profetas da fusão “homem-máquina”, em 2006, no Singularity Summit, na Universidade de Stanford
A segunda parte do grande segredo de Kirsch é, afinal, a história-da-carochinha do radioso amanhã hiper-tecnológico que anda a ser contada há anos pelos ciber-profetas: “um futuro em que a tecnologia se tornava tão barata e tão ubíqua que eliminava todas as diferenças entre os seres humanos. Um futuro em que as tecnologias ambientais proporcionavam água potável, alimentos de qualidade e energia limpa a milhares de milhões de pessoas. Um futuro em que doenças como o cancro […] eram erradicadas, graças à medicina genómica. Um futuro em que o impressionante poder da Internet era finalmente dirigido para a educação, mesmo nos mais remotos cantos da Terra. Um futuro em que as linhas de montagem robóticas libertavam os operários de trabalhos embrutecedores, permitindo-lhes perseguir objectivos mais gratificantes em campos em que inovadoras tecnologias criavam semelhante abundância de recursos cruciais para a humanidade que lutar por eles deixava de ser necessário”. Um futuro em que “olharemos para trás, para o actual Homo sapiens, da mesma forma que olhamos agora para o homem de Neandertal. Novas tecnologias, como a cibernética, a inteligência sintética, a criopreservação, a engenharia molecular e a realidade virtual [faltaram a domótica, as apps, as cidades inteligentes e a “internet das coisas”, tão caras às futurettes], alterarão para sempre o que significa ser humano” (nesta rósea antevisão ficou por esclarecer uma questão candente: será que os best sellers do futuro continuarão a ser tão beras como os de Dan Brown ou a inteligência artificial poderá dar uma mãozinha?)
O tema, parte 3: A inteligência artificial
Mas se Origem, ou melhor, o seu protagonista, Robert Langdon, parece abraçar com agrado a “singularidade”, há uma sombra que persiste neste cenário radioso e que há anos é tema recorrente em livros e filmes de ficção científica: e se a inteligência artificial toma o controlo das operações? E se a máquina suplanta o humano? Brown faz surgir essa nota discordante através de Winston, uma interface muito humana (demasiado humana?) do super-computador quântico, que é como uma versão aditivada da Siri e é quem orquestra boa parte da acção do romance, na qual Langdon, Ambra Vidal, o almirante Luis Ávila, a Casa Real e as forças de segurança espanholas são meros joguetes. Winston foi criado e programado por Kirsch para cumprir os seus desígnios, mas a partir de certa altura, faz uma interpretação muito livre dos passos a dar para os atingir (um pouco como o HAL de “2001: Odisseia no espaço”). É verdade que, quando os atinge, Winston põe, como previsto, termo à sua própria existência, sem sombra de relutância ou “apego à vida”, mas a sua actuação não deixa de instaurar inquietação em Langdon, a única personagem que se apercebeu das manigâncias de Winston.
Quando discutem os perigos da inteligência artificial e da robótica, os escritores de ficção – e Langdon não é excepção – tendem a centrar-se no cenário em que “as máquinas tomam o poder”. É um caminho pouco produtivo: a possibilidade de se conceber uma máquina com livre-arbítrio que suplante o homem é remota; em contrapartida, há avanços bem mais prosaicos na inteligência artificial e na robótica que já estão entre nós e a serem postos em prática que poderão lançar o mundo no caos (ver “Robôs: Que fazer com toda esta gente supérflua?” e “A ascensão dos robôs: Até onde podem chegar as máquinas”).
O livro termina em tom optimista e ecuménico, com Langdon na Sagrada Família ao entardecer, “rodeado por pessoas de todas as fés, cores, línguas e culturas, todas a olharem para o céu com um sentimento partilhado de maravilha… todas a admirarem o mais simples dos milagres. A luz do sol que incide na pedra”. E então Langdon tem uma epifania saloia, em que sente que o pensamento religioso, de que o homem tinha vindo a afastar-se progressivamente, começou a “regressar a casa”.

Interior da basílica da Sagrada Família: “A luz do sol que incide na pedra” proporciona a Langdon uma epifania
O thrill: Alguém o sentiu?
Os romances de acção de Dan Brown – como os da série Tomás de Noronha, do émulo português de Brown, José Rodrigues dos Santos – têm, na verdade, muito pouca acção, sendo a maioria das suas páginas preenchidas por prelecções escolares e maçudas, algumas ministradas pelas personagens umas às outras, outras proferidas pelo narrador (ver Manual de criptografia para escoteiros). Não há suspense que resista à constante irrupção de verbetes de enciclopédia para jovens e considerações decalcadas de guias turísticos.
Quando o general Franco é mencionado pela primeira vez no romance, a acção suspende-se e uma voz off começa a salmodiar: “Implacável, violento e inflexível, Francisco Franco ascendera ao poder com o apoio militar da Alemanha nazi e da Itália de Mussolini. Matara milhares dos seus opositores antes de tomar o controlo total do país em 1939 e se proclamar Caudillo, o equivalente espanhol a Führer. Durante a Guerra Civil e os primeiros anos da ditadura, todos os que se atreviam a opor-se a ele desapareciam em campos de concentração, onde se calcula que foram executadas trezentas mil pessoas”. E quando se menciona en passant o Parc Cervantes, em Barcelona, Brown logo se apressa a acrescentar que foi assim baptizado em homenagem “ao mais célebre romancista espanhol, o autor de Don Quijote”. Ficamos, de passagem, a saber que o dito parque tem quatro hectares, nenhum dos quais é relevante para o enredo – na verdade o Parc Cervantes é referido apenas para balizar os extremos da Avenida Diagonal, que, por sua vez, só é mencionada porque Langdon sobrevoa parte dela de helicóptero, quando vai da Casa Milà para junto do estádio do Barcelona F.C.
Talvez o leitor americano menos informado sobre o mundo exterior aos EUA engula estas pílulas sem pestanejar, mas o que pensará um leitor espanhol ou português destas elucidações infantis sobre Franco e Cervantes?

Casa Milá, da autoria de Antoni Gaudí: Não sabe o que visitar em Barcelona? Dan Brown dá sugestões
Em Origem o problema da falta de thrill e excesso de tagarelice é ainda mais grave do que nos romances anteriores: Langdon e a maioria das personagens passam o tempo a olhar para écrans de smartphones, tablets e computadores e monitores de câmaras de videovigilância, a fazer e receber telefonemas e a consultar e-mails e websites, o que acaba, ironicamente, por reflectir a forma como o cidadão do mundo desenvolvido de hoje passa os seus dias, no trabalho ou no lazer. O cerne do romance acaba por estar na espécie de TED Talk extra-longa ministrada por Edmond Kirsch. Entre as duas partes da soporífera apresentação multimédia sobre o admirável mundo novo, há uns tiros e uns pescoços partidos, umas decifrações de charadas, umas pessoas que não são quem parecem, uns twists e suspenses metidos a martelo (como quando o smartphone de Kirsch, que seria, supostamente, o único acesso à 2.ª metade da apresentação, cai – numa situação inverosímil – do terraço da Casa Milà e se espatifa lá em baixo).
É previsível que alguns entusiastas de O Código Da Vinci irão deixar a meio o frouxo quinto tomo da série. O que não salvará Barcelona de receber um acréscimo de turistas americanos a querer ver o túmulo de Gaudí na Sagrada Família, e de haver gente de calções XXL e T-shirts do Hard Rock Café a acorrer ao Escorial, na esperança de poder fazer uma selfie com um Borbón ou até de coroar o périplo espanhol com um jantar no Panteão dos Reis de Espanha.














