“minha mãe me disse que a carla
mora morta embaixo da terra que é
a casa dos mortos ao mesmo tempo que o céu
______também, mas o céu
guarda a parte viva da pessoa, aquela coisa que
não morre nunca, não a saudade,
a saudade é amor e é dos vivos,
estou falando da coisa viva que fica nos mortos,
______minha mãe chama de:
— alma.”
Apesar de poder parecê-lo, aquilo que acabou de ler não é poesia. Não é, sequer, um romance em verso. É uma outra coisa, um híbrido que Aline Bei domou e tornou seu. Um estilo de escrita que chama a atenção para si mesmo, baila, move-se, serpenteia pelas páginas, como uma atriz — algo que a escritora brasileira já foi e, reforça, nunca deixará de ser — em palco.
Com O Peso do Pássaro Morto, lançado em 2017, Aline Bei começou a levantar ondas no panorama literário brasileiro, conquistando o Prémio de Literatura de São Paulo. Três anos depois, A Pequena Coreografia do Adeus fez dessas ondas vagas de fundo, levando-a até aos finalistas do Prémio Jabuti, tornando-a uma das mais populares escritoras do país. Foi a propósito da sua vinda a Portugal para participar no festival Utopia e da edição da sua obra de estreia pela Infinito Particular que o Observador falou com a autora natural de São Paulo.
Este livro deve o título a um episódio traumático na vida de Aline Bei, quando a mãe lhe passou um frágil pássaro para as mãos, que morreu do choque. Em entrevista, diz que apesar dessa ser a inspiração, em nada a vida da protagonista desta história — anónima, votada a um silêncio que a consome — se assemelha à sua, rejeitando o rótulo de autoficção tão em voga. “Às vezes uso uma estratégia que é de memórias compatíveis: se a minha personagem viveu alguma perda que eu nunca passei — pode ser qualquer perda, que eu tive muitas também —, então quais delas eu posso usar, quais nos aproximam, em que lugar eu posso olhar a minha personagem nos olhos?”, conta.
Ao longo da conversa, torna-se patente a utilização repetida de expressões como “interesse” e “pesquisa”, como se Aline Bei juntasse uma diligência quase académica à prosa descarnada que coloca nas páginas — na “folha”, como chama. Tal deve-se talvez ao seu percurso no teatro, a sua formação original antes de se dedicar às letras: tal como o ator estuda a personagem para entendê-la e corporizá-la, Aline sente-se como um veículo para transmitir figuras que já faziam parte de si, mas que precisavam dos gatilhos certos para surgir.
Para tal, a escritora de 37 anos recorre a um estilo de escrita atípico, que a própria admite ser inspirada pela poesia concreta de autores brasileiros como Décio Pignatari e Augusto de Campos. Não sendo poeta, como faz questão de realçar, foi beber a esse espírito livre e aventureiro, propondo-se a um “jogo” narrativo que a própria admite não saber como irá acabar. Numa extensa conversa, Aline Bei fala sobre como fez nome a vender livros pelas redes sociais, por que é que considera que ser uma autora “para mulheres” ou “do Instagram” são rótulos redutores e por que é que nunca mais vai ser “totalmente triste” ao ter descoberto a escrita: “Ajuda a elaborar coisas que, sem ela, ficariam num lugar muito escuro, muito sem nome”.
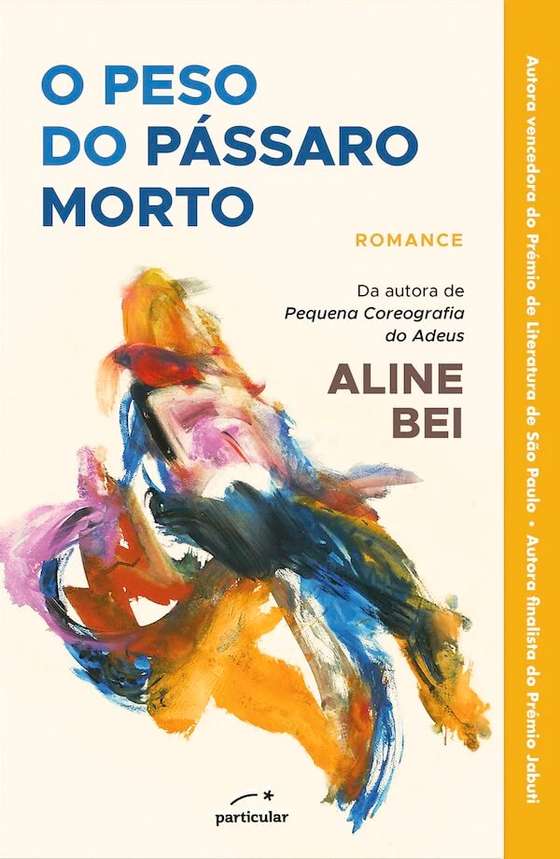
Diz não ter alma de poeta, apesar de escrever em verso, e tem dificuldade em chamar romances aos seus livros. Como é que caracterizaria as suas obras?
Gosto muito da palavra “texto”. É a que prefiro, porque acho que tem uma espécie de neutralidade e cria um lugar onde nos podemos apropriar. Quando eu era atriz, a gente chamava sempre ao trabalho de texto. “Você já decorou o texto?” Acho que esse modo de não definir logo o género dá liberdade. Essa questão da apropriação me interessa também, porque não coloco a literatura num lugar muito inalcançável. É um lugar de movimento, de elaboração, de trabalho e me remete à minha vivência no teatro, que foi muito prazerosa, onde aprendi a lidar com arte, com a palavra.
“Histórias” pode ser também uma palavra alternativa…
“Histórias” também é muito bom, mas com essa palavra nos comprometemos também com o enredo. “Texto” não se compromete com nada, a não ser com a estrutura da linguagem. É a palavra que eu sinto mais neutra de todas.
Escreve essas histórias onde a forma tem quase tanto peso quanto o conteúdo — aliás, modifica-o, porque a maneira como encadeia o texto influencia a compreensão do mesmo. Como veio parar a este estilo de escrita?
Surgiu mesmo desse meu primeiro momento na faculdade, comigo imaginando que era poeta. Comecei a escrever logo que entrei, no primeiro semestre, porque me envolvi num centro académico [núcleo estudantil]. Geralmente, cada curso no Brasil tem o seu e esses coletivos são muito fortes, são movimentos estudantis bastante engajados, não só política, mas também culturalmente. No caso do meu curso em letras, tínhamos a ideia de ter uma revista literária, algo que não havia, apesar de termos muitos escritores. E aí eu comecei a escrever para essa revista e logo tudo se agravou, no sentido de sonho mesmo, de perceber que era algo que eu podia fazer. Foi assim que aconteceu, só que comecei escrevendo o que eu achava que eram poemas. E esse “achismo”, essa ideia inicial que eu tinha do meu texto, me deu um início de liberdade para a minha prosa, que depois me comprometi a manter, porque senti que era um lugar onde podia encontrar minha voz, que é muito permeada pelo silêncio também.
Num texto que escreveu sobre o seu processo de escrita, pergunta-se “por que não enlouquecer a prosa um pouco também?”
Exatamente, porque a prosa talvez tenha uma rigorosidade ou uma espécie de armação mais fixa, que se repete livro a livro. Quando a gente abre livros de prosa, é muito comum ver essa estrutura, essas páginas, quase idênticas umas às outras, não no que elas representam, mas na forma mesmo, no modo como o olho se relaciona. E sempre me interessou um pouco cada página ser muito diferente da outra.
O seu estilo de escrita é muito visual, tem as manchas de palavras, os fragmentos, a pontuação atípica. Como é que se fixa um texto assim?
Tem a ver com a poesia concreta, que estudei também na universidade e que a coloca num estado quase das artes plásticas. A poesia já tem uma visualidade grande, mas a poesia concreta extrapola um pouco isso, rompe ainda mais com o que se espera, os versos são mais livres, e muito mais do que isso, estão numa procura plástica mesmo na folha [página]. Isso me interessou muito, acho que há uma experiência que gosto de convocar quando escrevo, que é essa experiência do olho na folha, o que essa troca do olhar no texto pode proporcionar de emoção. Algo que envolva a pessoa também — uma espécie de convocação da materialidade da palavra com essa tensão do desaparecimento do texto quando a gente se envolve numa narrativa. No geral, a prosa faz isso, ela desaparece — começamos a ler uma coisa e, quando damos por nós, estamos está dentro daquela história e meio que é isso, o livro “desapareceu”. No meu caso, ainda continua desaparecendo em algum sentido porque eu conto histórias e essas acabam envolvendo o leitor para um lugar de expansão interior, mas tem essa tensionalidade de uma palavra convocar o olhar para a folha.
Mas a palavra “convocar” que estava a usar é interessante porque um texto assim escrito também traz o próprio leitor para um papel de construtor de sentido.
Sim, e é também uma liberdade. Acho que nos temos de emancipar como leitores. Principalmente quando o autor é vivo, ficamos nessa demanda de tentar encontrar a justificação pela boca do autor, em entrevistas, em vídeos, ou às vezes pessoalmente. “Ah, porque você fez isso? O que isso significa?” É claro que o autor tem a sua hipótese ou intenção, mas isso não quer dizer que os leitores não possam ter as deles e que elas não sejam tão valiosas e verdadeiras. Não há uma verdade única nesse julgamento de um texto literário. O leitor tem toda razão, sempre, se encontrar os argumentos necessários para justificar essa hipótese que levanta. E aí, quando um leitor meu, por exemplo, me fala “mas porquê letra maiúscula aqui, sendo que nunca tem uma letra maiúscula?”, eu devolvo a questão: “porquê essa pergunta? Como você se sente em relação a isso?” E a pessoa vai tentar responder de acordo com a experiência que teve.
Em “O Peso do Pássaro Morto” a narradora é uma personagem anónima, e já mencionou antes que parte da razão para tal escolha foi para que os leitores tivessem uma certa identificação com ela. No entanto, o facto da personagem não ter nome alguma vez fez com que lhe imputassem aquelas experiências de alguma forma?
Com certeza. Há esse desejo porque o nome é uma borda [delimitação], ele isola e seleciona, e exclui também. Ao não ter nome, [a personagem] entra nesse lugar, em que todo o mundo pode ser essa mulher e ninguém é, fica uma espécie de fantasma que me interessou para essa história. Há um aspeto também que é muito duro: a gente conhecer a história dessa mulher ano a ano, salto a salto, mas não saber quem ela é de facto, não ter o rosto, não ter a materialização dessa figura. Isso também dialoga com as perdas que ela sofre, o modo como a gente lida com as violências, especialmente direcionadas aos corpos femininos. O facto dela nunca ter sido chamada por ninguém dentro do livro quase justifica o silêncio que tem, ao não ser vista. Tudo isso foi fazendo eu sustentar essa escolha que, num primeiro momento, se impôs pelo texto, não foi uma coisa que eu pensei fora ele. Mas o nome dela não me aparecia, não vinha, e eu fui percebendo que talvez fosse uma escolha estética e política fundamental para o trabalho.
Acompanhamos a personagem dos 8 aos 52 anos, por isso é óbvio que o leitor que queira encontrar paralelos entre si e a protagonista não vai poder fazê-lo, porque a Aline não tem essa idade. Além disso, já referiu várias vezes que não faz autoficção. Mas a minha pergunta é também no sentido de perceber se o facto desta narradora não ter nome já ter feito com que as pessoas pensem que certa experiência que colocou no texto é sua.
Essa experiência de leitura, de buscar o que é da autora ou do autor no texto, é uma coisa muito comum nos nossos tempos. Tinha a impressão que era mais no Brasil, porque quando a gente faz mesas e dá entrevistas, essa é uma das primeiras perguntas: “O que é teu no texto? É uma autoficção, é uma autobiografia?” No meu caso, é apenas ficção. Mas também aqui em Portugal, percebi não só por minha experiência, mas na participação de outros colegas, o quanto isso é uma curiosidade geral. Talvez porque a gente hoje tenha — não sei se é só de hoje, talvez seja de sempre — uma desconfiança com a imaginação, como se ela não pudesse ser algo que sustenta uma história.
Existe essa ideia pré-concebida de que só se escreve o que se viveu; como se viver nos permitisse dar esse sentido. Não é porque vivemos uma situação que vamos conseguir elaborá-la na linguagem com discernimento, profundidade ou distância. E muitas vezes, uma história imaginada [consegue isso], se for bem pensada, bem pesquisada, e bem vivida no corpo. E aí recorro às minhas experiências como atriz, porque nunca precisei de passar pelo que as minhas personagens passaram para tentar me aproximar do que elas viveram e fazer essa personagem acontecer no meu corpo. Às vezes, uso uma estratégia que é de memórias compatíveis: se a minha personagem viveu alguma perda que eu nunca passei — pode ser qualquer perda, que eu tive muitas também —, então quais delas eu posso usar, quais nos aproximam, em que lugar eu posso olhar a minha personagem nos olhos?

© DR
Alimentar-se desse sentimento, no fundo?
Exato, nos aproximar pela emoção. Vistas de cima, parecem completamente diferentes, mas se a gente aprofundar, percebe que as emoções têm a mesma raiz. É dessa forma que construo — não fico longe, mas não escrevo a partir da minha vida, de factos biográficos, nunca me prendo à minha idade, à minha classe social nem a nada dessas coisas.
Por vezes faz-se a ligação entre os escritores e a ação das personagens. Ou seja, se uma personagem é cruel, por exemplo, aquilo de alguma forma veio da personalidade do escritor.
Às vezes o escritor escreve contra os seus personagens! Mas mesmo quando a gente coloca um personagem numa cena muito ambígua, difícil de se relacionar connosco, é importante criar essa ponte, porque senão o autor ou a autora pode julgar esse personagem de cima e definir logo se ele interessa ou não. E é muito mais reveladora e profunda a experiência de um personagem humano, em que a nossa leitora ou leitor entre e reconheça até algumas semelhanças consigo, mesmo que não queira, nesses incómodos que a literatura fornece. Então é melhor não termos esse juízo de valor; é bom ter um projeto na cabeça, mas aprofundar essas humanidades na sua complexidade.
Já mencionou em algumas entrevistas que é uma escritora de obsessões. Em que sentido e de que forma é que se manifestam no texto?
A obsessão para mim tem um poder imenso que é deixar-me concentrada, e nem é porque quero, mas porque tem uma força própria. Acredito muito nesse tipo de engajamento: mais do que escolher os meus temas, também sou escolhida por eles. Tem de haver uma espécie de encaixe entre o que quero escrever e o que tenho medo de escrever porque me incomoda, mas percebo que isso também me quer e cabe na minha linguagem, vai fazê-la fluir na sua verdade mais profunda, mais forte. Então, é a isso que eu chamo de obsessão, é isso que nos persegue, são as coisas que acabam definindo também os nossos assuntos, as nossas escolhas dentro do texto, o nosso léxico, as nossas personagens que têm uma espécie de família também. Tudo isso faz parte destas obsessões. A gente usa a palavra “obsessão” muitas vezes num sentido ruim — uma pessoa que é obcecada por outra é alguém que lhe vai fazer mal —, mas eu acho que na arte ela tem um sentido muito mais de sermos convocados por uma força que é maior do que nós, que nos vai impelir a escrever coisas, em que vamos entrar por uma zona mais obscura, de desconforto, e que isso pode gerar uma espécie de luminosidade na escrita.
A arte não se faz sem obsessão? As pessoas têm de “marrar” com a cabeça na parede até as coisas saírem, não é por pura inspiração?
E esse tempo que a gente fica insistindo num texto pode durar muitos anos mesmo. A Pequena [Coreografia do Adeus], por exemplo, resultou de quatro anos de trabalho — e trabalho diário, não foi uma coisa feita com tempo de intervalo. Se você não tiver essa obsessão muito viva, você pode parar, porque tudo te pode fazer parar de trabalhar. A escrita é algo que você pode parar de fazer; não é uma cirurgia, onde você não pode largar a pessoa ali. É preciso ter essa força.
Tendo em conta a sua formação enquanto atriz, o seu estilo literário tem sido caracterizado como “literatura de performance”, onde entram noções de ritmo, musicalidade, espaço, cadência e oralidade. Como descreveria esta relação entre literatura e artes cénicas?
É uma relação profunda. Primeiro, porque vem dessa falta, acho que isso é o principal. Comecei a escrever a partir do momento que parei de fazer teatro, e essa paragem não foi exatamente uma escolha naquela altura. Eu era muito nova e tinha de ter uma outra profissão. Acabei fazendo a universidade com a ideia de ser professora de literatura e, de repente, a escrita se impôs como uma verdade que não conhecia no meu corpo. Foi muito importante, tanto que nunca mais parei de escrever e nunca mais voltei ao teatro. Mas não ter voltado não muda nada, porque a minha construção do “eu”, visto que comecei muito jovem, foi no teatro. A minha maior transformação cultural, o lugar onde aprendi a conhecer grandes autores, a conhecer o meu corpo, muito mais que na escola e no ensino médio, foi na escola de teatro, que me formou como ser humano.
Tendo por base essa relação, como é que trabalha as personagens?
Há muito de uma escuta de alguma coisa que está em mim, uma espécie de pressentimento de pessoa que ganhando espessura com o passar do tempo. Às vezes tenho uma visão, como quando passa uma pessoa na rua que nem vi completamente bem. Isso geralmente interessa mais. Alguém que eu vejo passar de uma determinada forma, um modo de dizer, a luz, um cheiro, uma coisa que me leva para um espaço que não compreendo totalmente, mas que me deixa ali obcecada. E aí nasce uma situação. Por exemplo, no livro que estou a escrever agora, o terceiro, encontrei a minha protagonista em Buenos Aires. Era uma senhora que estava na rua fazendo uma coisa, olhei ela de costas e tive isso, esse pressentimento de pessoa. Fiquei alimentada por ela por todos esses anos. Faço pesquisa e me engajo com algumas artes plásticas, onde posso sentir certas cores, certos movimentos, às vezes vou ao cinema ou ao teatro e vou moldando essa personagem. Quando começo a escrever, ela já está muito viva. É aí que as coisas começam a acontecer, porque é na linguagem que ela encarna. O modo como ela fala, as palavras que usa, as situações que vive, mas que não vão defini-la como um todo, é muito mais um recorte de situação do que um recorte de existência. Costumo dizer isso nas oficinas de escrita: se eu tenho uma personagem que está em casa de camisola, ela é uma pessoa; se eu coloco essa mesma personagem na praia de biquíni, ela é outra. Vemos as coisas pela fresta, não é?
Quer isso dizer que tem de estar sempre disponível para captar alguma coisa? Isso parece ser tão estimulante como cansativo…
Entendo, mas isso é porque talvez você esteja colocando isso num registo… talvez quase artificial, de eu precisar de me conectar com um trabalho. Não é. É orgânico. Não preciso estar acordada o tempo todo, porque as coisas me acordam. Posso estar num estado dormente, tranquila, de tédio, vivendo, mas alguma coisa acontece que me leva. Porque isso acontece com todo o mundo. Pode estar aqui e uma coisa te faz olhar diferentemente para algo, você não sabe exatamente porquê. Às vezes aquilo dura um instante, às vezes aquilo entra mais tarde. Não é um estado cansativo, muito pelo contrário. Quanto ao aspeto do prazer, concordo, porque tenho muito prazer em encontrar coisas. Mas não fico caçando. Apenas estou, — e é aí que isso me visita, que isso acontece. É natural para mim.
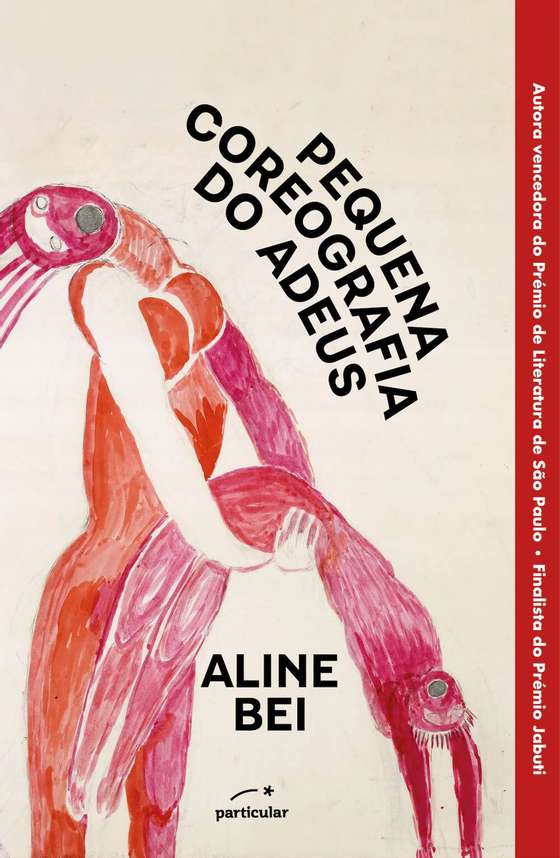
Está a preparar uma terceira obra que funciona como o encerramento de uma espécie de trilogia. E depois, como é que perspetiva a evolução da sua escrita?
Há uma espécie de jogo em que a escrita se tornou para mim — e que tem muito a ver com os jogos teatrais, com essa concentração do teatro e esse espaço do perigo que o palco tem. Porque se você não estiver muito vivo e presente, jogando, é engolido por algo que te dilacera, a gente fica extremamente vulnerável ali. Então, eu tenho essa noção de que eu estou lidando com uma coisa perigosíssima. Por outro lado, por exemplo, nesse terceiro livro que eu estou escrevendo, já conheço ele bem, já tem uma forma. Ainda vai ser trabalhado em algumas questões, mas ele já existe para mim em linguagem também. E ele tem outras questões formais, porque pega em tudo isso que estava sendo feito aqui [aponta para os dois livros], mas também tensiona [cria tensão] e problematiza. Tal como eu acho que A Pequena também faz com o Pássaro, ela pega coisas que esse livro descobriu, tensiona e constrói, se acanha menos nesse jogo que eu mesmo tenho colocado para mim. A Pequena está mais corajosa na folha.
N’O Peso do Pássaro Morto, sendo a estreia, tateou um pouquinho esse percurso?
Andei um pouco no escuro. Me perguntei “será que funciona?” Aqui n’A Pequena, já sabia que funciona, mas me questionei “e se a gente colocar mais isto aqui e isto aqui?” Acho que o erro, o descompasso, estão muito dentro do meu interesse, porque não quero criar uma narrativa de uma perfeição musical, mas de uma experimentação cénica, algo nesse sentido. E o próximo livro, então, também agrava, se distancia e se aproxima de coisas. Não acho que esteja numa espécie de ciclo retórico formal; estou, talvez, jogando um jogo que abri para mim e que eu mesma estou descobrindo quais são as regras, mas isso não vai criar uma folha idêntica sempre. Pelo contrário, isso vai criar muitos tipos de prosa que inclusive podem ser mais inteiriças, que é o que está acontecendo no meu terceiro livro — tem folhas muito mais povoadas de linguagem, de palavra, do que os dois primeiros. Isso não quer dizer que eu estou me afastando do meu jogo; pelo contrário, estou viva nele.
A pergunta que fiz talvez seja um pouco injusta, porque nunca ninguém pergunta a um escritor convencional de prosa se a ideia de escrever parágrafos se vai esgotar.
Talvez porque o parágrafo já está tão normatizado que sabemos que não vai esgotar! (risos) E aí, quando a gente está criando alguma coisa um pouco mais fresca, temos a impressão que é mais frágil — e é mesmo. Por isso eu entendo perfeitamente a pergunta.
Formou-se em letras e diz que sempre gostou de escrever, mas nunca se tinha concebido enquanto escritora, nem lhe tinham dito que era possível sê-lo. Quando é que se deu esse clique?
A escrita para mim veio mesmo na faculdade de letras. Eu sempre amei ler, mas nunca tinha escrito. Achava que o teatro era mesmo o meu caminho e de alguma forma continua sendo, mas de um modo que eu não esperava. A escrita se deu a partir do momento que conheci pessoas da minha idade que escreviam, inclusive coisas que me emocionaram tanto quanto os textos que eu tinha como repertório. Não estou falando de imortalizar, de escrever clássicos, isso o tempo dirá o tamanho de cada artista, mas é possível escrever versos vivos que dão conta de um tempo e espaço que ainda não tinha sido tocado por ninguém. E isso me revelou a possibilidade da escrita e me mostrou também como um processo, como o teatro o é. A gente ensaia muito para uma peça entrar em cartaz e, quando entra, só aí estamos começando a descobrir de que material é feita. E aí depois de todo o tempo da temporada é quando você começa a encaixar-se no seu personagem. Então, mesmo já com o público ali, você está descobrindo, está sempre vivo ali, aprofundando o jogo. Eu me lembro de uma frase do Al Pacino, numa entrevista, dizendo que ele estava fazendo Ricardo III [peça de William Shakespeare] sem entender o Ricardo III, por meses e meses já em cartaz. E aí teve uma noite em que entrou em cena e entendeu, ali no escuro do palco. Comecei a escrever por isso, por achar que era possível — e foi.
Parece-me que os seus colegas também mostraram como se pode desmistificar o papel do escritor. Ainda o colocamos num pedestal, como se fosse algo inatingível.
Eu acho que a gente que gosta de ler tem um respeito imenso pela figura do escritor. Eu, até hoje, se vejo um escritor entrando, é como se fosse um padre, traz toda uma sabedoria. As pessoas claro que são sábias, todas ao seu modo, mas não podemos desumanizar nenhum trabalho. Todo o ofício é feito por alguém, uma pessoa que teve seus medos, que teve de enfrentá-los, que trabalhou forte para que aquilo chegasse naquele ponto. Acho que foi isso. Os meus amigos me mostraram que a escrita é algo que está no quotidiano, que é um direito das pessoas, que a gente não precisa escrever só obras-primas, que pode começar a elaborar uma palavra, que a construção de uma voz é alguma coisa que vai acontecendo ao longo de muitos anos, com erros e acertos. Não existe só uma escada que sobe, é algo muito cíclico. A gente às vezes acerta e às vezes erra, mas o importante é estar de pé para a luta, olhando a palavra nos olhos, sempre. E foi isso, foi uma grande descoberta saber que eu podia escrever, que o livro não era uma coisa pronta — não era dos mortos, era dos vivos.
Júlia, a sua protagonista de A Pequena Coreografia do Adeus, encontra na escrita a salvação para os traumas e agruras que sofreu. E para si, o que representa?
A Júlia tem um diário que se estabelece logo no início da narrativa, é uma companhia para ela, como foi para muitas meninas da minha geração. Essa escrita confidencial foi uma companhia, inclusive, incentivada pela família. Escuto muito a Tatiana Salem Levy falar sobre isso. O seu livro Melhor Não Contar também tem essa questão do diário da mãe, sobre essa escrita da intimidade em que as mulheres acabam sendo colocadas nessa gaveta, do género “escreva para você os seus segredos nessas coisas”. Mas no caso da Júlia, há também um desabafo, uma catarse, porque ela vem de uma família disfuncional e extremamente violenta, especialmente a mãe, que é fisicamente violenta. Ela não tem um espaço para o grito e, como é uma jovem entrando na adolescência, ele precisa ser dado, essa porta precisa ser batida, e ela vai fazendo isso pela escrita, sem perceber que é um ofício, como uma coisa que ela integra na rotina. Aos poucos, ela vai percebendo a escrita como uma vocação. Para mim, foi essa descoberta — eu não digo tardia, porque o que é tarde e o que é cedo? — aos 21 anos, tendo já um percurso de leitura muito anterior. A escrita não foi assim, mas quando ela se torna uma companheira, é algo que eu não quero mais abrir mão, porque é independente da qualidade do texto. Às vezes as pessoas me perguntam “você já sabia que era escritora porque o texto era bom?” Não existe escrever um primeiro texto bom, é cheio de problemas e clichés, um texto todo enroscado em si mesmo.
É o que todos os escritores dizem, “eu escrevi muita porcaria até chegar aqui”.
Eu já ouvi um Nobel como o Jon Fosse falando em entrevista “meus primeiros textos eram uma tentativa de algo”. São sempre. A gente tem de ter paciência com esses meninos, eles estão crescendo e vão chegando. Para mim, é muito mais um gesto. Deixou-me feliz perceber que nunca mais seria triste tendo a escrita (risos). Ou totalmente triste, porque a escrita sempre ia ajudar-me a elaborar coisas que, sem ela, ficariam num lugar muito escuro, muito sem nome.
Tendo a sua vida plenamente dedicada à arte, como encara estes tempos em que, por um lado, existe uma lógica tecnocrática que faz recuar a cultura para segundo plano e, por outro, temos os avanços tecnológicos a modificar a forma como é criada e apreciada?
É difícil. Ficamos na nossa equação pessoal tentando dar conta de algo que é a nossa vida prática e aí histórica e coletivamente a gente olha para fora também para ver como é que está todo o mundo. No meu caso, as redes sociais, por exemplo, foram e têm sido muito importantes. Eu sei que tem autores que não gostam e que é difícil para alguns se relacionar com isso. Não estou dizendo que não tem a sua carga bastante nociva também, mas eu acho que há um lado positivo.
Qual é?
É você ter a sua voz, conseguir falar com o seu público, poder dar notícias dos seus eventos, das suas inspirações. Porque eu também compartilho muito as minhas pesquisas, as coisas que eu estou interessada, as minhas oficinas, nas minhas redes — e recebo dicas de volta. É um diálogo que tenho tentado estabelecer de uma forma saudável para mim e para as minhas leituras. Quando lancei o Pássaro, vendia meus livros pela internet.
Como foi esse processo?
A primeira editora que tive no Brasil é pequena e independente, a Nós, e no início não tínhamos muitos livros nas livrarias — e mesmo que tivesse, isso não resolve coisa alguma, sendo uma autora jovem. Eu comecei então a comprar livros com a editora e vender pela internet. Mas eu não vendia esperando que alguém viesse entrar em contacto comigo, eu é que entrava em contacto com as pessoas, possíveis leitoras e leitores interessados, mandava mensagem privada, enviava pelo correio com dedicatória. Tudo isso só foi possível graças à internet em si, fez toda a diferença no meu processo. Vendi muitos livros dessa forma, fiquei trabalhando assim por cinco anos; ou seja, parei há pouquíssimo tempo mesmo. E hoje consigo ter a tranquilidade de saber que os livros já estão chegando e que eu participo em eventos e oficinas e consigo manter a minha vida prática. Mas não é fácil, não sei até quando isso continua. A gente está sempre na corda bamba, mas sei que vou ser escritora sempre! (risos)
Passou desse percurso como escritora numa editora independente e agora escreve junto de um dos maiores grupos editoriais do Brasil. Ainda mantém essa espécie de mentalidade guerrilha da aproximação ao leitor pelos seus próprios meios?
Eu acho que sim, é difícil a gente mudar completamente. Também tive de me adaptar um pouco, porque no início, quando eu entrei na Companhia [das Letras], comecei a vender A Pequena, eu mesma, como estava fazendo com o Pássaro. E aí eu tive de fazer uma reunião com as minhas editoras e elas me falaram “Aline, não precisa mais. Agora confia, a gente tem um modo de fazer o livro chegar às pessoas”. E eu recuei e vi que o livro chegava, não só porque a Companhia é uma editora que consegue colocar o livro em todos os lugares e em todas as livrarias, mas também porque o Pássaro já tinha feito uma cama de leitores que me ajudava a ter atenção com A Pequena. Então é uma construção de livro a livro, mesmo. Mas eu acho que essa proximidade é uma coisa que talvez venha do teatro, com todo o mundo tentando se ajudar, todo o mundo muito próximo, muito comunitário, porque também não dá para pagar tudo. A gente tinha de se ajudar entre si. Portanto, eu continuo com essa inclinação natural.
Estamos perante novas gerações de escritores que sentem naturalmente que a internet é uma forma de chegar a mais pessoas, construir leitores. Por outro lado, há a sensação de que ainda existe uma espécie de tabu quanto a recorrer às redes sociais, de que um escritor devia deixar o seu trabalho falar por si e que não devia “vender-se”. Como é que se sente que esta mentalidade tem vindo a evoluir?
É uma questão difícil. Eu não posso falar pelas outras pessoas, porque entendo quem tem esse pensamento e até estou de acordo, há um lado bastante sombrio nisso tudo. Mas para mim, era isso ou nada. Eu já tinha perdido o teatro pelo mesmo motivo de não conseguir viabilizar a minha vida prática, e não queria perder também a escrita — até no sentido de dividir-me entre as horas de pesquisa e de debruçamento no texto e outros trabalhos. Isso não é por pudor do outro tipo de trabalho, mas porque ele viola um tempo extremamente precioso para que um texto possa ser o que ele pode ser, para que ele cresça. É muito difícil escrever nas frestas [nos intervalos de tempo]. Claro que há muita gente que faz isso, mas é muito difícil, não sei se meu talento chega a tanto. Eu preciso de uma imersão muito profunda para que meu texto cresça.
Exige-lhe sempre muito tempo?
Demoro anos para escrever. Não sei o que isso significa, mas é o meu temperamento. Se eu tivesse uma vida de trabalho que atravessasse essas minhas horas, fico pensando como é que ia encontrar o tempo para escrever os livros que escrevo, onde e como seria. Mesmo na faculdade, quanto tínhamos várias obrigações — eu tinha um site de arte e cultura e trabalhava com outras coisas —, a minha escrita não tinha a mesma imersão que hoje tenho escrevendo os meus romances. Ou seja, é mais um sentido de tentar proteger essas horas com o próprio trabalho. Se tenho de “trabalhar” — porque vender os seus próprios livros é um trabalho “de livreira na sua própria livraria”, por exemplo —, então eu vou trabalhar na minha livraria, tentar viabilizar-me assim. E não me levando muito a sério, tentando pensar tudo isso como parte de um jogo maior e tentando trabalhar com todas essas frentes para viabilizar o meu ofício. Eu entendo os autores que pensam “poxa, o meu trabalho precisa ser encontrado pela força dele mesmo”, mas sabemos que não é tão simples assim. Há muitos livros que têm uma força impressionante e que não são encontrados, porque o nosso sistema literário é uma bolha. As livrarias são pequenas, poucas, em lugares específicos e elitistas das cidades, e o texto não chega. É meio um pouco essa angústia que me fez me movimentar nessa direção.
Já foi descrita como fazendo parte de uma “geração de escritoras dedicadas a fazer da literatura um instrumento ao serviço das mulheres”. Esta caracterização — da sua literatura ser feminina e para mulheres — é algo que abraça ou considera redutor?
Eu considero redutor, porque eu escrevo para as pessoas. Eu acho que todos os temas interessam a todas as pessoas. Se eu, como escritora, escrevendo sobre um corpo de mulher no mundo, me restringir aos corpos de mulheres no mundo [como leitoras], não estou criando um diálogo. Me interessa ser lida por pessoas, para que esses assuntos possam infiltrar-se no nosso inconsciente coletivo, porque isso não é um problema das mulheres, é um problema nosso, é um problema social. Essas questões todas — o racismo, o machismo, a homofobia — são questões de todas as pessoas, não só das minorias. Quando ficámos, por muito tempo, lendo textos de homens, colocando homens como protagonistas, em nenhum momento eu sentia que eu não fazia parte disso, que não podia me colocar na pele de um personagem que é um homem. Eu acho que a literatura extrapola essa questão do género, ultrapassa isso, para a gente refletir sobre o que há de mais humano em todas as relações. Então, eu acho redutor e acho que talvez se faz muito isso tentando colocar o trabalho das pessoas, da diversidade das escritores e escritores, em caixinhas.
Há um texto, por exemplo, onde há alguém a compará-la à poeta canadiana Rupi Kaur, até por causa da mancha gráfica dos seus textos. Esse artigo nem tinha uma conotação negativa, mas Rupi Kaur é criticada por alguns setores como sendo uma autora superficial, até porque é muito partilhada online. Até que ponto já se sentiu reduzida à ideia de “escritora de Instagram” ou “escritora da Internet”?
Eu não conheço o trabalho da Rupi ao ponto de trazer uma impressão — e ela é poeta, ainda por cima —, mas acho que nós, mulheres, somos desvalorizadas sempre, escrevendo dentro de uma estética normativa ou não. Vão encontrar um modo de colocar o nosso trabalho ou numa caixa ou inferiorizar, muitas vezes sem ler profundamente. Já lendo com o pé atrás, não é? Porque se uma mulher está experimentando uma coisa, então já se lê colocando a roupa do feminismo. Além disso, se mulher escritora não vende, é porque não é boa; se vende, também não, porque não é possível ser boa vendendo. Então essas vozes todas que são até cliché — eu acho que nós que já estamos no mercado há uns anos já escutámos muito disso —, já estão ruindo, escorrendo. Já se estão envergonhando, porque esse discurso vai se envergonhando a si mesmo. Se o seu trabalho tiver força, ele vai inclusive navegar contra isso com muita tranquilidade e vai sair do outro lado. Se não tiver, se afogue junto, porque é isso mesmo, entende? Eu realmente não coloco o meu tempo de artista nesse tipo de comentário vazio a respeito de uma obra quando eu vejo que alguém não me leu ou que leu o que gostaria de ver no meu trabalho, já tentando diminuir e desintensificar alguma coisa que eu sinto que é um projeto maior, uma tentativa de projeto. Eu continuo fazendo o meu trabalho! (risos)
Desde sempre que houve mulheres a publicar, mas a literatura foi um espaço tradicionalmente dominado por homens. Neste momento, essa hegemonia é disputada por cada vez mais autoras — e autoras de sucesso. Como é que encara este período?
Eu fico muito feliz, muito orgulhosa e otimista, porque eu acho que este é um momento onde as autoras, além de se ler, têm se apoiado muito na coxia [nos bastidores] — não só nesses momentos onde estamos em eventos juntas, conversando a respeito dos nossos livros, dos encontros, das ressonâncias dos trabalhos. Criámos uma rede de apoio importante.
Em que sentido?
Quando eu cheguei aqui, por exemplo, em Portugal, a Maria [Francisca Gama], uma das escritoras que fez a mesa comigo no Utopia, me mandou uma mensagem perguntando se eu precisava de alguma coisa, se eu estava bem. Eu acho isso muito bonito, porque é uma corrente de afeto. Ou seja, uma autora chega ao seu país e você já está ali muito prestativa. A Madalena [Sá Fernandes], que também foi uma autora que estava comigo na mesa, foi extremamente recetiva, eu me senti logo em casa. Ela também morou no Rio de Janeiro, conhece o Brasil e a gente ficou muito próximo. Às vezes, quando chegamos a um lugar, como aqui, num país que não é o nosso, ficamos muito admiradas e também com medo de não encontrar ressonância ou se sentindo sozinhas, se sentindo com a tal síndrome de impostora. Acho que toda vez que acontece uma coisa muito luminosa na carreira, a gente fica com muito medo. Então você ter essa rede de apoio das mulheres que estão escrevendo hoje, te acolhendo, te levantando, fazendo você esquecer essas coisas e te fazendo ir para o teu trabalho com esse corpo da coragem, é algo fundamental, que eu também tento promover sempre que posso as autoras que estão por perto.
No mesmo artigo que publicou sobre o seu processo criativo, fala em como, quando escreveu O Peso do Pássaro Morto, era “pura ingenuidade”, e que, com o reconhecimento público, acabou por alterar um bocadinho a forma como encara o seu “gesto estético e íntimo da escrita”. Como é que se caracterizaria neste momento?
É sempre difícil dar nome ao que fazemos, mas eu acho que hoje tenho mais consciência do meu trabalho. Quando eu comecei com o Pássaro, já escrevia há muitos anos, mas esse livro foi uma pergunta que eu me fiz — “será que é possível fazer uma história mais longa, com mais corpo, com enredo, com reviravoltas, dessa forma como escrevo?” Essas perguntas foram me guiando, mas depois também foram se dissolvendo na escrita, porque há um envolvimento grande com a história que eu estava contando. Mas quando eu comecei a escrever A Pequena, já o estava a fazer depois de ter publicado, e mais do que isso, depois de já começar a escutar o que as pessoas me diziam — não essas leituras vazias, mas os leitores com um comprometimento…
Feedback construtivo?
Exatamente, a crítica mesmo. O que é que acharam, como é que se sentiram. É aí que você começa a escrever, costumo dizer, com esse espelho à frente. Eu tento não fazê-lo, mas às vezes sei que esse espelho já está lá. Quando você ainda não publicou, você pode tudo, tem uma liberdade imensa. Mas quando você já publicou e tem uma obra como a minha, que tem uma seta, que indica um projeto e tem uma voz já, ou eu vou para muito longe ou continuo perto, mas estou sempre a trabalhar em relação ao que já foi publicado e escrito e isso tem um peso.
Uma primeira obra também vem de um lugar de pouca ou nenhuma expectativa. Tendo a obra constituída, construindo por cima desse trabalho, isso também influencia de alguma forma?
Acho que sim. Também é uma pena, porque seria bom que nada influenciasse, que nada pesasse, a não ser o próprio trabalho, mas essas vozes ficam na gente. Eu acho que é uma atividade de concentração, porque essas vozes não vão embora, mas quando estou lidando com material escrito, tento abafar ao máximo essas vozes e tentar me conectar só com o projeto. Então, é tentar lidar com uma coisa que antes eu não precisava lidar, que é isso que o primeiro livro nos dá. Eu acho que todo o primeiro livro das autoras e autores, sendo ou não incrível, tendo as suas falhas como acaba tendo, tem sempre uma luminosidade muito linda. Acho que isso mostra também algo para nós, que não ter público também tem uma beleza de romper com a cortina, alguma coisa adentrou. Agora, a partir daí, você tem de lidar com essa espécie de malabarismo, lidar com a expectativa.
Já passaram sete anos desde que lançou O Peso do Pássaro Morto. Como olha para este percurso que o livro teve na sua vida?
Eu sou muito grata. O Pássaro é um livro que me levou para muitos lugares e me leva ainda hoje. Passaram esses sete anos e é curioso porque foram os meus sete anos mais velozes, no sentido mesmo de acontecimento, não é? Eu acho que foram meus sete anos mais felizes, inclusive, porque comecei a viver um sonho, de facto, materializando na perspectiva profissional e lidando com todas essas coisas. Sete anos voaram e é muito doido que ele tem envelhecido sem envelhecer, porque é um livro que segue sendo muito lido no Brasil e em que eu falo constantemente, como se o tivesse publicado no ano passado. A Pequena é a mesma coisa, e vai fazer quatro anos. Fico muito feliz com essa durabilidade dos projetos, porque também na nossa contemporaneidade há um envelhecimento precoce das obras de arte, e eu não sei o porquê de tudo acabar tão rápido. A gente fica tanto tempo escrevendo um livro e às vezes três, quatro meses depois já está num lugar onde é pouco acessado na livraria, onde os leitores já começaram a se esquecer, por conta, claro, dos lançamentos que estão sempre acontecendo, os clássicos que a gente tem de ler, os nossos objetivos pessoais de leitura. Mas é bonito que no meio de tanto, os meus livros ainda estejam respirando.














