A Wikipédia diz que Branko é um “DJ e produtor” musical português, mas todos sabemos que a Wikipédia não é a melhor fonte de informação exata. Sim, Branko é um DJ e produtor musical. Sim, produzir, compor e tocar música ao vivo é o que o torna mediático. E no entanto, Branko, que tem como nome de batismo João Barbosa, não é só um DJ e um produtor musical, se calhar não o é sequer principalmente.
Tão importante quanto a faceta de criador é a faceta de investigador porque dificilmente a primeira existiria sem a segunda. São os ouvidos atentos e o olhar de analista que o levaram a propor e fazer uma série documental para a RTP sobre correntes musicais originais que estão a emergir em vários pontos do globo, das ruas de Lisboa às de Cabo Verde, das favelas e bairros de São Paulo aos recantos de Lima e Montreal, da metrópole do Gana (Acra) a cidades como Paris, Bombaim e Goa. São eles que o levam a ser uma espécie de “ajudante na comprovação de factos relativos à língua portuguesa e até a outros assuntos musicais a nível global” de Elias Leight, jornalista da revista musical norte-americana Rolling Stone. São eles que o levam a dizer o seguinte, questionado pelo Observador sobre as suas referências musicais: “Existem canções que fazem com que uma sonoridade passe a fazer sentido na vida de uma série de gente que nem sabia que aquilo existia. São portas de entrada para algo. Esses momentos de transição que fazem com que de repente uma coisa passe a ser normal para uma série de pessoas são músicas a que volto sempre para ouvir e tentar perceber como é que aquilo funcionou”.
Branko correu o mundo com os Buraka Som Sistema, grupo de que fez parte e que fez o seu último espetáculo em 2016, estando numa pausa prolongada sem data de regresso prevista. Hoje, apesar das diferenças musicais entre o que fazia com a banda e o que faz agora em nome próprio, aquilo que o move é ainda o mesmo: “a celebração da diversidade da cidade de Lisboa”, a transposição dessa diversidade para “a cultura, a música de dança, tudo e mais alguma coisa” e a mistura de estilos musicais das “zonas urbanas dos países que falam português em todo o mundo”. Essa mistura, que põe num caldeirão sofisticado o baile funk, o kuduro e o afro-house — só a título de exemplo –, é notória em Nosso, álbum que editará esta sexta-feira, 1 de março, e que começará a antecipar já esta quinta-feira, 28 de fevereiro, no clube B.Leza, em Lisboa. É uma mistura de Branko, só de Branko, e isso é importante.
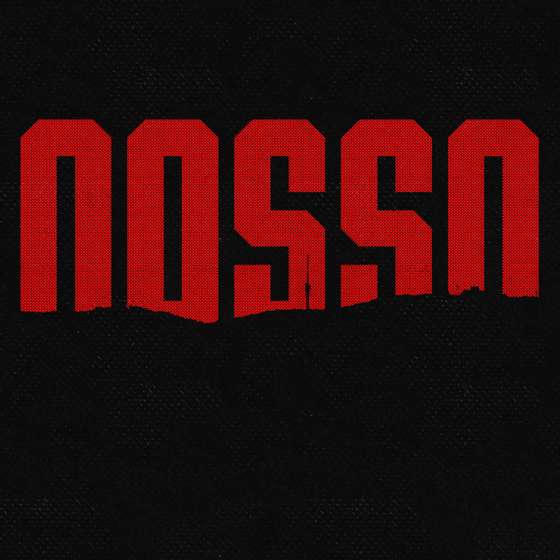
A capa de “Nosso”, o novo disco de Branko
Branko não é “O” rosto da música portuguesa atual, até porque não existe só um. É, contudo, um dos grandes embaixadores da música portuguesa e da Lisboa multicultural no mundo, alguém que tem vindo a impulsionar comunidades de músicos, cantores, DJs e produtores na sua editora Enchufada e fora dela. Se o convite para atuar no ano passado na final do Festival Eurovisão da Canção, em Lisboa, é um sinal simbólico de que fora do campo da música tradicional e da canção popular portuguesas (que esteve representada por Mariza, Ana Moura e Salvador Sobral) Branko é já uma referência, o convite que fez a Sara Tavares, Mayra Andrade, Dino D’Santiago e Plutonio para o acompanharem é sinal de que é ouvinte atento, defensor e ele próprio agente de uma “nova Lisboa” musical que cruza ritmos tradicionais africanos e lusófonos com a música urbana norte-americana (hip-hop, R&B, música de dança e neo-soul) a que a sua geração foi e é muito exposta.
[A atuação na Eurovisão:]
Foi no espaço de coworking para indústrias criativas do Village Underground Lisboa (VUL), em Alcântara, que Branko falou com o Observador. Foi também ali que o coletivo Enchufada instalou provisoriamente os seus escritórios, depois de um incêndio ter obrigado a obras no prédio do estúdio e escritório fixos da editora.
Sentado num dos autocarros da Carris recuperados para sentar clientes e residentes do VUL, o autor de Nosso falou de como não quer ser apenas “mais um DJ” mas sim “amplificar uma mensagem, uma visão minha”. Defendeu que é hora da “eletrónica entrar no diálogo normal da música com o rock e o hip-hop” porque “também há uma ideia de renovação do cancioneiro tradicional” na música de dança. Revelou que “foi a música” que o fez “querer ir à procura da diversidade e da diferença”.
Branko manifestou confiança que Lisboa esteja “a virar um epicentro da cultura lusófona” e que “daqui a dez ou 15 anos” o impacto da música lusófona no mundo possa ser semelhante ao da música latina, porque “há aqui uma forma diferente de pensar o mundo que se calhar ainda não teve uma voz mundial” senão no universo do fado. Confessou que prefere atuar às 21h do que de madrugada e que ele, João Barbosa, não quereria ver um DJ como Branko às 3h porque “é demasiada informação, demasiada viagem de sítios e geografias”. Disse ainda que a sua geração não cresceu “a achar que poderia ter impacto em todo o mundo”, mas que isso é possível, e deu o exemplo dos acontecimentos no Bairro da Jamaica como uma “estalada” e “dor de crescimento” que prova que ainda “não podemos estar nas áreas urbanas centrais de Lisboa a acharmos que Portugal é um país que celebra a diversidade” no seu todo.
Desde o álbum anterior Atlas aconteceram muitas coisas: festas, compilações, colaborações, pesquisa, uma série documental [Club Atlas]. Quando é que sentiu que era importante ou era necessário começar a pensar num álbum novo?
Há aí uma série de coisas que são, a meu ver, um caminho. Fiz o Atlas quando ainda estava Buraka Som Sistema a acontecer e foi um disco mais concetual, em que tive a ideia de passar uma semana em cinco cidades e cinco estúdios para criar — as coordenadas geográficas estavam fechadas nesse eixo de cinco cidades. O disco saiu em setembro de 2015, fizemos uma apresentação na ZDB e depois aconteceram todas essas coisas: noites novas, uma compilação, uma série documental sobre música e de investigação para a RTP2 e um momento relativamente especial no ano passado com a participação na final do Festival da Eurovisão com o Dino [D’Santiago], a Sara [Tavares], o Plutonio e a Mayra [Andrade].
Acho que tenho vindo a aprumar aquilo que é a minha ideia de música, o que quero fazer, qual é a direção. Isso acontece também porque tenho mais tempo: já não tenho Buraka a tocar todos os fins de semana. O momento em que fechei o ciclo de criação musical relacionada com o Atlas foi quando saiu a compilação Enchufada na Zona. O disco tinha saído, tinham saído uma série de versões — com remisturas –, tinham saído temas depois do disco como o “Reserva Pra Dois” [com Mayra Andrade] e andava a tocar aqui e ali, na Ásia, na Europa, um bocado por todo o lado. Toquei o Atlas desde em clubes para 50 pessoas a fechar o Vodafone Mexefest no Coliseu. Ao mesmo tempo ia fazendo música, porque acredito que se toco ao vivo tenho de criar uma experiência mais pessoal para as pessoas, tenho de tocar música que elas não possam ouvir com mais nenhum DJ, caso contrário sou só uma rádio ou um meio de amplificação da música de outras pessoas. O que quero amplificar é uma mensagem, uma visão minha.
E depois a compilação Enchufada na Zona…
Foi o último cartucho da viagem toda do Atlas e dos temas que fizeram parte de uma digressão enorme do disco, em que toquei versões editadas, remisturadas e versões que fiz de outras pessoas. Foi o ponto final. Depois da compilação pensei: qual é o próximo passo? Nessa altura, início do verão de 2017, foi quando comecei a pensar [num novo disco]. Já tinha muita música gravada e já tinha uma ideia concreta de que estava a acontecer um disco, mas foi depois de entregar a compilação que me foquei neste passo seguinte, deixando de fazer outras coisas.
Tinha um som claro e definido nos ouvidos, quando lhe começou a tentar dar forma? E que som era esse?
Sei onde quero começar e acabar, onde quero que o disco comece e termine: em Lisboa e no som que andamos aqui a tratar, a acarinhar e a desenvolver com vários artistas, já desde os Buraka Som Sistema. A ideia passa pela celebração da diversidade da cidade de Lisboa e de como é que isso se pode refletir a nível cultural, na música de dança, em tudo e mais alguma coisa. Esse é o eixo que exploro naquilo que é a minha contribuição para o meu próprio disco, que é em termos de produção, composição dos temas e arranjos, porque não canto. Tento sempre que o disco passe pela utilização de padrões de cenas musicais da lusofonia, seja afro-house, tarraxo, kizomba, baile funk. Todas estas canções são um flirt de alguma forma com esta mistura de géneros que são identificados com as zonas urbanas dos países que falam português pelo mundo todo. Essa missão já a tinha, depois tive de amplificar essa visão com uma série de vocalistas, pessoas, tendências e direções globais um pouco por todo o mundo, que vieram acrescentar a sua visão.

▲ Só até abril, Branko vai atuar pelo menos em Lisboa, Barcelona, Porto, Londres, Dublin, Berlim, Estocolmo, Rennes, Lund, Berna, Castelo Branco, Aveiro e Braga (@ ANDRÉ DIAS NOBRE/OBSERVADOR)
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
Qual é o vocalista que convidou para este disco que conhece há mais tempo? E aquele que conhece há menos tempo?
Colocando de parte os ‘portugueses’, porque é óbvio que tenho uma relação diferente com o Dino [D’Santiago] e com a Mallu Magalhães: uma pessoa que conheço há muito tempo e com quem já queria trabalhar há muito tempo é o Pierre Kwanders. Tenho uma relação forte com ele porque é uma das pessoas que organiza uma festa em Montreal chamada Moonshine. É uma festa ilegal, nunca se sabe onde acontece, eles é que enviam mensagem com o local. A festa é super cool e Montreal é uma cidade que tem uma visão muito independente e alternativa da música, acho até que tem vários paralelismos com o que está a acontecer em Lisboa. Queria fazer música com o Pierre Kwanders há muito tempo porque sinto que somos dois artistas no hemisfério norte que pensamos de forma global e incluímos o hemisfério sul na equação. Trabalhamos os dois em criação de pontes e conexões do mundo.
Há uma pessoa que canta no disco que nem sequer conheci: a Catalina Garcia, que é vocalista de uma banda chamada Monsieur Periné, que tem um single enorme do ano passado chamado “Bailar contigo”. Ela fez um story [publicação visível durante 24h] no Instagram em que me identificou, estava a dançar um tema do Atlas. Um vídeo super descontraído. Fiquei curioso porque comecei a receber muitos seguidores da América do Sul. Andei a tentar perceber o que era, pus-me a investigar e descobri uma cantora com uma voz super doce e super aberta, com uma perspetiva muito interessante do mundo e com vontade de colaborar e fazer coisas fora do universo dela, que é uma banda. Foi uma colaboração online, é a única pessoa do disco que não conheci ao vivo.
Um dos traços curiosos do que fará a seguir é apresentar este álbum em teatros. A música eletrónica nacional já entrou muito em blackboxes, mas não tanto na programação de cineteatros. Servirá para abrir uma porta a quem vem a seguir?
Fico muito feliz por conseguir marcar concertos em teatros, era uma coisa que já queria fazer há muito tempo. Acho que pode abrir portas no sentido em que é um espaço que não estava a ser utilizado e que acho que faz sentido utilizar. As pessoas podem questionar-se: ‘então aquilo tem cadeiras, como é que vamos dançar?’, mas acho que é importante. A música eletrónica durante muitos anos ocupou um espaço muito relevante de entretenimento à noite, algures entre as 2h e as 6h, com o público de copo de vodka limão na mão a levar com um DJ sem precisar de saber exatamente o que é que está a ouvir.
Sítios em que se pode cair meio de paraquedas, é isso?
Exato. Tudo isso é bom e mau. Sinto que nos últimos anos, de há um tempo para cá cada vez mais, as pessoas começam a perceber que existe também na música eletrónica uma ideia de renovação de cancioneiro tradicional da música ancestral de vários países do mundo, de tradições, culturas e padrões rítmicos. Esse tipo de música não encaixa necessariamente entre as 2h e as 6h, encaixa num público que está sentado a ouvir, a sentir, a analisar. Pode dançar ou não.
Para isto começar a ser tudo levado a sério esse espaço [teatros] tem de começar a ser ocupado, só aí é que entramos no diálogo normal da música com o rock, o hip-hop, o que quer que seja. O contexto em que a música é apresentada faz parte da minha evolução, é uma discussão que tenho muitas vezes com a minha agência. Às vezes há a ideia de que é espetacular fechar um festival às 4h, que a essa hora vai estar lá toda a gente, mas quero cada vez menos isso, acho que é muito mais interessante porem-me num festival às 21h. Haverão outros DJs muito mais qualificados para a narrativa das 4h, eu não sou esse DJ. Eu, João Barbosa, não me quereria ver como DJ às 3h. É demasiada informação, é demasiada viagem de sítios e geografias…
A sua música não é um bocadinho independente do contexto? Na última edição do festival Alive por exemplo resultou bem…
Exato, mas tenho um bocado essa luta [risos]. Às 2h no Alive ainda não é muito tarde, também.

▲ O DJ e produtor musical -- entre outras coisas -- vai lançar o seu segundo álbum (sucessor de 'Atlas') esta sexta-feira, 1 de março (@ ANDRÉ DIAS NOBRE/OBSERVADOR)
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
Não há convosco, Enchufada, e também com a Príncipe Discos, um reconhecimento externo que depois não se repercute inteiramente no circuito ao vivo nacional?
Quando penso nisso, a primeira coisa que me vem à cabeça é: inevitavelmente, de uma forma ou de outra, estamos sempre a falar de música alternativa. Não é a mesma coisa que um Diogo Piçarra, que está a fazer agora uma digressão nacional de teatros com um concerto acústico. Não é exatamente música pop, popular, para as pessoas irem, ouvirem e cantarem. Aqui estamos a falar de música que independentemente da forma como pintarmos a embalagem não é de fácil digestão. Não podemos pensar que um DJ desta fação já possa encher um Pavilhão Atlântico, mas se conseguirmos mudar um bocadinho a história…
As pessoas também compram mais habitualmente bilhetes para concertos do que para noites de clube. Nessas noites a maioria das pessoas chega à porta e acha que se vai resolver, depois nem sempre funciona porque há filas enormes. Depois quando está tudo pronto para começar alguma coisa já são 3h e já se perdeu alguma energia e atenção das pessoas. Temos de ver o cenário atual da música eletrónica não como um problema ou limitação mas como algo que devemos tentar perceber como contornar. Como é que conseguimos dar a volta? Se calhar com um tratamento diferente dos temas. Da mesma maneira que crio um tema 100% pista que uso para tocar nas noites “Na Surra” ou lanço numa compilação, sei que num disco não vou ter esse tema. Se calhar é preciso mudar um bocadinho a direção da criação musical se quero chegar além do clube, porque não é isto que me vai fazer chegar ali. Faz-me chegar a clubes de 300 pessoas pela Europa toda, não me faz chegar a clubes de 1000 pessoas. É preciso criar consoante o sítio a que se quer chegar e é preciso ir reinventando as coisas e ser criativo o suficiente para conseguir olhar de forma objetiva para o trabalho, tentar perceber como é que se consegue que ele se insira noutro circuito.
O que não implica apenas a sonoridade que se explora, certo?
Exato. Dou um exemplo: uma coisa que fez sentido para mim depois da criação do “Club Atlas” foi adicionar um universo visual ao concerto. Tinha tantas filmagens, tantos gigabytes incríveis de imagens de sítios onde criei música que não fazia sentido não usar e não juntar à viagem sonora uma viagem visual.
Não há aí nenhum desgaste com a vida de clubes [noturnos]?
Acho que há uma série de coisas que uma pessoa vai aprendendo e vai-se posicionando sobre elas. Pensando nas participações vocais do disco e nas pessoas que estão à minha volta, como o Dino D’Santiago — estamos todos à volta uns dos outros –, pensei: como trazer essas pessoas para esta narrativa, como fazer com que possamos contribuir para a história dessas pessoas e fazer com que a história deles possa contribuir para a nossa? Como aumentar um pouco todo este circuito? Quando se começam a ponderar estes fatores todos, começamos a perceber que nem sempre todas as atuações têm de ser da mesma forma e que se calhar o formato experimentado para o Atlas pode já não funcionar daqui para a frente com o Nosso. Para mim de repente faz sentido ter a Sara a cantar a remistura do “Ter Peito e Espaço” num concerto, faz sentido ter o Dino a cantar o “Nova Lisboa” ou o “Tudo Certo”, a nova canção. E faz sentido que isso seja bem recebido, que as pessoas não pensem ‘agora vem o senhor cantar, estava aqui bêbado e quero é que ele continue a tocar e toque cada vez mais pesado’.
Não estou cansado de clubes, atenção, continuo a achar que o clube é a minha casa. A “Na Surra”, que é a noite que temos no B.Leza, é dos fatores que mais influenciou uma série de decisões que tomei para o disco. A “Tudo Certo”, que fiz com o Dino, era uma canção muito mais calma, mas pensei: que tema é que quero tocar nas noites “Na Surra” que tenha também o Dino? Tinha que fazer esse tema porque ainda não o tinha feito, então agarrei numa canção que estava feita para um formato quase de kizomba e mudámos aquilo para uma versão com um ritmo mais house. Ele lançou o álbum dele lá [B.Leza], há uma série de coisas nossas a acontecer ali e o clube influencia diretamente tudo o que estou a fazer. Ao mesmo tempo acho que há espaço para tudo e tem de o haver também para diversificar.
[“Tudo Certo”, o single mais recente do novo álbum de Branko:]
Sente-se uma cola que une a “Nova Lisboa” musical de que se fala? Há alguns sinais de que é um rosto forte e aglutinador da música portuguesa atual: a Enchufada, as compilações de vários artistas que edita, atuar como o Plutonio, a Sara Tavares e a Mayra Andrade na Eurovisão ou o grande concerto que deu no Terreiro do Paço no final de 2018 com muitos convidados [além dos três com que atuou na Eurovisão, também Carlão e Cachupa Piscadélica].
Consigo reconhecer uma vontade de criar e fomentar comunidades musicais. Não posso ser eu a chamar-me o que é quer que seja relativamente ao processo de junção dos pontos desta equação, mas sinto que existe uma comunidade musical que está criada e que se está a desenvolver. É uma comunidade musical que sinto que está a celebrar a língua portuguesa de uma forma um bocadinho maior do que se a celebrasse apenas aqui: se colocarmos a Mayra na equação basta pensar no impacto que ela tem em países francófonos, no impacto que o Dino tem na Holanda e junto da diáspora toda cabo-verdiana, no impacto que a Mallu Magalhães, que vive aqui em Lisboa, tem no Brasil e em Portugal. Há uma série de coisas que estão a convergir nesta cidade que a meu ver dão indicações sérias de que isto está a virar um epicentro de cultura em português e lusófona. Essa ideia de epicentro tem muita força, consigo ver muito futuro para isso no mundo.
Penso muitas vezes no que está a acontecer agora com a música latina. Podemos parar para pensar nesta viagem do reggaeton que foi concluída em 2018 com a força de uma perspetiva sobre o reggaeton se calhar um bocadinho mais alternativa, não tão direta como a anterior — mais J. Balvin e Bad Bunny do que Luis Fonsi, uma perspetiva com um universo artístico mais definido. Acho que esse trajeto começou com o “Gasolina” do Daddy Yankee há 15 ou 16 anos. É um percurso muito interessante e sinto que pode haver um percurso similar para esta celebração da música de países da língua portuguesa. Se calhar daqui a dez ou 15 anos podemos estar exatamente na situação em que os músicos latinos estão agora. O “Bum Bum Tam Tam” do MC Fioti [o primeiro videoclip de uma canção brasileira a alcançar mil milhões de visualizações no Youtube] pode ter sido para a música portuguesa o que o “Gasolina” foi para a música latina. Isto é uma bolha gigante, está totalmente fora do meu controlo, mas a única coisa que espero é que o Nosso, o concerto no Terreiro do Paço e a Eurovisão sejam partículas que contribuam de alguma forma para que se identifique essa central de criação cultural de países que falam português pelo mundo fora. Acho que há uma forma de pensar o mundo diferente aqui e essa forma de pensar o mundo tem muito a acrescentar à cultura do mundo todo. Se calhar ainda não teve foi uma voz mundial a não ser no campo mais tradicional com o fado.
Sentiu o impacto da atuação na final da Eurovisão? É um programa visto em todo o mundo, com uma dimensão muito grande.
É incrível, os números são incríveis. Senti um bocadinho. Tinha um bocado essa noção e por isso houve algum trabalho para tentar que o impacto fosse canalizado para uma coisa boa para todos. A equipa do Dino, por exemplo, não estava minimamente pronta para avançar com o disco [Mundu Nôbu] dele nessa altura, em maio de 2018. Tentei transmitir-lhes o quão importante era que a canção [“Nova Lisboa”] estivesse disponível, que as pessoas ao usarem o Shazam [aplicação de identificação de canções através do som] a pudessem encontrar. O contrário seria desperdiçar uma oportunidade gigante de nos conectarmos com todas as pessoas que estavam sentadas em frente à televisão a ver — e tinha a certeza que as pessoas iam querer saber mais sobre o tema que ele estava a cantar.
No caso da Sara Tavares [a remistura de “Ter Peito e Espaço”] tratava-se de uma versão de uma canção dela anterior, que já tinha saído. A meu ver o original é que tinha de ser celebrado, não necessariamente a minha versão, quis simplesmente agarrar num momento original dela e transpô-lo para um universo com o qual conseguisse trabalhar, também com o Plutonio. A “Reserva Pra Dois” [com Mayra Andrade] era a canção talvez mais antiga, embora não fosse tão antiga quanto isso [lançada em 2016]. Seria também talvez a mais expectável de ser apresentada. Nessas três canções senti uma força enorme logo a seguir à atuação, em termos de números, de tudo e mais alguma coisa. Não sei se é uma audiência que ficou para perceber o que é que iria fazer mais da minha vida ou se foi logo embora, mas teve alguma piada.
Como é que surgiu a relação com a Rolling Stone, que estreou o seu single “Hear From You” e que publicou recentemente um texto sobre o Dino D’Santiago?
Foi através de um jornalista [Elias Leight] com quem já tinha falado várias vezes. É uma pessoa com quem falo muito porque pede-me regularmente a minha visão sobre alguns tópicos mais globais relativos à música — por exemplo, escreveu há pouco tempo um artigo sobre a Anitta, o baile funk, tudo isso. Eu sou quase um ajudante dele na comprovação de factos relativos à língua portuguesa e até a outros assuntos musicais a nível global. Numa dessas conversas falei-lhe do Dino e depois surgiu a ligação para falarem os dois sobre todas essas coisas desta “Nova Lisboa”.

▲ Branko fotografado no Village Underground Lisboa, onde instalou temporariamente um escritório para a sua editora Enchufada (@ ANDRÉ DIAS NOBRE/OBSERVADOR)
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
Estando atento ao que se passa em redor — também pelo seu empenho na criação de comunidades musicais, também pela atividade que tem como DJ –, acha que a música portuguesa está hoje mais eclética e diversificada, como alguns críticos apontam? Não apenas no universo das batidas eletrónicas.
Acho que há uma tendência mundial de celebração da identidade, de uma pessoa cantar e incluir a sua própria cultura, a sua vivência, no que canta. Há rappers americanos que se calhar nem sabíamos que tinham um passado latino e que começaram a assumi-lo, há o caso do Kanye West que foi para o Uganda, pessoas que foram à procura de coordenadas totalmente diferentes do mundo todo. Acho que celebrar a identidade e a diversidade é uma tendência mundial e acho que veio com a democracia dos números, com o facto dos focos centrais musicais já não serem tanto Londres, Los Angeles e Nova Iorque como o eram no passado. De repente outras cidades com muita gente como a Cidade do México e São Paulo passaram também a ser essas centrais, passaram a ter um impacto incrível naquilo que é a lista das 50 canções mais ouvidas no mundo inteiro. Agora temos essa consciência, a noção de que o “Bola Rebola” dos Tropkillaz com a Anitta e o J. Balvin, que saiu na sexta-feira passada [a entrevista aconteceu na segunda-feira, 25 de fevereiro], está neste momento no top 50 dos temas mais ouvidos no mundo inteiro ao lado da Ariana Grande e outros artistas pop norte-americanos.
E Portugal, como está?
Estamos a seguir o percurso e a direção internacional. Acho que se está a fazer muito mais música e muito mais música diferente, o que é importante. Se pensarmos no impacto que o Conan Osiris está a ter neste momento, acho que isso é óbvio. Haver espaço e uma comunidade de público pronta para receber essas experiências musicais é muito interessante, é também por isso que as experiências acontecem. O rap, por exemplo, tem o impacto que tem hoje em dia por causa das visualizações no Youtube, porque existe uma audiência pronta para o absorver lá. Hoje em dia o Sam the Kid lança um tema e esse tema é ouvido por mais gente e mais vezes do que se calhar qualquer tema do Pratica(mente), que é o disco mais marcante dele. Isso é muito forte.
[“Hear From You”, o single de Branko com Sango e Cosima:]
Perceber que há um público aí, pronto a ouvir, é um ponto incrível de ebulição de cultura. De repente há um David Carreira a chamar o Deejay Telio para um tema. Se calhar já podia ter chamado há mais tempo, ou já podia ter chamado uma série de pessoas, mas chamou agora porque sabe que isso vai dar-lhe visualizações no Youtube, vai dar-lhe credibilidade de rua. Quem está a fazer algo de original e diferente está a ir buscar visualizações para os artistas pop mais tradicionais, que neste momento não sabem bem para que lado se devem virar. Quando esses próprios artistas pop vão sair à noite dançam as músicas dos outros nas discotecas, não ouvem aquilo que queriam ouvir, então têm de ir buscar as coisas que ouvem e levá-las a fazer parte do que queriam fazer, para aquilo fazer algum sentido. Caso contrário é só uma coisa sem sabor, porque as pessoas já não se deixam enganar com muitos produtos pop. Porque é que não se deixam enganar? Porque muitos produtos originais já viraram pop.
A originalidade é um tema curioso: li uma entrevista antiga em que falava da estranheza que tinha com a fixação dos portugueses com bandas de versões, com a existência de programas televisivos de mimetização de outros cantores.
Sim, sim, “O Chuva de Estrelas” e coisas do género… Acho que aí há um complexo que é: nunca vou conseguir fazer algo de original que seja tão bom quanto isto, portanto em vez me esforçar e ir tentar criar cultura local vou seguir com a carruagem para a frente e continuar a celebrar a música que me chega. Acho que isso é preguiça, mais do que outra coisa qualquer. Na Alemanha e em Espanha, por exemplo, isso não existe.
A verdade é que ninguém aqui em Portugal da minha geração cresceu a achar que podia ter impacto no mundo todo com o que quer que seja. Fosse na área da tecnologia, da cultura, no que quer que fosse… Estávamos aqui fechados, os nossos pais são a primeira geração a conseguir não viver numa ditadura com tudo fechado. O trabalho deles conseguiu dar-nos uma vida um bocadinho melhor para nos abrirmos um bocadinho mais, mas acho que só na geração da minha filha é que [essa ambição] se vai sentir totalmente. A minha filha ao ver-me tocar no mundo todo provavelmente vai pensar que pode ser natural para ela fazer algo que tenha impacto nas cidades onde o pai foi tocar casualmente quando ela tinha 9, 10, 11 anos. Às vezes só funciona assim: não me expliques como é que se faz, dá-me exemplos, tem mais impacto.
[“Stand By” é um dos temas do novo álbum de Branko e conta com a participação de Umi Cooper:]
Falava de abertura e do impacto do Conan Osiris por esta participação no Festival da Canção, mas notou certamente que quer com ele quer agora com a Surma houve uma grande divisão de opiniões: de um lado compreensão e apoio, do outro resistência. Certo?
Acho que faz parte, sinceramente. Não vejo isso como uma coisa negativa. Acho que a forma mais simples de qualificar isso é: dores de crescimento. Há uma série de gente que não encaixa ainda [esses artistas], há uma série de gente cujos pais definitivamente não os encaixam e eles também não, mas pelo menos alguns já vão ver e fazem um comentário negativo. É um primeiro passo, alguém já ganhou dinheiro com eles irem odiar uma coisa ao Youtube.
Acho que é possível que essa pessoas mais resistentes venham a ter uma perspetiva um bocadinho diferente daqui a dez anos. Isto apesar de se saber que tudo o que tem impacto é sempre discutível: uma das coisas que percebi que funcionava desde o princípio com Buraka Som Sistema é que ninguém ficava diferente. Ou dizia-se mal, ou escrevia-se um comentário racista, ou adorava-se — só não se ficava indiferente. No caso do Conan Osiris e da Surma, como a Eurovisão chega a um público que não consome música maioritariamente original e criativa a presença deles acaba por rasgar um tecido orgânico. Isso tem que acontecer. Felizmente os cliques estão a acontecer e as pessoas estão a ver e ouvir.
Ainda se lembra das atuações no Clube Mercado, em 2006 [com Buraka Som Sistema]? Foi percetível logo aí o que os Buraka poderiam vir a ser?
A ideia do Clube Mercado foi um embrião para uma série de coisas. O primeiro EP From Buraka to The World, que depois virou quase um álbum — juntámos uma série de temas — , nasceu dessas noites no Clube Mercado. A música foi criada especificamente para ser apresentada ali: o “Yah” com a Petty, os temas instrumentais, tudo. Acho que uma pessoa só pára a vida para trabalhar para algo daquela forma quando sente que ali há uma energia diferente, que não se sente muitas vezes. Estávamos conscientes de que estava a acontecer ali uma relação das pessoas com o que estávamos a criar que era diferente e estava a ser representativa de alguma coisa. Sentia-se que era algo que não acontecia todos os dias. A nosso ver, isso ainda teve mais força pelo impacto de ser uma música que estava a sair da mistura das partes que compunham um grupo que era 50% angolano e 50% português, um grupo em que a parte 50% portuguesa também era 50% moçambicana. A cola era a Amadora, era aquele eixo dos arredores de Lisboa.
Todos estes 13 anos a seguir têm sido uma tentativa de celebração daquele momento em que percebi que conseguia fazer o que acho que tenho de fazer, aquilo que sinto e aquilo que represento no mundo, aquilo que é o meu contributo para a música em termos de inovação e de acrescentar algo novo. Também percebi que as pessoas querem muito mais ouvir essa história do que ouvir uma história de eu ser igual a mais um produtor de trap do planeta Terra — para isso já não há grande espaço.
Num documentário que foi feito sobre os Buraka Som Sistema, referia: “A nossa busca está relacionada com o que se está a passar no mundo atual fora dos principais circuitos musicais. É sobre descobrir cenas musicais locais novas e entusiasmantes, sobre beats de miúdos que não soam a mais nada que os outros estejam a criar”. O interesse pela diferenciação vem desde a adolescência? Surgiu antes da música ou com a música?
Acho que surgiu mais com a música, sinceramente. Não sinto que em miúdo fosse uma pessoa que fizesse nada diferente. Mesmo em termos familiares éramos uma família super normal a viver na Venteira, na Amadora. Os meus pais gostavam muito de viajar, então no verão metíamo-nos todos no carro e andávamos pela Europa toda a dormir em parques de campismo. Eu e a minha irmã no banco de trás sempre aborrecidos por estarmos a fazer milhares de quilómetros [risos], eles super contentes, a verem museus e coisas para as quais não tinha paciência [risos]. O porreiro disso é que nalguns sítios já havia McDonald’s, já havia coisas que davam um alento enorme: “vamos chegar a Madrid e vamos poder comer McDonald’s”… era uma coisa meio parva. Na minha vida sinto que foi a minha busca musical que me fez despertar a ideia de querer sempre ir à procura da diversidade e da diferença.

▲ João Barbosa (o nome de batismo de Branko) fez parte dos Buraka Som Sistema, grupo que teve êxitos internacionais como "Kalemba (wegue wegue)" e "Sound of Kuduro" (@ ANDRÉ DIAS NOBRE/OBSERVADOR)
ANDRÉ DIAS NOBRE / OBSERVADOR
O que é que faz com que o legado dos Buraka Som Sistema seja visto hoje de forma mais consensual? Mudanças sociais, música que apareceu depois inspirada na vossa sonoridade e a normalizou, o crescimento do hip-hop?
Acho que tudo isso contribuiu de alguma forma para isso. Há uma tentativa de mudança a nível social. Ainda não se chegou exatamente a esse ponto mas muita gente já o está a tentar, já o reconhece e já o pratica, ao mesmo tempo por exemplo que ainda há uma certa resistência em admitir que a banda sonora das principais rádios comerciais do país é a kizomba e que esta é culturalmente relevante em Portugal. As pessoas têm medo de assumir isso, é um bocado idiota. Acho que só agora isso está a cair em desuso, senti um pouco uma mudança de paradigma com o último disco do Nélson Freitas, já consegui ver os media a falar sobre esse disco. Anteriormente não se falava, era quase como se não se considerasse que aquilo fazia parte do circuito de música nacional. Espero que estejamos a progredir para uma ideia mais inclusiva, em que toda a gente possa participar nesta ideia cultural de Portugal.
Acho que Buraka Som Sistema teve um impacto grande na medida em que era uma coisa a que ninguém ficava indiferente. Também fomos tocar a muitos lados onde devemos ter sido a primeira atuação portuguesa urbana e não óbvia a acontecer, sítios a que possivelmente só tinham ido antes Xutos & Pontapés e Da Weasel. Os Da Weasel romperam mesmo o circuito e a segunda coisa mais urbana e diferente a ser vista à noite por jovens terá sido Buraka Som Sistema, que apareceu uns anos a seguir. Chegámos de uma forma meio lateral a sítios em que tocaram uns GNR, o Pedro Abrunhosa, fomos rompendo e depois quando chegávamos tínhamos muita gente. Lembro-me de ouvir conversas do promotor de Cantanhede, da Expo-Facic, de isto e daquilo, a dizer que tínhamos conseguido bater o recorde de pessoas…. Obviamente que à segunda e à terceira vez que fomos já sabíamos o que esperar, mas nas primeiras vezes não, havia alguma surpresa em sentir que se estava a trazer pessoas de um raio de 100 quilómetros à volta da cidade em que tocávamos.
“Ainda não se chegou exatamente a esse ponto”. Isso significa que ainda não se conseguiu aliar uma maior credibilidade destes estilos musicais a uma boa convivência social?
Se calhar o que se está a sentir agora é um momento de rutura e de mudança. De repente olha-se para as redes sociais e vê-se o cenário mais feio e de ódio com o que aconteceu no bairro da Jamaica, por exemplo. Existem hoje uma série de vozes ativas que já estão a chegar às pessoas. Acho que demorou muito a acontecer mas é o início de uma mudança. Vê-se uma série de gente solidária e uma série de gente que não está solidária — é importante fazermos um ponto de situação, não podemos estar aqui todos nas áreas urbanas centrais de Lisboa a acharmos que Portugal é um país que aceita a diversidade, celebra-a e está aberto a tudo e mais alguma coisa. Não é,passa-se para um centro urbano do Porto e a história já muda completamente. Mesmo aqui em Lisboa as coisas não são assim tão óbvias e é importante levarmos esta estalada — faz parte do processo e destas dores de crescimento, dores de evolução e de progresso, dores de mudança de paradigma social.
Que percentagem de tempo é que a música ocupa no seu dia? Que mais gosta de fazer?
Ocupa-me muito porque faço muito trabalho de escritório — tudo o que está envolvido com a Enchufada, de edições e eventos a curadorias que fazemos para festivais, por exemplo. Envio muitos e-mails… Ocupa-me muito tempo porque mesmo quando não estou sentado a fazer música minha, estou sentado a produzir música para outras pessoas ou estou sentado no escritório a tentar fazer com que a música de outros artistas consiga usar o veículo Enchufada para chegar a uma audiência.
Gosto muito de passar tempo com a família. Tenho uma filha e para mim é super interessante sempre que possível mostrar-lhe coisas do mundo, sítios onde fui, coisas a que achei piada, levá-la a viajar da mesma maneira que os meus pais me levavam. A última coisa pela qual me apaixonei — foi no início de 2017 — foi mergulho com botija, scuba diving. Tenho usado isso para ir a montes de sítios à procura de animais: tubarões, mantas gigantes e coisas do género. Quando penso em tempo livre associo sempre a isso, agora.
[“Over There”, com participação de Miles From Kinshasa, faz parte do novo álbum de Branko, ‘Nosso’:]
Depois de fazer e ouvir tanta música, ainda há artistas e canções que tenha como referências basilares?
Completamente. Existem temas crossover, canções que fazem com que uma sonoridade passe a fazer sentido na vida de uma série de gente que nem sequer sabia que aquilo existia. São temas que são porta de entrada para algo. De repente aquele álbum do Sean Paul, o Dutty Rock, fez com que o dancehall entrasse na vida de uma série de pessoas, de uma população geral que não faz música. Antes de Sean Paul, muitas pessoas se calhar só conheciam Bob Marley, num lado de reggae mais tradicional. Esses momentos de transição que fazem com que de repente uma coisa passe a ser normal para uma série de pessoas são músicas a que volto sempre para ouvir e tentar perceber como é que aquilo funcionou. Por exemplo a “Pon De Floor” de Major Lazer, da qual depois a Beyoncé fez uma versão, fez com que a música eletrónica de dança alternativa e com um feeling global entrasse na vida de uma série de pessoas. Ou um “Lean On” [de Major Lazer e DJ Snake], também…
Há uma série de referências desse género. Se calhar agora também acontece isso, aconteceu há muito pouco tempo com um tema como o “Cafeína”, do DJ Dadda e do Plutonio, que entrou nas rádios nacionais e chegou a uma série de gente. Acho que o “Kalemba (Wegue Wegue)” também foi um ponto de viragem. Por muito grande que o “Yah” e aquela primeira fase de From Buraka To The World tivessem sido, foi preciso vir o “Wegue Wegue” para aquilo chegar a um sítio a que não tinha ainda chegado.
[“MPTS”, um dos primeiros singles revelados do novo álbum de Branko:]
Como foi fazer o “Club Atlas” [série documental]?
Foi muito fixe. Era um sonho enorme que tinha, há muito tempo que pensava: um dia quero fazer um travel show, um programa de viagens como este. É um formato que acho que não é muito explorado aqui em Portugal. Concorri ao concurso de conteúdos que a RTP abre todos os anos e acabámos por ser selecionados para produzir a série. Havia várias formas de produzir aquilo, ou com uma produtora mais experiente que se calhar me faria perder um bocadinho mais de controlo sobre o produto final, ou tentando dar uma injeção de esteroides na Enchufada para a transformar também numa produtora audiovisual durante uns meses. Escolhemos a segunda opção.
Parámos um bocadinho com as edições nos primeiros seis meses de 2017 porque foi a altura das viagens, dos guiões, de tentar que tudo fizesse sentido. Foi um processo exaustivo mas quando chegou ao fim fiquei contente com o que saiu cá para fora. Acho que foi também uma experiência e um pontapé de saída quanto a novas formas de amplificação de toda esta mensagem, da ideia que está por trás da Enchufada e que estava por trás dos Buraka Som Sistema, da narrativa que andamos a promover há alguns anos. Existirão seguramente mais coisas, fiquei com vontade de continuar a criar formatos e ideias porque acho que consegui chegar a pessoas a que não iria chegar pela música. Acho isso interessante, pessoas que me dizem “eu nem conhecia nada mas vi o episódio de Lima e fui procurar aquilo tudo e estou super viciado, já comprei as compilações todas disto e daquilo”. Não sei se conseguia passar essa ideia dizendo só às pessoas que Dengue Dengue Dengue é fixe e está na Enchufada. Acho que não conseguia.
Só mostrando?
Só mostrando em televisão, num formato televisivo relativamente abrangente, porque aquilo foi pensado para televisão pública. Eventualmente poderia chegar a toda a gente que tivesse televisão em casa, não só pessoas modernas que compram uma box.
Vem aí agora uma digressão de apresentação do álbum, nacional e internacional. Há indícios de atenção externa, como a estreia de um dos singles na [revista norte-americana] Rolling Stone [que também publicou um texto recente sobre Branko e este novo álbum]. Quais serão os próximos passos e o que ainda há para conquistar?
O que ainda há para conquistar? Ainda há tudo… Estamos no início de uma viagem de afirmação musical do contingente de países que falam português no universo da música mundial. É muito interessante o que está a acontecer agora, mas tem de acontecer de uma forma estruturada e mais pensada, para garantirmos que daqui a dez anos estamos num diálogo com a música em espanhol, por exemplo. Isso faz parte do futuro e faz parte da direção para a qual as coisas estão a ir.
Em termos práticos e concretos, de dia-a-dia, vou tocar muito e estou muito focado em termos um ano na Enchufada com muitos lançamentos. O ano passado trabalhámos muito para termos lançamentos em 2019 e vêm aí lançamentos grandes de todos os artistas fulcrais da editora. Com isso vem também a ideia de tocarmos em conjunto. Para mim faz sentido que a partir do momento em que está cristalizada toda esta ideia de união da América do Sul, Cabo Verde, Portugal e Lisboa, levemos este pacote de vários sítios do mundo para conseguir com que as pessoas levem com o impacto disso tudo à sua frente numa só noite. O trabalho passará muito por aí, por desenvolver essa máquina de viagens. Paralelamente tenho muitos trabalhos em vista de produção para outras pessoas, estive a atrasá-los para que este disco pudesse acontecer. Estou numa fase em que estou com muita vontade de fazer coisas: ir para a estrada. Estou com vontade de fazer tudo e mais alguma coisa.
Não perguntem a Mayra Andrade sobre o futuro: perguntem-lhe o que ela quer cantar hoje












