Índice
Índice
Um fulano com barba e cabelo hirsutos brandindo um cartaz onde se lê “O mundo vai acabar”, perante a troça ou a indiferença dos transeuntes, tem sido uma figura satirizada pelos cartoonistas durante décadas, mas o estereótipo do profeta do apocalipse lunático e solitário sofreu uma recente renovação com a visibilidade pública do movimento Extinction Rebellion. O movimento, fundado na Grã-Bretanha há um ano e que ganhou notoriedade com as manifestações e actos de desobediência civil que paralisaram parcialmente Londres em Abril deste ano – e que teve um eco luso na interferência no discurso de António Costa na festa do 46.º aniversário do PS – tem como símbolo uma ampulheta, colocando ênfase na urgência de tomada de medidas urgentes para contrariar as alterações climáticas, antes que o clima do planeta chegue a um ponto de não-retorno (ver Os protestos em Portugal, as detenções em Londres e as ligações ao BE: Quem são os activistas que interromperam o discurso de Costa?).
“Os fins do mundo: apocalipses vulcânicos, oceanos letais e a nossa demanda para compreender as extinções em massa”, de Peter Brannen, foi publicado originalmente nos EUA em 2017, mas surge em Portugal, pela mão da Bizâncio (com tradução de Cristina Carvalho), numa altura que não poderia ser mais oportuna.
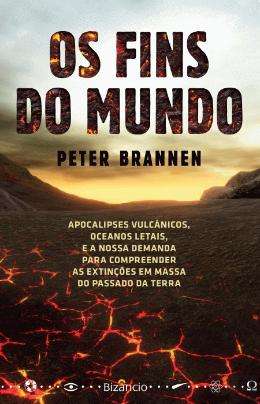
“Os Fins do Mundo”, de Peter Brannen (Bizâncio)
A morte veio do espaço?
A aceitação generalizada da teoria de que a extinção dos dinossauros, no final do Cretácico, terá sido causada pela colisão de um asteróide com a Terra, teve vários efeitos: estimulou o aparecimento de filmes-catástrofe que exploram a possibilidade de um evento análogo pôr termo à nossa civilização e predispôs os media e a opinião pública a associar a extinção em massa de espécies a perturbações abruptas com origem exterior à Terra.
A colisão com a Terra de um bloco de rocha de 10 ou 15 Km deslocando-se a uma velocidade de cerca de 20-40 quilómetros por segundo não só propicia longos minutos de fogo-de-artifício fílmico como é uma causa de morte fácil de apreender e instila nos cidadãos a ideia de que as extinções em massa são fenómenos que estão fora do seu controlo e responsabilidade.
Porém, a investigação paleontológica sugere que as restantes quatro das Cinco Grandes Extinções na história do planeta (e, segundo alguns autores, também a extinção do final do Cretácico) terão resultado não de eventos catastróficos de natureza extra-terrestre mas de alterações climáticas que provocaram a disrupção das cadeias tróficas e do equilíbrio dos ecossistemas; é também possível que essas alterações climáticas tenham estado ligadas a alterações na composição da atmosfera, o que faz encarar com apreensão o aumento de CO2 atmosférico resultante da queima maciça de combustíveis fósseis que está em curso desde a Revolução Industrial.

Evolução das emissões anuais de CO2 no mundo, por tipo de combustível fóssil, de 1800 aos nossos dias, em milhares de milhões de toneladas
O calendário do arcebispo
Em 1650, o Excelentíssimo e Reverendíssimo James Ussher, Arcebispo de Armagh e Primaz da Irlanda, pretendendo clarificar o debate sobre a idade da Terra, que se arrastava há séculos, estabeleceu, numa obra intitulada Annales Veteris Testamenti (“Anais do Velho Testamento”), que o mundo, tal como o conhecemos, fora criado a 23 de Outubro de 4004 a.C..
O cálculo assentava numa madura reflexão sobre as Sagradas Escrituras, e em particular sobre o livro bíblico do Génesis, e recorria a uma aritmética impecável: somava os 2082 anos decorridos entre a criação de Adão e a saída de Abraão de Ur para Haran, aos 910 anos entre a migração de Abraão e o início da construção do Templo de Salomão, mais 1012 anos entre essa “primeira pedra” e o nascimento de Cristo. Na época, não era consensual a estação do ano em que ocorrera a Criação: havia quem preferisse a Primavera, por razões óbvias, mas Ussher escolheu o Outono por nele ter início a contagem do ano pelos judeus. 23 de Outubro foi escolhido por ser um domingo, já que, como é sabido, Deus descansou das fadigas da Criação ao sétimo dia, um sábado.

James Ussher, por autor anónimo, a partir de retrato de Peter Lely, c.1654
A contabilidade de Ussher não diferia muito da que há muito era consensual entre teólogos, exegetas bíblicos e autoridades eclesiásticas, nem da cronologia aceite pelos mais respeitáveis cientistas do seu tempo (como Johannes Kepler), e mesmo a proposta para a Idade da Terra avançada alguns anos depois por Isaac Newton (1642-1727) apenas apresentava quatro anos de diferença.
Em meados do século XIX, os indícios de que a Terra e as suas criaturas não se teriam mantido inalterados desde a Criação começavam a avolumar-se, mas, ainda assim, em 1859, Charles Darwin teve de munir-se de grande coragem para contestar a visão estática do mundo fazendo publicar “A origem das Espécies”. Apesar de estar brilhante e solidamente argumentada, a teoria da evolução enfrentou forte resistência e houve mesmo quem, confrontado com os esqueletos colossais de criaturas desconhecidas postos a descoberto em pedreiras ou em aluimento de terras, argumentasse que aqueles tinham sido deliberadamente enterrados por Deus, com o fito de pôr à prova a fé dos homens.

Charles Darwin na capa do semanário satírico parisiense La Petite Lune, Agosto de 1878
À medida que a geologia, a geografia, a paleontologia e a biologia foram aduzindo provas de que a Terra era muito velha e passara por muitas metamorfoses, a cronologia de Ussher foi perdendo credibilidade, mesmo entre os teólogos, e hoje é consensual que a Terra se formou há cerca de 4.500 milhões de anos, que a primeira vida, unicelular, surgiu há 4.000 milhões e que os primeiros seres multicelulares surgiram há 580 milhões de anos e as primeiras plantas começaram a colonizar a terra firme há 470 milhões de anos.

A história da Terra, condensada e espiralada
O adjetivo “consensual” acima empregue carece de uma restrição: esta visão da história da Terra é consensual entre a comunidade científica, não entre os cidadãos comuns, pois entre estes – mesmo entre os que possuem 12 anos de escolaridade e até entre os que concluíram o ensino superior – há uma apreciável fração que continua a crer numa mundividência e numa cronologia que pouco diferem da do Arcebispo Ussher.

A criação de Adão, fresco de Michelangelo na Capela Sistina, c.1511
Guiados pela mão de Deus
Mas o mundo não se divide apenas os que crêem na teoria da evolução de Darwin e os que crêem numa interpretação literal do Génesis, que são hoje designados genericamente como Criacionistas da Terra Jovem (Young Earth Creationists). No século XX foi ganhando preponderância uma “terceira via”: a dos que crêem que as espécies evoluem lentamente ao longo de milhões de anos, mas que assumem que esse processo é guiado pelo Deus bíblico ou por uma Inteligência Superior não especificada. Esta crença, que tem sido designada por “design inteligente”, é afim da “evolução teística” proposta em 1876 por Asa Gray, professor de botânica em Harvard, que tentou conciliar a teoria da evolução com a visão religiosa.

Asa Gray, foto da década de 1870
Os extraordinários progressos formais no campo da educação e do acesso à informação realizados ao longo dos séculos XX e XXI parecem não ter alterado grandemente as perspectivas dos cidadãos comuns sobre evolução. Nos EUA, país que fica num honroso 8.º lugar no ranking mundial do Índice de Educação da ONU, um inquérito realizado em 2009 revelou 31% de crentes no criacionismo, 22% de crentes no design inteligente e 32% de crentes da evolução darwiniana – entre os cientistas, estas percentagens eram de 2%, 8% e 87%, respectivamente.
Nada surpreendentemente, as crenças dos cidadãos estavam fortemente correlacionadas com a sua frequência da igreja: a crença na evolução sem intervenção divina era de 34% entre os que nunca ou raramente iam à igreja, 9% entre os que a frequentavam uma ou duas vezes por mês e 1% entre os que a frequentavam semanalmente. Em consequência desta mundividência, 2/3 dos americanos são “da opinião que, se a evolução é ensinada na aula de ciências, o criacionismo também o deveria ser. Apenas 12% […] pensa que a evolução deveria ser ensinada sem que se mencionasse uma alternativa criacionista” (Jerry A. Coyne, em A evidência da Evolução: Porque é que Darwin Tinha Razão).

“O Jardim do Paraíso”, numa colaboração entre Peter Paul Rubens (figuras humanas) e Jan Brueghel o Velho (animais e paisagem), c.1615, é uma das pinturas sobre este tema que coloca mais ênfase na luxuriante fauna do Éden
Alguns europeus tendem, com alguma sobranceria, a ver o americano médio como alguém que acredita que Elvis Presley está vivo e não é capaz de nomear a capital da Suécia, mas a população de muitos países europeus também não dá mostras de grande discernimento: por exemplo, a Grã-Bretanha (10.º lugar no ranking mundial do Índice de Educação), contabilizava, num inquérito de 2006, 48% de adesão ao evolucionismo e 39% de adesão ao criacionismo e design inteligente.
Ainda assim, é indesmentível que o pendor criacionista nos EUA supera o de qualquer outro país industrializado e parece estar a aumentar, já que um inquérito de 2017 revelava que 38% da população declarou crer que “Deus criou o ser humano na sua presente forma num momento definido, há cerca de 10.000 anos” e apenas 19% entendia que o homem evoluíra a partir de outros seres, sem intervenção divina.

“A expulsão de Adão e Eva do Paraíso”, por Benjamin West, 1791
As 5 grandes extinções
1 – Extinção do final do Ordovícico
Quando: Há 445 milhões de anos.
Causas: Uma hipótese sugere que uma diminuição da actividade vulcânica e, concomitantemente, das emissões de CO2, fez a concentração deste na atmosfera cair de c.6000-4400 ppm (partes por milhão) para 2300-1000 ppm, causando uma queda da temperatura da Terra e a formação de vastas áreas de glaciares. Há quem sugira que o baixo teor de CO2 resultou, pelo contrário, de um aumento da actividade vulcânica, depositando grande quantidade de silicatos, que se ligaram ao CO2, removendo-o da atmosfera.
A possibilidade de ocorrerem glaciações com concentrações de CO2 atmosférico da ordem dos 2300-1000 ppm tem levado a que o sector céptico do debate sobre aquecimento global” tenha apontado como improvável que as concentrações de CO2 que hoje temos, de 410 ppm, sejam responsáveis pelo aquecimento global. Porém, é preciso ter em atenção que a concentração de CO2 atmosférico nos primeiros tempos da vida no planeta, antes de as plantas terem colonizado a terra firme, era muito superior à dos tempos mais recentes. Porém, muitos outros factores determinantes do clima eram, nesse tempo também diferentes: a concentração das massas continentais no super-continente Gondwana, centrado no Polo Sul, e a menor intensidade da radiação solar podem explicar este diferente comportamento. Há ainda a possibilidade de o aumento da actividade vulcânica ter libertado aerossóis que bloquearam a luz solar, induzindo a queda da temperatura apesar do teor relativamente alto de CO2 na atmosfera.

Evolução da concentrações de CO2 atmosférico nos últimos 540 milhões de anos, segundo a estimativa LOESS (a pontilhado) e a segundo a estimativa GEOCARB II (linha sólida a negro, com intervalo de erro a cinzento)
Durante o período glaciar, estando a água retida sob a forma de gelo, o nível dos oceanos baixou, reduzido significativamente a extensão dos mares pouco profundos que então cobriam parte do que é hoje terra firme e albergavam a maior diversidade de espécies.
Efeitos: Foram eliminadas 60-70% das espécies, incidindo os maiores estragos sobre os braquiópodes, crinóides e equinóides. As trilobites sofreram bastante, mas recuperaram e só haveriam de desaparecer no fim do Pérmico.

Reconstituição de um Orthoceras, um género de predador cefalópode nautilóide que dominou a fauna do Ordovícico
2 – Extinção do Devónico tardio
Quando: Há 374-359 milhões de anos. Ao contrário das outras quatro Grandes Extinções, mais localizadas no tempo, a do Devónico tardio estendeu-se durante 20-25 milhões de anos, tendo registado 10 picos distintos, sendo os maiores os do Evento de Kellwasser, há 374 milhões de anos, e do Evento Hangenberg, há 359 milhões de anos.
Causas: A complexidade e duração desta extinção faz com que a maioria das teorias explicativas tenham uma forte componente de incerteza. Uma possibilidade envolve a colonização da terra firme por plantas ao longo do Devónico, que terá intensificado, pela acção das raízes, a desagregação e desgaste das rochas, libertando grandes quantidades de minerais para os mares, o que terá fomentado o crescimento explosivo de algas que, ao morrer e decompor-se, terão consumido todo o oxigénio presente na água (anoxia). Este fenómeno, conhecido como eutrofização, não é frequente em oceano aberto mas é usual em águas pouco profundas e terá afectado sobretudo os extensos mares interiores típicos deste período. A eutrofização maciça explicaria os xistos negros – indicadores de condições de anoxia nas águas – associados ao Evento de Kellwasser.

Reconstituição de um Bothriolepis, um género de placoderme (peixe couraçado) abundante no Devónico
Ao mesmo tempo, o crescimento das florestas terá causado a remoção de 90% do CO2 da atmosfera, fenómeno reforçado pela fixação do CO2 aos silicatos libertados pelo processo de desagregação e desgaste das rochas. O baixo nível de CO2 atmosférico terá feito baixar a temperatura do planeta e aumentar a área coberta por glaciares, o que, por sua vez, terá feito baixar o nível dos oceanos e secar os mares interiores.
Brannen explana estas hipóteses, mas também dá crédito a uma explicação de sinal inverso: uma gigantesca erupção, no que é hoje o território da Rússia e Ucrânia, terá libertado para a atmosfera quantidades de CO2 suficientes para causar o aquecimento do planeta e a subida do nível dos mares. Brannen admite também que a extinção do Devónico tardio poderá ter sido causada pela alternância de períodos frios e quentes, mas estas explicações contraditórias dão antes a entender que sabe muito pouco sobre o que realmente se passou no fim do Devónico.
Efeitos: Este evento de extinção afectou sobretudo o meio aquático, causando o desaparecimento de 70% das espécies e a perda de 99% da área de recifes de corais, que ocupavam então 7.7 milhões de Km2 (dez vezes a área actual de recifes).

Reconstituição de um recife de coral do Devónico
3 – Extinção do final do Pérmico
Quando: Há 252 milhões de anos
Causas: Brannen apresenta como causa mais plausível os derramamentos maciços de lava que deram origem às Províncias Magmáticas Siberianas (ou Trapps Siberianos), uma área basáltica de 7 milhões de Km2 e que corresponde a um volume de 4 milhões de Km3, naquele que terá sido uma das maiores erupções vulcânicas da história da Terra. A libertação maciça de CO2 para a atmosfera terá induzido um aumento de temperatura de 5º C, através do efeito de estufa, e uma forte acidificação dos oceanos.

Intensidade da extinção de espécies marinhas (em percentagem do total de espécies) nos últimos 540 milhões de anos: O Ordovícico, S Silúrico, D Devónico, C Carbonífero, P Pérmico, T Triássico, J Jurássico, K Cretácico, Pg Paleogénico
A descida do pH dos oceanos terá, por sua vez, causado a libertação de grandes quantidades de metano (CH4) depositado no fundo dos oceanos sob a forma de hidratos de metano. Sendo o metano um agente do efeito de estufa várias vezes mais poderoso do que o CO2, as temperatura média do planeta aumentou mais 5º C. Estima-se que nos trópicos a temperatura média das águas tenha passado de 25 para 40º C.
É possível que as erupções siberianas tenham incendiado os enormes depósitos de carvão, petróleo e gás da Sibéria, contribuindo assim para o incremento da concentração de CO2 na atmosfera.

Moschops capensis, um terapsídeo herbívoro com mais de 2.5 metros de comprimento, que se extinguiu no final do Pérmico
Efeitos: Extinção de 95% das espécies marinhas, com especial incidência nas que eram dotadas de esqueletos de carbonato de cálcio (por efeito da acidificação das águas) e 70% das espécies de vertebrados terrestres, quase fazendo desaparecer o grupo então dominante dos terapsídeos (proto-mamíferos).
Foi o mais devastador de todos os eventos de extinção da história da Terra.

Pristerognathus vanderbyli, um terapsídeo com dimensões similares às de um gato, que se extinguiu no final do Pérmico
4 – Extinção do final do Triássico
Quando: Há 201 milhões de anos.
Causas: Entre as hipóteses em jogo, Brannen favorece a de derramamentos maciços de lava no centro de Pangeia (no que os geólogos denominam como Província Magmática do Atlântico Central, que cobre 11 milhões de Km2), ao longo de 600.000 anos, precedendo a desagregação do super-continente. Estes derrames de lava terão contribuído para o aumento do CO2 atmosférico e ter-se-á seguido uma sequência análoga à do cenário proposto para a extinção do final do Pérmico: acidificação dos oceanos, libertação de metano no fundo dos oceanos e agudização do efeito de estufa.
Efeitos: Extinção de 42% dos vertebrados tetrápodes terrestres, com especial mortandade num grupo de répteis que pode ser visto como antecessor dos modernos crocodilos. Estes proto-crocodilos, que eram então o grupo dominante, posição que seria herdada no Jurássico pelos dinossauros.

Postosuchus kirkpatrickii, um arcosauro (antepassado dos modernos crocodilos), com figura humana para comparação de tamanho. Os Postosuchus, que se supõe terem caminhado sob as patas traseiras, estavam entre os predadores de topo do final do Triássico e não sobreviveram à grande extinção no final deste período
Nos mares, os peixes não foram muito afectados, mas desapareceram metade das espécies de bivalves e todos os ictiossauros de grandes dimensões, embora estes dinossauros marinhos acabassem por recuperar e, durante o Jurássico, tivessem voltado a expandir-se em número, diversidade de espécies e nichos ecológicos ocupados.

Shonisaurus popularis, um ictiossauro que atingia 15 metros de comprimento e se extinguiu no final do Triássico
5 – Extinção do final do Cretácico
Quando: há 66 milhões de anos
Causas: Durante muitos anos proliferaram hipóteses das mais diversa natureza, mas hoje é genericamente aceite a “Hipótese Alvarez”, proposta em 1980 por Luis Alvarez e Walter Alvarez: um asteróide de 10-15 Km de largura terá colidido com a Terra no que é hoje a Península do Yucatán, no México, criando uma cratera de 180 Km de diâmetro, de que foram encontrados vestígios e a que foi dado o nome de Cratera de Chicxulub.

Zona de impacto provável do asteróide do Yucatán
O planeta terá sido varrido por mega-tsunamis e enormes quantidades de materiais, pulverizados pela violência do impacto, terão sido projectados a grande altitude, criando uma cortina de poeiras e aerossóis que impediu a passagem da luz solar e causou forte decréscimo nas temperaturas e na produção fotossintética. É possível que fogos devastadores causados pelo impacto tenham libertado grandes quantidades de CO2 para a atmosfera, contribuindo para o efeito de estufa e fazendo seguir o período de temperaturas anormalmente baixas por um período de temperaturas anormalmente altas.
A hipótese alternativa a que Peter Brannen dá mais destaque é a de que as erupções basálticas maciças que se sabe terem ocorrido na mesma altura no Decão (Índia), tenham libertado CO2 em tais quantidades que, através do aumento do efeito de estufa, tenham desregulado o clima e acidificado os oceanos.
Há quem entenda que estas duas hipóteses não são mutuamente exclusivas; assumindo que seria uma grande coincidência que dois acontecimentos catastróficos de grande magnitude tenham ocorrido independentemente, sugerem que o impacto do asteróide terá espoletado uma intensa actividade vulcânica por toda a Terra, nomeadamente causando os derramamentos de lava do Decão.
Efeitos: extinção de 75% das espécies, com efeitos particularmente devastadores entre os dinossauros, que então dominavam os ecossistemas terrestres e marinhos. Não sobreviveram tetrápodes terrestres com mais de 25 Kg de peso. No pós-catástrofe, os mamíferos, que tinham tido papel discreto durante o Mesozóico, ganhariam relevo e ocupariam o lugar dos dinossauros. Para se ser rigoroso, os dinossauros não se extinguiram todos – apenas os não-avianos – uma vez que um dos seus ramos deu origem às aves que hoje conhecemos (ainda que, claro, também os dinossauros avianos tenham sofrido pesadas perdas neste episódio de extinção).

Reconstituição de Quetzalcoatlus, dinossauros voadores do final do Cretácico: a sua envergadura atingia os 15 metros, o equivalente a uma avioneta
Um bêbedo ao volante
A teoria do design inteligente foi ironicamente descrita pelo biólogo evolucionista Richard Dawkins como uma forma de “readmitir pela porta dos fundos” a divindade que fora excluída da biologia e da história da Terra pela teoria de Darwin. Porém, quando se examina a tortuosa história da vida na Terra e, em particular, os catastróficos episódios de extinção em massa que a pontuam, pode perguntar-se que Deus é este que, para chegar ao Homo Sapiens – visto pelos criacionistas e adeptos do design inteligente como pináculo glorioso da evolução – ziguezagueou desvairadamente durante centenas de milhões de anos, muitas vezes em contramão, abalroando caixotes do lixo, veículos e barreiras policiais, e quase acabou com a vida na Terra por pelo menos cinco vezes.
A mão no volante da evolução não parece ser a de uma divindade omnisciente mas a de um bêbedo – e um bêbedo com pelo menos 2.5 gramas de álcool por litro de sangue.

Reconstituição de um Purgatorius unio. O género Purgatorius, de que se conhecem quatro espécies, é o mais antigo precursor dos primatas de que há vestígios: os fósseis mais antigos têm 63 milhões de anos. Tinha 15 cm de comprimento, pesava 37 gramas e é difícil discernir nele traços comuns com alguém no nosso álbum de família
A marcha da vida na Terra não foi, como pensam os adeptos do design inteligente, um sereno caminho de aperfeiçoamento gradual, um laborioso e ordeiro trabalho de cinzelagem e polimento em direcção a um fim claramente definido. Embora se mova, genericamente, da menor para a maior complexidade, a evolução da vida é confusa e emaranhada e tanto avança numa direcção como noutra, arrepia caminho e recomeça de novo, repete “erros” e reinventa coisas que já inventara antes (como o olho, um “dispositivo” que surgiu independentemente em grupos de animais completamente diversos em diferentes momentos no tempo).

Reconstituição de um Plesiadapis tricuspidensis. Os Plesiadapis, descendentes dos Purgatorius, terão vivido há cerca de 55-58 milhões de anos. Se o Criador pretendia, desde o princípio, “fazer” um homem, como se explica que, 530 milhões de anos depois de ter “desenhado” as primeiras criaturas multicelulares, não tivesse nada melhor para apresentar do que um esquilo gigante?
Se o plano de Deus era chegar à (suposta) excelência do Homo Sapiens, qual a razão de, há 275 milhões de anos, ter feito evoluir os terapsídeos (antepassados dos mamíferos) a partir dos pelicossauros e de lhes ter dado o domínio da terra firme para, 25 milhões de anos depois, os ter exterminado e voltado a conceder preponderância aos répteis, primeiro apostando nos crocodiloformes mas arrependendo-se e punindo-os severamente, 50 milhões de anos depois, para fazer então dos dinossauros os reis incontestados do planeta durante 144 milhões de anos, antes de lhes fazer tombar em cima um asteróide e de lhes pôr o Decão a borbulhar com lava basáltica, e reabilitar os mamíferos, então umas criaturas discretas e insignificantes, do tamanho de ratos ou doninhas, que viviam escondidas em tocas?

Foram precisos mais 30 milhões de anos de experiências para o Criador decidir que o Homo Sapiens não precisaria de uma cauda. Reconstituição de um Proconsul, um género de primatas que viveu há 23-25 milhões de anos e que é, provavelmente, o antepassado dos símios antropóides como o homem, o chimpanzé ou o gorila
Não é de estranhar que alguns criacionistas abominem a teoria do design inteligente, pois esta pressupõe, face às provas da paleontologia, um Deus meio idiota e assaz cruel, que aprimora hordas de novas espécies para depois, num acesso de ira, as estorricar em erupções vulcânicas apocalípticas ou soterra sob um manto de gelo ou gasear com sulfureto de hidrogénio.
Claro que, chegados a este ponto do debate, os adeptos do design inteligente podem argumentar que “os caminhos do Senhor são insondáveis”, mas este é um argumento desonesto, que invalida qualquer discussão – é uma estratégia cobarde e pueril tentar fazer valer o seu ponto de vista através de factos e da sua apreciação racional e, quando se esgotam os argumentos, recorrer ao golpe baixo da inescrutabilidade dos desígnios divinos.

Mais uns milhões de anos a matutar e o Criador concluiu que a postura erecta seria o que mais conviria ao homem (e à mulher). Uma reconstituição de Lucy, uma Australopithecus afarensis que viveu no que é hoje a Etiópia, há 3.2 milhões de anos
O Bom Selvagem era afinal um carniceiro?
Para lá das Cinco Grandes Extinções, há que considerar o fenómeno de extinção em curso desde o final do Plistocénico: há cerca de 50.000 anos, os grandes mamíferos e as grandes aves começaram a extinguir-se a uma velocidade vertiginosa (em termos de tempo geológico) e essa onda de extinção coincide, no tempo e no espaço, com o alastramento das tribos de Homo Sapiens pelo mundo. No caso de algumas espécies, as alterações climáticas poderão ter contribuído para o processo de extinção, mas na maioria delas parecem ter sido vítimas do predador mais inteligente, eficaz e implacável que a Terra já conhecera, pese embora ser uma criatura fisicamente débil e de as suas armas não passarem de varas de madeira com pontas de sílex.

A difusão do Homo Sapiens pelo planeta
O extermínio foi particularmente eficaz quando humanos já com bom nível de organização e experiência venatória entraram em territórios virgens, cuja população animal não estava habituada a lidar com eles e nem sequer desenvolvera o “saudável temor ao homem”, como a Austrália, a Oceânia e as Américas.

O Diprotodon, o maior marsupial que terá existido, atingia quase três toneladas de peso e tinha as dimensões aproximadas de um hipopótamo. Habitava a Austrália e era representado por seis espécies. Extinguiu-se há 46.000 anos
As tribos índias da América do Norte são muitas vezes vistas como um paradigma da relação harmoniosa entre Homem e Natureza e muitos têm sido os ecologistas (e políticos necessitados de dar uma coloração “verde” ao seu programa eleitoral) a louvar e subscrever o comovente e lúcido apelo ao respeito pelo ambiente contido no discurso/carta do chefe Seattle (Si’ahi), em meados do século XIX. Porém, não só este manifesto ecologista avant la lettre é, provavelmente, uma fraude, ou, pelo menos, um produto profundamente manipulado e adulterado, como a imagem dos índios como sábios gestores do seu ecossistema, não extraindo dele mais do que o estritamente necessário ao seu modesto modo de vida, é um equívoco.

Índio Blackfoot, por Karl Bodmer, c.1840-43
Basta tomar como exemplo o animal a que o índio norte-americano costuma estar indissoluvelmente associado no nosso imaginário: o cavalo. O uso deste como montada e animal de carga foi uma aquisição muito tardia das tribos índias norte-americanas, só tendo lugar após a sua introdução pelos espanhóis no Novo Mundo, pois em 1492 não havia um único cavalo do lado de lá do Atlântico. Porém, em 12.000 a.C., quando os primeiros Homo Sapiens transpuseram o Estreito de Bering, o Novo Mundo abundava em cavalos (os paleontólogos chegaram a distinguir mais de 50 espécies diferentes, número que tem, entretanto, sido reduzido), pertencentes sobretudo aos géneros Haringtonhippus (América do Norte) e Hippidion (América do Sul) e exibindo grande variabilidade morfológica e adaptação a ambientes muito diversos. Porém, à medida que o Homo Sapiens se foi difundindo para sul ao longo do continente, todos estes cavalos se extinguiram – os antepassados do chefe Seattle não os domesticaram para usar como montadas, viam-nos apenas como um fonte de bifes e caçaram-nos até ao derradeiro exemplar.

Esqueleto de um Hippidion, um género equino endémico da América do Sul, que se extinguiu c.8000 a.C.
A Nova Zelândia era habitada por nove espécies de moas, aves incapazes de voar, que podiam atingir 230 Kg de peso e 3.60 metros de altura e cujo único predador eram as águias-de-Haast (Hieratus moorei), uma ave de rapina de quase três metros de envergadura. Os primeiros humanos – os Maori – chegaram à Nova Zelândia c.1300 d.C. e um século depois a população de moas fora reduzida de uns (estimados) 58.000 exemplares a zero e, inevitavelmente, as águias-de-Haast tiveram o mesmo destino.

Águia-de-Haast atacando moas
Nas palavras do geólogo Anthony Hallam, citado por Brannen, é preciso “dissipar de uma vez por todas a ideia romântica de uma sabedoria ecológica superior das sociedades não-ocidentais e pré-coloniais. O conceito do selvagem nobre vivendo em harmonia com a Natureza deve ser relegado para o reino da mitologia, pois é lá que pertence. Os seres humanos nunca viveram em harmonia com a Natureza”.

Megatherium americanum, uma preguiça-gigante de quatro toneladas de peso, que prosperou na América do Sul até há cerca de 10.000 anos
Ainda não é o fim do mundo, calma, é apenas um pouco tarde
Claro que, à medida que a civilização humana se sofisticou e se expandiu até aos mais remotos cantos do planeta, os efeitos negativos sobre as outras espécies passaram a exercer-se através de outros processos que não apenas o extermínio físico directo: destruição e alteração de habitats, introdução de espécies exóticas, poluição, interferência nos ciclos geoquímicos (afectando sobretudo carbono, azoto e fósforo) e alterações climáticas. Não é de estranhar que, no século XXI, se tenha tornado corrente o termo Sexta Extinção para designar o que parece ser um evento de extinção de origem antropogénica que alguns especialistas receiam poder vir a ter amplitude comparável à das Grandes Extinções do passado remoto.
Para dar ideia de quão profundamente o homem alterou a vida no planeta, Brannen apresenta um número que, a ser verdadeiro, nos dá razões para meditar: “hoje em dia, a vida selvagem não abrange mais do que 3% da totalidade dos animais […] os seres humanos, o nosso gado e os nossos animais de estimação perfazem os restantes 97% da biomassa”.

EUA, década de 1870: uma pilha de crânios de bisonte destinados a serem triturados e convertidos em adubo. Estima-se que, quando da chegada dos europeus, existissem várias dezenas de milhões de bisontes (Bison bison) nas pradarias da América do Norte; na segunda metade do século XIX, a caça indiscriminada reduziu o seu número a algumas centenas; hoje, após programas de recuperação da espécie, a população é de 150.000 indivíduos
Nos capítulos “A extinção em massa do final do Plistocénico” e “O futuro próximo”, Peter Brannen dá particular ênfase ao efeito de estufa e às alterações climáticas, o que não é surpresa, pois na abordagem das Cinco Grandes Extinções Brannen já viera a enfatizar, repetidamente, o papel crucial das variações das concentrações de CO2 na atmosfera nas alterações climáticas e na extinção em massa das espécies. Até nos episódios de extinção que são genericamente aceites como estando associados a baixos teores de CO2 e glaciações, Brannen faz questão de conceder espaço a teorias alternativas que propõem explicações alicerçadas em baixos teores de CO2 e efeito de estufa.
Dir-se-ia que Brannen partiu para este livro com um parti pris, que é explicitado logo na introdução, quando afirma: “Os cinco piores episódios [de extinção] da história da Terra foram todos associados a mudanças violentas no ciclo de carbono do planeta”.
É uma afirmação leviana: se o clima presente da Terra está ainda longe de ser completamente compreendido, sobre o clima do passado remoto paira a incerteza e as relações entre ele, a composição da atmosfera e a extinção em massa de espécies não passam daquilo a que em inglês se denomina de “educated guesses” (como demonstra a natureza contraditória de muitas das teorias avançadas pelos investigadores). O número de variáveis que determina o clima é tão vasto e as interacções entre elas são tão complexas que, com o pouco que hoje sabemos, é temerário tornar o CO2 no elemento decisivo de todas as grandes alterações climáticas e de todas as extinções em massa. Até porque, por vezes surgem elementos desconcertantes, como os das medições (publicadas em 1999) de concentrações de CO2 atmosférico e temperatura realizadas a partir de “cores” de gelo colhidos na base russa de Vostok, na Antártida, que mostram uma forte correlação entre as duas variáveis, mas com a evolução do CO2 a mostrar um atraso de centenas ou milhares de anos em relação à temperatura, como se fosse uma consequência e não uma causa da sua variação.

Evolução das concentrações de CO2 atmosférico (a verde, em ppm) e das variações da temperatura em relação à média (a azul, em ºC) nos últimos 420.000 anos, a partir de medições no gelo antárctico (Vostok)
Mas Brannen não está interessado em aprofundar raciocínios, discutir subtilezas e, muito menos, em apresentar factos que contradigam as suas teorias de estimação. O que não quer dizer que, na sua frouxa disciplina mental, não acabe por fazer afirmações contraditórias.
Assim, após traçar um cenário sombrio da devastação ambiental causada pelo homem, Brannen desdramatiza o discurso: afinal as espécies extintas por acção humana são apenas 800, ou seja, menos de 0.1% do número total de espécies conhecidas. E “os peixes podem ter sido dizimados pela pesca de escala industrial das últimas décadas, mas as espécies que se extinguiram foram muito poucas. Anualmente, os cachalotes comem tantos animais marinhos como nós; embora sejam uma fracção do que foi a sua população ao longo da história, continuam a existir centenas de milhares de cachalotes”. Andam os activistas ecológicos a esforçar-se por incutir má-consciência e remorso em quem aprecia bacalhau e atum e andam os peritos em pescas e os decisores políticos a calcular e negociar arduamente quotas de pesca, para agora Brannen nos informar que os 7.000 milhões de humanos causam menos estrago aos stocks de peixe do que os cachalotes. É muito provável que, perante este dado estatístico, a maioria dos portugueses escolhesse prescindir de bom grado de metade dos cachalotes do planeta, de forma a assegurar que o bacalhau nunca faltará na mesa.
Porém, a afirmação de Brannen deve ser encarada com suspeição: para começar, não é possível estimar a quantidade total de animais marinhos consumida pelos cachalotes pela simples razão de não existirem estimativas fiáveis da população deste cetáceo (especula-se que seja da ordem das centenas de milhar). Por outro lado, a base da dieta dos cachalotes são as lulas gigantes de grandes profundidades, que não se incluem (por enquanto) nas espécies pescadas pelos humanos.

Encenação de uma luta entre um cachalote e uma lula gigante, num diorama no Museu de História Natural de Nova Iorque
Brannen prossegue, em tom optimista, afirmando que “ainda não aconteceu nada que se assemelhe ao colapso total da vida ocorrido no final do Pérmico, ou em qualquer das outras extinções em massa – nem em terra nem no mar. Na verdade, a biodiversidade continua a prosperar. Se espreitar pela janela, talvez a paisagem que se lhe oferece seja um espaço verde, cheio de sons de aves e de esquilos anafados” – e aqui começa a suspeitar-se de que Brannen escreveu um livro sobre extinção de espécies sem compreender o conceito de biodiversidade. A paisagem que se vê da nossa janela pode ser verdejante e haver aves a chilrear e esquilos bem nutridos, mas se as árvores forem todas plátanos, os arbustos forem todos buxos bem aparados, o estrato herbáceo consisitir apenas em relva, as aves se resumirem a pardais e melros e os esquilos, os cães e os gatos forem as únicas espécies de mamíferos, e estas mão cheia de espécies tiver tomado o lugar de um mosaico original de 50 espécies de árvores, 50 de arbustos, 50 de gramíneas, 50 de aves e 50 de mamíferos, a biodiversidade não estará seguramente a prosperar.
Todavia, embora Brannen não o mencione, a biodiversidade global tem vindo, numa perspectiva de longo prazo, a aumentar consistentemente nos últimos 200 milhões de anos, apesar dos sobressaltos causados pela Grande Extinção do final do Cretácico e pela extinção por causas antropogénicas dos últimos milhares de anos.

Evolução da biodiversidade da biosfera (medida pelo n.º total de géneros) nos últimos 542 milhões de anos. Grandes extinções assinaladas por triângulos amarelos, outros episódios de extinção por triângulos azuis; note-se que, nas abcissas, ao contrário do que é usual, o tempo cresce da direita para a esquerda (o presente está no extremo esquerdo)
Brannen exalta a excelente forma da Terra no momento actual: “Do ponto de vista da geologia, é bem possível que o planeta seja hoje mais resistente a extinções em massa do que em qualquer outro momento da sua história”. E, assim, Brannen subscreve um artigo de 2011 do paleontólogo Anthony Barnosky, de que a Terra poderá “vir a atingir níveis de extinção dignos dos das Cinco Grandes somente depois de centenas a milhares de anos de destruição ambiental contínua e sem tréguas […] Numa perspectiva humana, a sexta extinção em massa ainda está, felizmente, a boa distância”.
Quer isto dizer que o Homo Sapiens ainda terá licença para matar, desflorestar, poluir e queimar combustíveis fósseis por mais umas gerações, antes de ter razões para preocupar-se? Acontece que o artigo de Barnosky também adverte que os “ecossistemas podem reagir de maneira não linear a acumulações graduais de perturbações ambientais”, ou seja, podem mostrar-se estáveis até um ponto de não-retorno e depois colapsar subitamente, devido a uma complexa cadeia de reacções impossíveis de prever.
Mas como Brannen entrevistou muitos especialistas, cada um com a sua visão monomaníaca, deformada e defendida com unhas e dentes, umas páginas à frente, ao entrevistar o paleoclimatologista Matthew Hubber, “num restaurante despretensioso perto do campus universitário, em Durham, New Hampshire”, retoma a disposição catastrofista, dando crédito a um cenário em que um aumento da temperatura média do globo em 7º C obrigará a humanidade a abandonar certas regiões, “caso contrário, as pessoas que nelas vivem serão cozidas vivas, literalmente”. Quem sabe, se o restaurante onde se encontraram fosse mais chique e tivesse uma melhor carta de vinhos talvez Brannen não aderisse tão facilmente a previsões tão lúgubres.

Variação da temperatura do planeta (contabilizando áreas terrestres e marinhas), medida como desvio em relação à média, de 1880 ao presente
Por esta altura, já é claro que Brannen é um ciclotímico e que, uma vez que não possui ideias próprias, o seu estado de espírito oscila em função do que ouviu da última pessoa com quem se encontrou. Na pg. 326 voltará à ideia tétrica de que “o único planeta habitável de que há conhecimento em toda a galáxia parece inclinar-se para uma catástrofe geológica” (note-se, “geológica”, não “ecológica”, o que deve querer dizer que não ficará pedra sobre pedra). Porém, pouco mais de uma página depois, termina o livro declarando acreditar que “tudo ficará bem”.
[Nota: o título deste capítulo foi pedido emprestado a um poema de Manuel António Pina]
O fim do mundo ou o fim do mundo como o conhecemos?
A meio das suas oscilações ciclotímicas, Brannen levanta uma questão que tende a ser obliterada no clima superficial com que são debatidas as questões ambientais no espaço público. Brannen alerta para o facto de “o colapso da civilização poder acontecer muito antes de atingirmos uma extinção em massa propriamente dita”. O que Brannen formula como possibilidade é antes uma certeza: uma extinção de espécies em massa requer alterações das condições ambientais de grande amplitude e à escala global, mas a civilização tal como a conhecemos desagregar-se-á muito antes de mudanças tão drásticas.
O conforto e estabilidade das vidas dos cidadãos das modernas sociedades industrializadas depende de que milhares de operações complexas decorram sem atrito e à medida que a sociedade se torna mais complexa e os cidadãos se vão habituando a um número crescente de mordomias e facilidades, aumenta também o número de operações complexas que é preciso assegurar – ou seja, à medida que a civilização se sofistica, torna-se menos resistente a perturbações. Brannen dá o exemplo do blackout de Nova Iorque em Julho de 1977: umas horas sem electricidade bastaram para que “áreas inteiras da cidade [involuíssem], transformando-se em algo afim do ‘estado natural’ teorizado por Hobbes. Eclodiram tumultos um pouco por toda a cidade, milhares de lojas foram destruídas por saqueadores e incendiários atearam mais de mil fogos”. Mas poderia também evocar-se o clima de pânico que se gerou recentemente em Portugal logo ao fim do primeiro dia de greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas. Nalguns casos, não são necessários conflitos sociais ou cataclismos ambientais para que os níveis de bem-estar e segurança se afundem: veja-se o que tem vindo a acontecer na Venezuela…
Quantas semanas sem gasolina nas bombas ou sem electricidade serão precisas para que as pessoas mais civilizadas e cordatas saltem ao pescoço umas das outras?
O paleontólogo David Jablonsky, outro dos entrevistados por Brannen, acredita que, mesmo que a conjugação dos desequilíbrios causados pelo nosso trem de vida acabe por desencadear eventos catastróficos a nível ambiental, “os seres humanos vão demonstrar ser extremamente resistentes à extinção”. Diz Jablonsky, não se percebe se com candura, cinismo ou apenas estultícia, que “o que me parece mais provável é que a qualidade de vida vá pelo cano abaixo para a maior parte dos seres humanos, e não que a espécie, em si, esteja em risco […] Afinal, os seres humanos viveram lindamente sem sociedades industrializadas durante centenas de milhares de anos”.
Porém, quando se discute o futuro da humanidade, nunca está em causa a sobrevivência da espécie, na sua expressão mais biológica e elementar – é o futuro da civilização humana, com as regras básicas de decência e dignidade, as suas disposições visando a protecção dos mais fracos, a sofisticação das suas realizações artísticas e intelectuais, e acrescentarão alguns, com a possibilidade de escolher entre vinte marcas de cerveja artesanal dry stout e trinta variedades de cereais de pequeno almoço (sem glúten, com mirtilos, sem adição de açúcar, de trigo bio, whatever).
Seria fraco consolo se o Homo Sapiens sobrevivesse a um colapso ambiental mas regredisse para o “estado natural” descrito por Thomas Hobbes no Leviathan, em que a vida era “solitária, pobre, sórdida, brutal e curta” e se vivia numa “guerra de cada homem contra cada homem […] e cada um não tinha outra defesa que não fosse a sua própria força”. Será isto que Jablonsky considera “viver lindamente”?

Frontispício de Leviathan (1651)
Em conversa com outro entrevistado, o “futurista” e “trans-humanista” Anders Sandberg, Brannen encara a questão do futuro da Humanidade numa perspectiva filosófica e proclama, num trecho arrebatado e sentimentalão: “se o projecto humano fracassar nos próximos séculos, esse fracasso vai anular as alegrias e as tristezas de milhares de milhões de vidas possíveis”. É uma conclusão simplória e tautológica e similar à expressa pelo filósofo Peter Singer, num dos ensaios de Ética no mundo real: 82 breves ensaios sobre coisas realmente importantes (ver Dos ovos das Galinhas à Mão de Maradona: 82 reflexões sobre ética): “Se não evitarmos a extinção, teremos eliminado a oportunidade de criar algo verdadeiramente maravilhoso: um número astronomicamente elevado de gerações de seres humanos que têm vidas ricas e realizadas”.
Mas Brannen também atribui ao eventual fracasso do “projecto humano” efeitos retroactivos: “Vai, também, desperdiçar o sacrifício de legiões de soldados mortos [terão todos tombado por causas nobres?], as obras-primas de grandes artistas, e as ideias de grandes pensadores que inscreveram os ideais da civilização em folhas de papel amarelecidas – folhas de papel que acabarão por se desfazer, como folhas caídas de árvores. Planetas distantes ficarão por explorar e por suscitar maravilhamento. Grandes sinfonias ficarão por compor”. Sim, mas, por outro lado, também não haverá mais episódios de “Quem quer namorar com o agricultor?” e os Status Quo não lançarão mais discos…
Literatura de terror
Os efeitos do homem sobre as outras espécies e sobre o equilíbrio ambiental do planeta são um problema sério e que merece toda a nossa atenção, mas, infortunadamente, os poucos livros sobre o assunto que têm recentemente sido publicados em Portugal enfermam de tantas debilidades que acabam por retirar credibilidade à causa ecologista e dar argumentos a quem entende que a extinção de espécies e as alterações climáticas não têm causas antropogénicas e que os apelos à limitação das emissões de CO2 não passam de alarmismo (ou de maroscas inventadas pelos chineses para prejudicar a economia americana, como pretende Donald Trump), pelo que a humanidade pode prosseguir despreocupadamente com o “business as usual”.

2015 foi o ano mais quente na Terra desde 1880: As cores, das mais frias às mais quentes, expressam o desvio em relação à temperatura média (em graus Fahrenheit) em cada ponto
São exemplo dos pífios contributos para o debate sobre alterações climáticas publicados por cá A sexta extinção, de Elizabeth Kolbert (livro de 2014 editado nesse mesmo ano pela Vogais), e Tudo pode mudar: Capitalismo vs. Clima, de Naomi Klein (livro de 2014 editado em 2016 pela Presença). Mas ambos parecem sólidos e sóbrios face ao pueril, bombástico, frívolo, errático, confuso e pouco rigoroso livro de Peter Brannen.
Brannen é apresentado como “jornalista de ciência premiado, colaborador regular do New York Times, The Atlantic, Wired, The Washington Post, The Boston Globe, entre muitos outros”, mas o tom que ele emprega em Fins do mundo é o de um apresentador do Clube de Amigos Disney com umas anfetaminas no bucho, não o de um divulgador científico. O livro enferma de uma prosa farfalhuda, em que não há página de que não inclua pelo menos um destes adjectivos: “arrepiante”, “assustador”, “atroz”, “dantesco”, “demoníaco”, “deprimente”, “deslumbrante”, “épico”, “espectacular”, “horrífico”, “horrível”, “inconcebível”, “infernal”, “inimaginável”, “insano”, “lúgubre”, “macabro”, “tenebroso” ou “tétrico”.

“Inferno”, painel esquerdo de díptico de Hieronymus Bosch, c.1515
A volúpia com que Brannen pinta cenários “dantescos” – escreve a dada altura sobre “as condições dignas de Hieronymus Bosch que prevaleceram na Terra de há 252 milhões de anos” – coexiste com uma linguagem informal e adolescente que faz surgir “desertos super-quentes em que os seres vivos estão a morrer à maluca”, e uma profusão de tentativas para fazer humor (todas rotundamente fracassadas e quase sempre tomando por referencial a cultura pop norte-americana), como se toda a informação tivesse de ser veiculada de forma “leve” e “divertida”.

“Dilúvio”, painel direito do díptico de Hieronymus Bosch que tem o “Inferno” do lado esquerdo, c.1515. Calor escaldante, fogos descontrolados e subida do nível dos oceanos – terá Bosch antevisto o nosso futuro?
Ao ler-se a descrição que Brannen faz da previsível evolução geológica do Oceano Atlântico, dir-se-ia que atribui aos seus leitores a idade mental de 12 anos: “As zonas de subducção são impossíveis de deter. Quais dois vira-latas enamorados a sorver o mesmo fio de esparguete num beco, as zonas de subducção continuarão a mastigar crusta oceânica até que alcancem os seus bem-amados na outra margem do oceano” (é um momento “Walt Disney meets Alfred Wegener”).
[Previsão da evolução da disposição dos continentes nos próximos 250 milhões de anos]
Se, por um lado, há muitas páginas gastas com inanidades, piadas tolas, repetições e tagarelice, falta, por outro lado, uma “linha de tempo” da vida na Terra, com indicação dos períodos (nem todos os leitores terão presente se o período Devónico fica antes ou depois do Carbonífero). Num livro com abundante informação quantitativa, não há um único gráfico ou tabela, e apesar da constante alusão às constantes e dramáticas alterações na geografia do planeta, não há um único mapa. Por comparação com a edição original, a edição portuguesa suprimiu parte das fotos e muitas das referências do índice remissivo.
Uma praga de Homo Sapiens
“Em Tudo pode mudar: Capitalismo vs. Clima”, Naomi Klein interrompe a discussão das alterações climáticas para descrever com fastidioso detalhe as suas tentativas para engravidar e, sem pingo de sentido de ridículo, envolve numa aura de heroísmo e ousadia a sua vontade de “tornar-[se] mãe numa época de extinção”. Também Peter Brannen traz a despropósito para o seu livro a morte da sua mãe, ocorrida enquanto ele escrevia “um livro sobre a mortalidade do planeta” – não se percebe em que é a que a exposição pública deste drama pessoal contribui para a compreensão da história na vida no planeta, mas num certo jornalismo americano – cada vez mais em voga, também deste lado do Atlântico – tornou-se regra a intromissão do autor como personagem, por vezes mesmo como protagonista.
Resulta daqui que uma parte apreciável de “Os Fins do Mundo” é preenchida não com a explanação e discussão dos fenómenos de extinção em massa mas com o relato das diligências feitas por Peter Brannen para escrever o livro e pelas peripécias por que passou. O foco desloca-se do tema para o autor, para as pessoas com quem o autor se cruzou e para as circunstâncias desses encontros – apesar de todos esses “episódios” serem absolutamente espúrios e impertinentes e em nada contribuírem para iluminar ou enriquecer o assunto central do livro.
Entre inúmeros exemplos possíveis, tome-se, do capítulo sobre a extinção do final do Cretácico, este relato de um encontro de Brannen com uma equipa de paleontólogos que fazia trabalho de campo: “O sol que se punha no Novo México tingia as terras violentamente erodidas do deserto com um rubor crepuscular melancólico, de tal maneira deslumbrante que era forçoso assinalá-lo […] Findo o pôr-do-sol, a equipa queimada pelo sol contava piadas e discutia as últimas novidades do desporto, encorajada pela intimidade fácil de uma fogueira crepitante”. O leitor é então apresentado ao “paleontólogo Steve Brusatte, da Universidade de Edimburgo, um nativo do Illinois a viver no Reino Unido que tem dificuldades em conseguir acompanhar os Bulls e os Blackhawks fora de portas” – um drama que faz a extinção dos pterossauros parecer uma ninharia.
Já sobre o paleontólogo Simon Darroch, ficamos a saber que é um homem “de cara barbeada e afável, falando com sotaque britânico” e que se destaca “na multidão de homens de pêra, de meia-idade, ligeiramente autistas, e americanos da Região Centro-Oeste, que marcam presença nas conferências de Geologia nos EUA”.
Brannen tem o cuidado de providenciar aos paleontólogos entrevistados algum conduto, que isto de discorrer sobre extinções consome energia: Tom Williamson fala frente a “tecates e fajitas cozinhadas num fogão de campo”, e, “num dos restaurantes vietnamitas de pho no Bairro de [Fort] Lee”, em Palisades Park, New Jersey, Paul Olsen “pousa por momentos os pauzinhos com que estava a comer” e prossegue uma peroração sobre registos fósseis e extinções em massa.

Reconstituição de um Anomalocaris canadensis. O género Anomalocaris (“camarão anormal”) era comum nos mares do Câmbrico mas não tem sido avistado nos restaurantes vietnamitas de pho de New Jersey
Não só “Os Fins do Mundo” está infestado de criaturas humanas a tagarelar, como a prosa de Brannen evidencia um forte pendor para a antropomorfização: plantas são descritas como “ervinhas patéticas”, bactérias sulfurosas verdes são rotuladas de “escória insidiosa”, o “iconicamente estrambólico” Anomalocaris é “uma lagosta ondulante, com laivos satânicos”, e uma “criatura fossilizada [a trilobite Flexicalymene meeki] estava enroscada sobre si mesma, em bola, petrificada de medo” (uma trilobite “petrificada de medo” só tem par numa amêijoa atormentada pelo remorso ou numa lombriga roída pela saudade).

Fóssil de Flexicalymene meeki enroscada numa bola: a comunidade científica tem debatido se este espécimen exibe uma expressão de ressabiamento ou de indiferença sobranceira
Somos também informados de que “o mundo do Ordovícico [estava] repleto de invertebrados que, na sua maioria, compensavam em charme enigmático o déficit de ostentação agigantada do T. rex” e de que o Dunkleosteus, um placoderme (peixe couraçado) do final do Devónico, “utilizava estes dentes-lâmina para rasgar carne, partir ossos, e para espalhar (como um derramamento de petróleo) o terror pela coluna de água”.

Dunkleosteus: Se um dia Steven Spielberg fizer uma prequela de Jaws passada no Devónico, será ele o protagonista
No Jurássico, os dinossauros “seguros de si, governavam o planeta como se nada se tivesse passado” e, ao deparar-se com os vestígios fossilizados das pegadas destes ex-governantes, Brannen tem uma revelação: “assaltou-me a constatação de que eram indivíduos, cada qual com a sua personalidade e a sua biografia” (e, quiçá, também com o seu favorito entre os clubes da NBA).
A antropomorfização também impregna entidades geológicas – “à medida que a placa do Pacífico desliza sobre um bloco de manto irado nas profundezas” – ou agentes abstractos – “a determinação indómita dos agentes de extermínio envolvidos na morte dos dinossauros quase sugere um deus destruidor, vingativo e com ódio de morte aos dinossauros”.
Brannen mostra ser discípulo do pensamento filosófico de Lili Caneças, na sua vertente existencialista, quando afirma “para haver uma extinção em massa, é necessário que haja seres para matar”. Mais à frente, tece mais considerações que revelam uma madura reflexão sobre a diferença entre estar vivo e estar morto: “Uma das primeiras e mais óbvias perguntas a fazer sobre o impacto [do asteróide sobre o Yucatán] é: como foi? Contudo, é uma pergunta que não faz sentido, pois quem poderia estar em condições de responder à questão, quem presenciou o impacto morreu”. É uma pena, pois se as testemunhas do impacto não tivessem perecido nele, teriam certamente vivido 66 milhões de anos e, embora entradotas, teriam a memória ainda bem fresca, e seriam entrevistadas por Peter Brannen, acompanhado por um tradutor de dinossaurês-inglês.
Não havendo um tiranossauro, nem sequer um velociraptor, disponíveis para prestar declarações sobre a momentosa colisão, Brannen envereda por uma reconstituição dos eventos de sua lavra, tingida de um lirismo trágico e fatalista: “O contorno fugaz, espectral, do asteróide a surgir de repente no céu diurno como uma lua irregular. Lá longe, no espaço, o asteróide seguia ainda no mesmo vector sem ar ao longo do qual vogara durante éons, um continente de lixo espacial prestes a acabar-se no lugar mais interessante do sistema solar. Nos últimos momentos de tranquilidade antes do fim do Mesozóico, os pterossauros voavam alegremente por sobre a rebentação das ondas, perscrutando o mar raso à procura de peixe, inscientes da pálida figura algo peculiar que se agigantava no céu”.
“Era possível, embora menos provável, que o pedregulho ofensivo fosse um cometa gelado e não um asteróide. Nesse caso, teria anunciado o fim dos tempos de um modo um tanto ou quanto mais dramático: riscando de fogo o céu durante semanas, qual carroça da morte. Ao cair da noite nas últimas semanas do Cretácico, os hadrossauros que se preparavam para um sono intermitente terão olhado nervosamente para esta nova estrela esquisita, que projectava sombras de noite cerrada no chão da floresta. Tinham atrás de si centenas de milhões de anos de vidas de dinossauros e, não obstante, restavam-lhes apenas algumas horas preciosas”.
“O farol inusitado terá sido lindo, mas estranhamente perturbador, alastrando a cerca de metade do céu. O Tyrannosaurus Rex, e digo-o porque é fácil esquecermo-nos disto, foi um ser vivo real; um animal que vivia, respirava. Também ele terá testemunhado este espectáculo, que, nos dias que antecederam a queda, foi certamente uma feição deslumbrante do céu diurno”.
Se, como pretendem os adeptos do design inteligente, o processo evolutivo é controlado por um ente supremo, não se poderia censurá-lo se, após ler um trecho tão nauseabundo como este, concluísse que criar esta espécie de símio tagarela e pretensioso que é o Homo Sapiens fora um erro e, decidindo começar tudo de novo, fizesse cair um calhau de 10 quilómetros de diâmetro sobre as nossas cabeças.













