Índice
Índice
Em 1998 tínhamos inúmeras razões para sorrir. Portugal estava estranhamente na moda e fazia primeiras páginas na imprensa internacional, coisa que não acontecia desde a capa da TIME durante o PREC. Só que dessa vez, à beira da modernidade e do fim do milénio, não havia a troika Otelo/Costa Gomes/Vasco Gonçalves, muito menos a que se lhe seguiria em 2011.
Em 1998 seguíamos de peito feito, graças a um PIB a crescer uns hoje estratosféricos 4,79%, a uma exposição universal muito bem sucedida (apesar de eu não ter conseguido entrar no pavilhão da Suécia), a uma ponte acabada de estrear por milhares de comensais, abraçados a uma feijoada. Esse também foi o ano em que Santana Lopes abandonou em definitivo a política, na sequência de uma rábula do programa Big Show SIC. No Coliseu de Lisboa, Beck dava um concerto de arrasar a 28 de Maio. E nesse os Excesso não lançaram nenhum álbum, depois de o terem feito em 1997 e de terem repetido a graça em 1999.
O ano seria coroado com o prémio Nobel de Literatura atribuído a José Saramago, e aí o ego do país inchou até ao limite. À conta desse feito, houve ondas de choque literárias, políticas e jornalísticas. 20 anos depois celebra-se o prémio das mais diversas formas. O recurso a artigos de jornal é uma das mais óbvias, modus operandi do qual também faço parte. Apesar de tudo, preferi ignorar testemunhos, descrições oficiais, fundações e editoras. Resolvi contar o meu Saramago.
Mas para já celebremos. 1998 foi um ano de euforia colectiva, então. E de negrume individual. Foi nesse ano que morreu o meu pai.
No princípio era a jangada
Antes dos 20 anos não li qualquer livro do Saramago. Por desinteresse, incúria, por acaso, a verdade é que não sei apontar uma razão conclusiva. Mesmo a polémica com Sousa Lara, que acompanhei pelas páginas d’O Independente do alto da minha adolescência, não me levou a querer lê-lo. Levou-me a sentir mais desprezo pelo cavaquismo, até porque à época deixava-me seduzir mais pelas manchetes de MEC e companhia do que pelas andanças do Diabo com Jesus.
A escassez de dinheiro para comprar livros não é justificação suficiente. Afinal, poderia sempre ter recorrido a uma biblioteca. Mas a verdade é que fui explorando outros autores, seguindo sugestões de amigos ou recorrendo aos livros de casa, quase todos com a chancela Círculo de Leitores. Alberto Moravia e a sua Ciociara, Pedro o Grande de Leão Tolstoi, O Padrinho de Mario Puzo, O Marxismo-Leninismo e o Internacionalismo da Classe Operária (que nunca abri). Lembro-me de receber O Castelo do Kafka pelo Natal e de lamentar o facto de a história ter ficado inacabada. Um pouco à semelhança de Jesus, que inspira essa época festiva, mas cujo regresso último – ou como dizem os americanos, closure – tem sido sucessivamente adiado.
Só em 1995 é que me lancei à Jangada de Pedra, a minha estreia no reino do Nobel-em-projecto. O livro foi-me emprestado pelo Hélder Melão, companheiro do curso de Publicidade, que nutria uma verdadeira paixão pela literatura e por aquilo que, de forma lata, apelidava de cultura portuguesa. Dizia-se nacionalista (o que condizia bem com as suas Doc Martens) e simpatizante do CDS (o que condizia mal com as suas Doc Martens), mas eu continuo a acreditar que ele gostava sobretudo da palavra escrita e dita em português. Daí a prateleira de autores portugueses na casa de Caneças, daí a paixão assolapada pelos Sétima Legião. As raízes familiares mais a Norte e a austeridade paterna, armada a revólver da PSP, compunham o resto. Devo-lhe leituras, cumplicidades e parte da inspiração para este artigo.

“A Jangada de Pedra”, originalmente publicado em 1986
Do outro lado do espelho do Hélder vivia o seu irmão gémeo Luís, menos amigo de leituras e membro de uma micro-claque do Benfica, o Grupo Mank’s. Gémeos idênticos, gémeos distintos. O Hélder torcia pelo Sporting. E preferia os livros aos very-lights.
Apesar dos conselhos e dos empréstimos sucessivos, a missão Saramago falhou ao primeiro contacto. Enfadei-me com a leitura da península à deriva, não senti qualquer simpatia pela sorte de Joaquim, Joana, José. E o cão disse-me pouco ou nada. Tampouco me importava o destino da Ibéria, razão pela qual forcei a leitura acelerada (nessa altura ainda não abandonava livros) e devolvi o exemplar ao seu legítimo dono, armado de um sorriso comprometido:
— Gostaste?
— É diferente.
História do Cerco de Mim Mesmo
Cerca de um ano depois, Saramago regressa ao meu convívio de uma forma mais ou menos surpreendente. Em 1996 preparava-me para acabar o bacharelato na Escola Superior de Comunicação Social, razão suficiente para fazer parte de uma sessão de entrega de certificados na companhia dos meus colegas e amigos. Lá estava o Hélder. Lá estava a minha mãe e também o meu pai, o que era digno de nota pelo simples facto de ele ser um homem pouco amigo de datas, efemérides, simbolismos. Não conto aqui a sua história, o tempo e o lugar são pouco apropriados. Assinalo apenas me enchi de orgulho, e não lho disse. Aliás, houve muitas coisas que nem sequer tive tempo de lhe mostrar, poupando nas palavras. Admito que o orgulho fosse recíproco, gosto de convencer-me disso.
No lugar de elogios e abraços, entregou-me um relógio de bolso (sou como toda a gente, adoro anacronismos e nostalgias) e também um livro, a História do Cerco de Lisboa. Ele tinha ouvido dizer que o Saramago valia mesmo a pena e comprou-me o exemplar na Livraria Castil do Fonte Nova. Eu devo ter omitido a experiência falhada com a Jangada, mas a verdade é que não me lembro com exactidão das minhas palavras de agradecimento. Limitei-me a sorrir, a escusar-me com o momento de festa, a beber umas minis com os meus amigos recém-formados.

“História do Cerco de Lisboa”, de 1989
Alguns dias mais tarde, e apesar da disposição hesitante, apanharia em cheio com o vendaval de Raimundo e Maria Sara, amantes, contadores de histórias, contadores de mouros. É provável que a exegese literária e histórica de Lisboa tenha tido a sua importância; cresci a amar a cidade velha, hipnótica, observada com admiração e pudor a partir da periferia. No livro, o autor oferecia-me um mergulho de intimidade com os personagens, com a própria cidade, com uma narrativa dentro da narrativa, com a noção de finitude que torna tudo urgente, apesar de logo no arranque se pôr a piscar o olho à eternidade:
Lembra-me uma cobra que se tivesse arrependido no momento de morder a cauda, Bem observado, senhor doutor, realmente, por muito agarrados que estejamos à vida, até uma serpente hesitaria diante da eternidade, Faça-me aí o desenho, mas devagar.
De tudo se faz pó, tudo se esquece, a eternidade é para ninguém, e ainda bem. Mesmo o pobre Afonso Henriques sucumbe às mãos de Raimundo, que decide fazer uso da palavra não para mudar o curso da História. Mesmo a minha resistência ao autor acabaria por desmoronar-se. Um presente de final de curso comprado às cegas a fazer as vezes de Martim Moniz, a minha admiração pelo universo e pelo pulsar da escrita de Saramago a ganhar raízes à segunda tentativa.
Da pessoa sei pouco ou nada, nunca fomos apresentados, nunca li os seus diários e memórias. Conheço-o filtrado pelos media e sobretudo pelos livros, o que pode querer dizer nada. Sabemos que era militante no espaço público, que comprava mitas guerras e que os seus temas literários acompanhavam a grandiloquência da postura do intelectual, do self-made intelectual, note-se, com notória vantagem para as suas ficções. É a leitura que eu faço.
Só por uma ocasião estive na sua presença. Fui à Feira do Livro comprar o recém-lançado As Intermitências da Morte e ali estava Saramago, sentado ao lado do seu editor, despachando autógrafos a um ritmo stakhanovista. Viviam-se os últimos tempos da Caminho fora do grupo LeYa, que a breve trecho iria revolucionar de forma abrupta o mundo dos livros, e o autor cumpria o ritual de proximidade em que era useiro e vezeiro.
Chegou a vez do homem que estava à minha frente na fila. Acercou-se da mesa e disse que se tinha deslocado à Feira para comprar um livro de estudo para o filho – Gestão Para Totós – e que, ao aperceber-se da presença de Saramago, resolveu tentar a sua sorte. “Não tenho dinheiro para comprar um livro seu, mas o meu filho admira-o muito. Importa-se de assinar neste?” Hoje em dia será, muito provavelmente, o único livro de gestão autografado por um prémio Nobel da Literatura.
Analepse: anos antes da publicação das Intermitências, liguei-me de vez àquele mundo com a leitura de um romance com nome de outra coisa.
Do “Manual de Pintura” ao “Levantado do Chão”
Depois dos laços criados com a História do Cerco de Lisboa, empreendi algo semelhante a uma peregrinação pelos livros publicados à época. Comecei pelo Manual de Pintura e Caligrafia, que engana os avaliadores de manuscritos que se cingem aos títulos. Dele, retirei o desejo de viajar até Siena, cidade de praças inclinadas, como as nossas vidas de todos os dias. Dele, dizem-me que foi um fracasso na primeira edição, que se venderam meia-dúzia de exemplares, facto que terá levado o editor Nélson de Matos a deixá-lo fugir para as mãos de Zeferino Coelho e da Caminho.
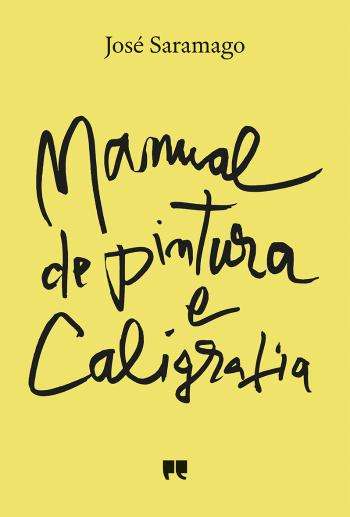
“Manual de Pintura e Caligrafia”, de 1977
Desconheço o rigor destes dados, mas retenho um episódio do anedotário construído à volta deste Manual. Da mão-cheia de exemplares vendidos, um terá sido comprado por Mário Soares, comprador compulsivo de livros, levado ao engano. Afinal, o gajo dos Estúdios Cor e do Diário de Notícias não escrevia sobre pintura.
Olhando para trás, percebo que a relação com os livros de Saramago se foi tornando um caso sério. Caso contrário, dificilmente me lembraria da ordem pela qual os li, das impressões fortes que me deixaram. Do Manual passaria ao Levantado do Chão, um dos meus preferidos e inquietantemente actual – onde havia praças de jorna há Uber Eats e derivados – e desse ao Evangelho Segundo Jesus Cristo. É esse o romance que mais me liga a Saramago e ao ano alegre e triste de 1998.

Em 1991 foi publicado o “Evangelho Segundo Jesus Cristo”
Li-o meses depois de o meu pai nos ter deixado, em parte por ter ido em busca de uma pacificação. A relação com a educação católica que recebi desde cedo foi-se deslassando com o tempo e num momento de luto, de revolta, apartámo-nos de vez. Minto. Aproximámo-nos de vez. A fé extinguiu-se, o interesse pelas narrativas do sagrado não.
A começar por Jesus, que encontrei muito bem tratado nesse Evangelho e que teria sido capaz de voltar a arregimentar-me para a sua causa. Um Jesus humano, fustigado não pelos ocupantes romanos, mas pelos interesses velados, divinos, maiores do que as suas parábolas. Acontece que os evangelistas dão pelo nome de João, Lucas, Marcos e Mateus. Não dão pelo nome de José, muito menos de Saramago. Devo-lhe, mesmo que de forma enviesada, o carinho, a empatia, pelo filho de Deus. Mesmo que o seu pai não exista. Para um autor pretensamente ateu, não me parece feito menor.
Dias depois de ter pousado o Evangelho, chegou o anúncio do prémio. Daquele prémio. Soube da notícia na Câmara de Lisboa, lugar onde oferecia os meus préstimos a recibo verde, a troco de umas centenas de escudos. Em 1998 não havia euro, não havia estagnação, as casas compravam-se com facilidade, os escritores portugueses ganhavam prémios impensáveis. Éramos felizes e sabíamos. Mas helas, Santana acabou por regressar rapidamente à política. Enfim, nada na vida é perfeito. Nem sequer na ficção.
Ensaio sobre a solidão
A forma como é contada a peripécia do prémio é digna de um romance do próprio Saramago. O homem sozinho, incontactável, com viagem marcada para Lanzarote e na idade da pedra dos telemóveis, deambula pelos corredores sem fim do maior aeroporto da Europa. Saramago acabaria por saber da notícia na zona de embarque do aeroporto de Frankfurt, depois de o editor ter sido avisado pelos media em Lisboa, que já tinham antecipado o anúncio. Foi uma hospedeira de terra que lhe deu a novidade que haveria de mudar a sua vida para sempre. Uma anónima portadora da boa nova, um escritor apanhado de sopetão, apesar das esperanças acumuladas (no ano anterior, Dario Fo ter-lhe-á dito roubei-te o prémio), um editor empenhado em mantê-lo em solo alemão, dirigindo-se ao terminal errado. Na Feira do Livro de Frankfurt, o pavilhão português fervilhava de jornalistas e de entusiasmo. Seguir-se-ia o país inteiro, excepção feita aos seus ódios de estimação.

Naquele momento, Saramago era já um dos meus escritores de eleição, e apesar de ter tirado um gozo enorme da leitura de romances como Ensaio Sobre a Cegueira, Memorial do Convento ou O Ano da Morte de Ricardo Reis, acabei por cristalizar na memória o momento em que decidi ler de seguida Levantado do Chão e Evangelho. Para mim são a síntese perfeita e suficiente do modo, do estilo, da voz do autor. Catarse social, condição humana, a crença à mão de semear. No divino, saturado de armadilhas, e na determinação das mulheres e homens do país que povoam o seu universo, vincadamente português, apesar de a espaços encontra-se privado de geografia exacta. Religião e marxismo adjectivado, distopias e visões de raio-x, solidão atormentada (vejam-se os casos de Raimundo, do escriturário José, da mulher consolada pelo cão das lágrimas) e amor arrebatado.

“Levantado do Chão”, romance de 1980
Um desejo incontrolável de contar. Especuladores, académicos e especialistas poderão dizer se os tópicos em questão espelham a personalidade de Saramago. Eu limito-me a lê-lo e a retirar um conforto dos seus enredos e da suas torrentes de palavras que, claro, também me desapontaram. Gostava de não ter lido A Caverna, alegoria piegas produzida no rescaldo do prémio. E se pensar em O Ensaio Sobre a Lucidez, O Homem Duplicado, Todos os Nomes – apesar da dimensão tanto utópica como romântica, nascida de um homem só –, nas próprias Intermitências, acaba por entendê-los como duplos baços do brilhantismo anterior. Como se esta obra literária proporcionasse os mesmos momentos de júbilo e desapontamento de uma relação pessoal. Como se os seus livros compusessem um corpo movido a narrativas, as personagens no papel de órgãos vitais, as palavras torrenciais fazendo as vezes de circulação sanguínea. Um corpo-companheiro com quem pudéssemos rir, reflectir, embarcar em impossibilidades, discutir. Com quem pudéssemos zangar-nos ou entusiasmar-nos na 25ª hora.
Caim, Hélder, Luis
A Viagem do Elefante mostra um autor empenhado em deixar mais uma marca de relevo, antes de deixar escrita a última frase. É quase uma novela, quase menos que um romance, que recupera o melhor ângulo através do qual Saramago olhou o mundo – as suas tragédias e vaidades pífias, que podem perfeitamente acabar em apoios para guarda-chuvas.
O livro foi publicado em 2008, ano em que começou a famosa crise. Dez anos depois, o brilho da Expo’98 já se tinha embaciado. A ponte tornou-se banal. O crescimento económico mirrou a olhos vistos e Santana Lopes continuou a andar por aí. Também ele, como Salomão, prossegue numa viagem sem fim à vista. O romance, ao qual o autor gostava de chamar conto por não ter espaço para o amor, voltou a fazer justiça à capacidade literária e metafórica do Nobel português, uma década depois das peripécias de Frankfurt e de milhares de homenagens, discursos e livros vendidos.
À saga de Salomão, seguiu-se outra reminiscência do Antigo Testamento: Caim. Irmão desavindo de Abel, com diferenças ainda mais profundas do que as de Hélder e Luis. O destino de Caim é por demais conhecido, mas Saramago decidiu recontá-lo, acabando por embrulhar-se numa daquelas polémicas vintage a que nunca se furtou. Vi-o debater o livro com outro homem de quem aprendi a gostar, o padre Carreira das Neves, figura de topo da Eucaristia Dominical na RTP e exegeta da bíblia dotado de humor refinado. A meu pedido, poucos anos mais tarde, leu uma passagem d’Os Maias para uma câmara de televisão, desmontando a empáfia do índex literário que uma facção católica ainda hoje se entretém em manter.
Analepse: Caim acabara de sair e ali estavam dois homens velhos, batendo-se pelas suas ideias, à vista de toda gente. Deus, suprema invenção do homem, na liça. E livros, claro, porque voltamos sempre a eles. Ao verbo, que estava lá no início. À Jangada de Pedra.
Do destino de Hélder e Luís sei pouco ou nada. Da última vez que falámos, já lá vão uns anos, Hélder trabalhava no Banco Espírito Santo, sinal de que o Livro nos assombra. E de que a sua vida terá mudado a sério, como quase todas. Como a minha. As mortes e os nascimentos. Os trabalhos e os livros. Os amores à Raimundo e os dentes cerrados. As pessoas e as mágoas e os objectos que ficam para trás.
O exemplar da História do Cerco de Lisboa que o meu pai me ofereceu está em parte incerta. Emprestei-o a alguém que nunca mo devolveu. Resta-me esperar que tenha provocado o mesmo efeito de encantamento e sobressalto. O relógio de bolso teve um destino mais ou menos semelhante, graças a um assalto domiciliário, daqueles com recolha de impressões digitais e tudo, como nos filmes. Como nos livros. Ambos os presentes estão perdidos para sempre. Tal como o meu pai, desde 1998. Euforia e luto. Fica a memória que tenho dele, no fundo é a única parte que até hoje se levantou do chão.














