Fevereiro traz invariavelmente o rebuliço das letras à Póvoa do Varzim que, a poucos dias de mais uma edição do Correntes D’Escritas, se veste a rigor para receber escritores e público que ali encontram um lugar de comunhão. Ouvir poesia pelas ruas da cidade, pelo mercado municipal onde as pescadeiras fazem pedidos específicos aos declamadores, entrar em exposições, concertos ou residências artísticas, passear pela Feira do Livro que este ano toma conta das galerias comerciais vizinhas do Cine-Teatro Garrett, palco deste convívio literário, são já atividades normais durante este curto e profícuo mês invernal, tanto para poveiros, que assumiram o festival como seu, como para os muitos visitantes dos vários pontos do país, bem recebidos por estas bandas.
Mas esta edição, que começou oficialmente no dia 16 e que prossegue até 27 de fevereiro, não é apenas mais uma, é a vigésima, marca redonda do festival literário mais antigo de Portugal. “Será o maior encontro destes 20 encontros”, antecipa o vice-presidente da Câmara Municipal da Póvoa do Varzim, Luís Diamantino, em conferência de imprensa. Os cerca de 140 escritores convidados fazem jus às suas palavras, número recorde no festival que se vai eternizando graças ao “ar de liberdade que aqui se respira” e ao passar de testemunho dos mais veteranos para os estreantes. E se há nomes sonantes no programa de 2019, como o de Hélia Correia, Gonçalo M. Tavares, Lídia Jorge, Valter Hugo Mãe, da cubana Karla Suárez, do Prémio Cervantes Sergio Ramírez, de Ignácio de Loyola Brandão, Luís Sepúlveda, João Tordo ou da primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras, Nélida Piñon, homenageada na revista Correntes d’Escritas 18, o de Onésimo Teotónio de Almeida é um dos raros casos que passou por todas as edições e um dos que mais estórias guarda destes 20 anos.
Foi Onésimo dos primeiros a levar os textos escritos para serem lidos nas suas intervenções, “por deformação profissional”, é Onésimo que encerra sempre a última mesa, momento mais que aguardado pelo público da casa, e será Onésimo a lançar, no próximo dia 22, sexta-feira, o livro Correntes D’Escritas & Correntes Descritas (Opera Omnia), com o testemunho de grande parte desses seus textos marcados pelo ritmo da oralidade. “Este livro foi escrito para ser ouvido”, relembra o próprio numa entrevista por escrito dada ao Observador, em tom próximo, característica de quem nasceu há 72 anos rodeado das águas azuis de São Miguel e vive há 47 do outro lado do seu rio Atlântico, em Providence, Rhode Island. “Estou sempre a um e-mail de distância”.
À boleia das Correntes, abordámos também o mais recente ensaio O Século dos Prodígios — A Ciência no Portugal da Expansão (2018, Quetzal), distinguido pela Fundação Calouste Gulbenkian com o Prémio História da Presença de Portugal no Mundo, revisitámos o discurso do último 10 de Junho que o próprio presidiu e despedimo-nos com um olhar otimista sobre este “simpático retângulo” da Europa que parece finalmente estar a despertar dos ressentimentos do passado, para se deixar descobrir pelo mundo.

“Correntes D’Escritas & Correntes Descritas”, o livro de Onésimo Teotónio Almeida que vai ser lançado na edição deste ano do encontro literário
Luís Diamantino, no prefácio em dueto do livro Correntes D’Escritas & Correntes Descritas, escreveu que “Há momentos difíceis de imaginar: as Correntes sem Onésimo”…
Ao contrário do que diz Luís Diamantino, as Correntes sem mim estariam onde estão hoje: ocupando um lugar de topo na cena literária nacional e mesmo lusófona. No mundo lusófono, só Paraty pode competir. Mais mediática, é claro, porque é todo o Brasil que lhe cai em cima. Inicialmente, eu posso ter ajudado a dar um certo tom às Correntes, mas isso foi apenas uma pequena ajuda. Hoje as Correntes têm uma energia própria, coletiva e generalizada.
E o que seria de Onésimo e das suas estórias sem as Correntes?
Eu sem as Correntes? Ora, eu teria perdido uma extraordinária experiência de contactar de perto com tanta, tanta gente, desde a magnífica equipa promotora, até ao público e aos escritores que participam. As Correntes têm o condão de fazer ressaltar o melhor das pessoas porque o ambiente é de facto contagiante. Pode parecer açucarado e pateta o que digo, mas acrescento sem rebuço que ao longo destes vinte anos até aos mais empedernidos espíritos ouvi comentários deste teor: “antes de cá vir, não acreditei que isto era como apregoavam”. Mas é. Portanto, sem as Correntes, quem teria perdido imenso teria sido eu.
Essas estórias estão reunidas agora no livro Correntes D’Escritas e Correntes Descritas, graças à sua “deformação profissional de gostar de levar sempre o texto escrito”. Como foi rever esses textos?
Primeiro, uma palavrita sobre a “deformação profissional”. Como nas mesas das Correntes cada um dispõe apenas de doze minutos de antena (e está bem), achei que, vindo de tão longe, numa viagem transatlântica, tinha de aproveitar ao máximo o meu tempo. Quando falamos de improviso, o tempo voa sem disso nos apercebermos. Escrever o texto garante-nos o aproveitamento máximo dos nossos minutos. Foi por isso que comecei a levar a minha intervenção previamente redigida, e cedo o hábito se generalizou entre os participantes. Claro que tenho consciência de se tratar de um texto para ser ouvido, por isso procuro embrulhar a ideia central a transmitir numa linguagem facilmente escutável e entremeada de estórias. Ouvir é diferente de ler. Ao reler esses textos, hesitei se valeria a pena publicá-los, justamente porque um texto escrito para ser ouvido não é um texto para ser lido. Tenho consciência do risco em que incorro ao reuni-los em volume. É pois importante lembrar uma vez mais o leitor de que este livro foi escrito para ser ouvido.
Nota alguma mudança na sua forma de ver o mundo, a partir desses textos?
Não creio. Quando se tem 72 anos, 20 não é nada. Aos 52, quando pela primeira vez fui às Correntes, já não estava em altura de grandes transformações na minha mundividência. Claro que deveria ter cuidado em dizer barbaridades destas. Estou sujeito a alguém se lembrar daquela piada que se contava do Presidente Américo Thomaz. Dizia-se que tinha sido um menino-prodígio, porque aos quatro anos já sabia o que sabe hoje. Com a idade, os seres humanos tendem a ficar mais céticos. Mas isso eu sempre fui, embora sem parecer. Um ceticismo ao nível do intelecto. No coração, fui sempre otimista. E ainda sou. Não mudei, apesar das cada vez mais cruéis razões contemporâneas para acreditar que estou errado.
O público do Correntes não só se habituou a ver o Onésimo encerrar a última mesa, como aguarda com grande expectativa esse momento. Que comunhão especial é esta que o Onésimo criou com o Correntes e que o faz regressar todos os anos à Póvoa para se reencontrar com este público?
Há anos que peço à organização para me retirar desse papel. Se fosse nervoso e dado a ansiedades, viveria aterrorizado antes desses momentos. Uma sala a abarrotar de público e o desejo de não o desapontar. A verdade é que, se me tomassem o pulso, verificariam que não vou para ali minimamente preocupado. Leio o texto que levo, escrito em Providence, glosando o tema que a organização envia para a mesa de que faço parte, e o resto não é comigo. Nunca procurei aquele papel e espero que um dia me poupem a ele. Desde sempre falei com autenticidade. Digo o que penso sem pretender encaixar opiniões pessoais numa grelha apertada do que se considera ou não politicamente correto. Porque, como há pouco afirmei, tenho consciência de que ouvir é muito diferente de ler, pois um ouvinte retém apenas 20% do que escuta, se tanto, procuro ser muito claro e usar uma pitada de humor para manter o público desperto. O importante é envolver a ideia central em estórias que a exemplifiquem, não vale a pena nos desdobrarmos em muitas ideias. Por isso escrevo como se falasse. Ao longo da vida, tenho notado que passados uns quantos anos as pessoas esquecem a ideia e lembram-se apenas das estórias que contámos.
E as estórias são um registo recorrente deste festival…
Parece-me que essa foi uma marca desde cedo associada às Correntes. Logo no primeiro encontro, o genial (e saudoso) João Ubaldo Ribeiro, um dos grandes escritores brasileiros de sempre, mais o Germano Almeida e o Manuel Rui, alinharam por esse registo, assim colando a ele as Correntes. É uma delícia estar na sala a ouvir conversadores, senhores do verbo, de tal calibre. Anos há em que aparece um Rubem Fonseca, um Ignacio Loyola Brandão, a confirmarem que dificilmente alguém bate os brasileiros na capacidade de encantar com as palavras e estórias, e então temos festa rija. Mas olhe que cada vez mais vou encontrando jovens autores lusos desengravatando o seu português (a expressão é de Vinicius de Moraes) e sendo capazes de prender o público falando verdades com graça.

Onésimo Teotónio Almeida: “Quando se emigra adulto, não é possível alterarmos a nossa personalidade cultural. Podemos, é claro, abrir os nossos horizontes”
A propósito do lançamento do seu mais recente livro, O Século dos Prodígios — A Ciência no Portugal da Expansão, disse numa entrevista recente que Portugal não soube contar a sua história. Que causas explicam essa incapacidade?
Eu citei um professor americano que um dia disse que os portugueses souberam descobrir metade do mundo mas não souberam contar a sua história. Claro que reconto esse dito porque reconheço a verdade nele contida. A importância da América do Norte na história mundial dos últimos duzentos anos – e sobretudo dos últimos cem – fez com que as atenções se desviassem do que anteriormente havia sido um grande feito: a aventura portuguesa pelo Atlântico Sul, desconhecido dos europeus que nem acreditavam que ele seria navegável, e mais a descoberta de que era possível contornar a África e chegar ao Índico, algo que ninguém na Europa sabia ainda. A história da ciência e da tecnologia é dominada pela historiografia anglo-americana e, em grande parte, porque alguns dos nossos melhores documentos nunca foram traduzidos (os Roteiros de D. João de Castro, por exemplo). Nunca o conhecimento do que ocorreu em Portugal entrou na narrativa da ciência moderna. Confesso que, quando se realizaram as nossas comemorações dos Descobrimentos, mais de uma vez alertei para a necessidade de se alterar esse estado de coisas, mas naquela altura em Portugal não havia entre os historiadores consciência da necessidade de se tornar a documentação referida acessível em inglês. As exceções só confirmaram a regra.
Do ponto de vista interno, há também uma certa insegurança na forma como nos posicionamos perante a nossa História. Ora exaltamos feitos num patriotismo febril, ora desprestigiamos essas mesmas conquistas, ou por uma humildade imposta que castra o mérito ou envergonhados pelas vítimas do nosso expansionismo. O que é que nos falta para nos conciliarmos com o passado e para, desprendidos dessas amarras, nos sabermos promover internacionalmente?
Sim, temos esses períodos de exaltação seguidos de baixas de tensão, alguma melancolia e também muita autoflagelação. Temos alguma dificuldade em distinguir patriotismo sadio de patrioteirismo e brio nacional de nacionalismo doentio. Não revelo segredo nenhum se acrescentar que temos mesmo um complexo de inferioridade que só é revelado em conversas privadas porque não fica bem assumi-lo publicamente. Foram séculos a acumulá-lo; foi-se sedimentando e não nos libertaremos dele facilmente. Todavia, a nova geração, a crescer já em contacto desempoeirado com o estrangeiro, tem vindo a desanuviar bastante (mas sei, de conhecimento empírico, que ele ainda lá ronda à volta) esse nevoeiro psicológico. Isso está a acontecer a vários níveis, desde o desporto até às ciências.
Sempre falou do sentimento de pertença que os portugueses emigrados sentem em relação ao seu país, inclusivamente aqueles que já nasceram fora de Portugal. O Onésimo está há mais de 40 anos nos EUA. Em certa medida, sempre vestiu a pele de estrangeiro: em São Miguel era o Onésimo do Pico da Pedra, nos Açores era o Onésimo de São Miguel, no Continente o Onésimo dos Açores, e nos EUA o Onésimo de Portugal. Precisou de atravessar o Atlântico para se sentir de facto, e finalmente, português?
Ena! Que montão de questões vêm contidas nessa sua pergunta! Deixe-me ver se alinho as respostas com algum nexo. Sim, estou há quase 47 anos nos EUA, mas vim com 25 e por isso formatado em português. Faz uma grande diferença. Nunca deixei de me sentir português. Costumo dizer que apenas alarguei fronteiras. Quando se emigra adulto, não é possível alterarmos a nossa personalidade cultural. Podemos, é claro, abrir os nossos horizontes. E creio que foi isso que se passou comigo, como se passa com tanta, tanta gente que conheço, portugueses ou de qualquer outra parte do mundo. Nunca me disseram isso de eu ter sido sempre estrangeiro e, de facto não é assim que me sinto. A paráfrase para que remete boa parte da sua pergunta tem a ver com o que eu entendo pelo carácter relacional da nossa identidade. Usamos, conscientemente ou não, o sentido da nossa identidade para nos diferenciarmos do outro.
De que lado do seu rio Atlântico se sente melhor?
Eu em Portugal estou em casa, como aliás também em Providence (estou a responder-lhe de um restaurante português em New Bedford). Estou constantemente lá e cá e isso ajuda a desenvolver esse sentimento. Quem vive sempre no seu país de berço não se apercebe de estar formatado e integrado na matriz cultural dele, mais ainda sem nunca de lá sair. Viajar para o estrangeiro apenas como turista também não dá para se sentir isso a sério. É preciso viver fora, ao menos por algum tempo. Há poucos meses, num debate em Portugal sobre identidade em que um membro do painel alardeou não se interessar por essa questão da identidade eu, sabendo que ele não tinha nenhuma experiência de viver no estrangeiro, contei aquela história do peixinho a nadar com o pai quando se cruzaram com um outro peixe a quem o peixe-pai perguntou: Que tal está a água? O outro respondeu: Hoje não está nada má. O peixinho então voltou-se para o pai e interrogou-o curioso: Pai, o que é água?
No discurso do 10 de Junho do ano passado, cerimónia à qual presidiu, referiu que “Portugal pode transformar-se numa ágora grega de encontro de culturas”. Essa poderá ser a grandeza da nação da qual andamos separados há séculos, que parece ter ficado perdida algures no tempo em que Garcia da Orta dizia que se aprendia mais num dia em Lisboa do que em 100 anos em Roma? Essa grandeza sempre esteve debaixo dos nossos olhos?
Nunca, mas nunca em quase meio-século de contacto com a comunicação social anglo-americana, vi Portugal tão na berlinda e com tão boa reputação. É a grande descoberta do Ocidente dos últimos cinco anos. Afinal ali, naquela finisterra da Eurásia, vive um país com montes de qualidades, e que até já deu cartas há quinhentos anos. Dá gosto ler e constatar que, finalmente de fora, reparam nas muitas coisas positivas que pululam nesse simpático retângulo, como gosto de referi-lo. É uma grande oportunidade para aproveitarmos esse descobrimento ao contrário: nós agora somos a Índia da Europa. Que não vem atrás da pimenta, mas de outras especiarias como o sol, a luz, a amenidade do clima e das gentes, a paz social e a serenidade que se respira (quem vem do exterior, claro). Os que nos visitam, aos poucos, descobrem também uma criatividade e uma riqueza cultural inesperadas. O importante será não nos quedarmos por aqui e continuarmos atraindo cada vez mais interesses e interessados. Vejo isso ser feito a vários níveis e por isso o que estou a dizer não é novidade para ninguém. Será apenas questão de grau, de se diversificar e intensificar o aproveitamento da atração estrangeira por um certo clima social, cultural e humano, para além do meteorológico.
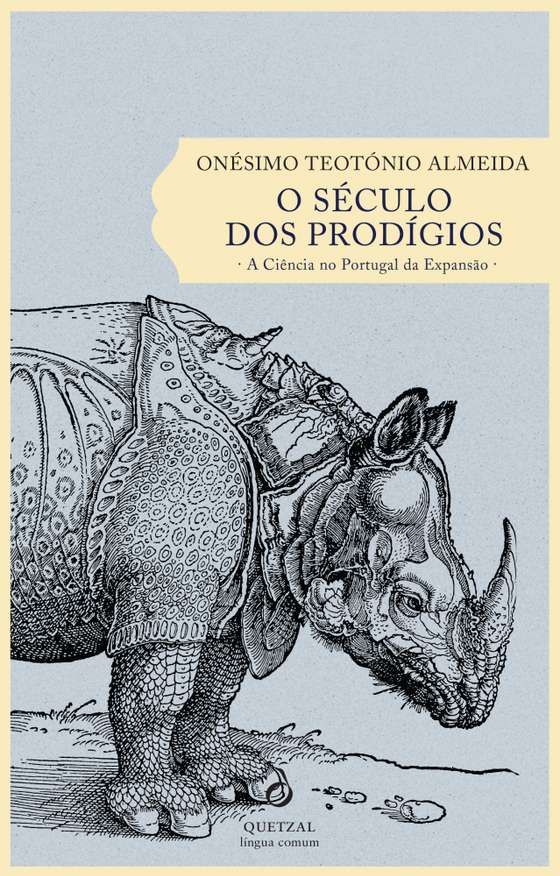
A capa de “O Século dos Prodígios: a Ciência no Portugal da Expansão”, edição da Quetzal
Nesse mesmo discurso do 10 de Junho também referiu que a modernidade euro-americana foi erguida em torno de um conjunto de valores que têm que prevalecer: liberdade, justiça, progresso, verdade e tolerância. Com Trump em jogo, a instabilidade na América do Sul, o impasse do Brexit, os fantasmas da cortina de ferro, é possível que esses valores prevaleçam? Não nos estaremos a aproximar perigosamente dos extremismos ideológicos que mancharam a nossa História recente?
Foi magnífica a resposta de Marcelo Rebelo de Sousa a Donald Trump quando, na receção ao Presidente da República na Casa Branca, este lhe perguntou se Cristiano Ronaldo iria concorrer contra ele nas próximas eleições: Portugal não é os EUA. Trump mereceu-a. Foi apenas uma resposta à altura da provocação. Mas o nosso Presidente da República tem plena consciência de que nada hoje é seguro. Na verdade, nunca imaginei ser possível acontecer o que tem acontecido nestes últimos dois anos. Conheço melhor a situação dos EUA e por isso prefiro ater-me a ela. Respeito as instituições. Não posso, porém, aceitar o comportamento de Trump e o mau exemplo de estadista que tem dado sobretudo aos jovens. Nunca esperei ver e ouvir o que tenho visto e ouvido. Felizmente que as instituições americanas são muito sólidas e têm-se aguentado. Mas ninguém hoje pode dizer desta água não beberei. As atuais instituições sócio-políticas portuguesas (não incluo aqui a família) têm apenas décadas. É bom estarmos de sobreaviso e pormos as barbas de molho. E quanto a esses valores da modernidade, há que nos agarrar a eles com unhas e dentes para que sejam salvaguardados. Por mais imperfeitas que sejam as estruturas que procuram materializá-los, importa reconhecer que as alternativas são catastróficas. O cenário não é nada bonito. O diálogo e o procedimento democrático constituem o único caminho saudável.
Na mesa deste ano das Correntes d’Escritas em que o Onésimo vai participar, o tema parte do verso de Sophia Mello Breyner Andresen “Esta é a madrugada que eu esperava”. Qual a madrugada que antevê para Portugal? E para o mundo?
Está a pedir-me que antecipe o que vou dizer. Com toda a sinceridade, ainda não escrevi o texto. Mas, ao receber há tempos da organização das Correntes o tema para a minha mesa (é sempre um verso), a ideia inicial foi a que ainda tenho em mente para desenvolver: parafrasear na negativa esse verso da grande Sophia. Não vou ser pessimista, pois não o sou por natureza. Mas não posso hoje repetir irrazoavelmente esse verso gerado no espírito daquela esplendorosa manhã de Abril. Sou fruto dos anos sessenta, década em que vivi uma utopia ingénua, mas bela. Cedo me apercebi da impossibilidade de ela ser concretizada. Mas nunca supus que os amanhãs que cantam (nunca fui marxista, estou apenas a usar a bela metáfora surgida no seio dele) estariam assim tão metidos num canto. Há que salvar desses valores o que é possível, mesmo que as nossas mãos não consigam deixar de sujar-se nas imperfeições. (É uma das poucas ideias que guardo de Sartre.) Não é pessimismo, é realismo. Esperançado e comprometido.
Correntes d’Escritas 2019, até 27 de fevereiro, Cine-Teatro Garrett, Rua José Malgueira, 1/15, Póvoa de Varzim; entrada gratuita
















